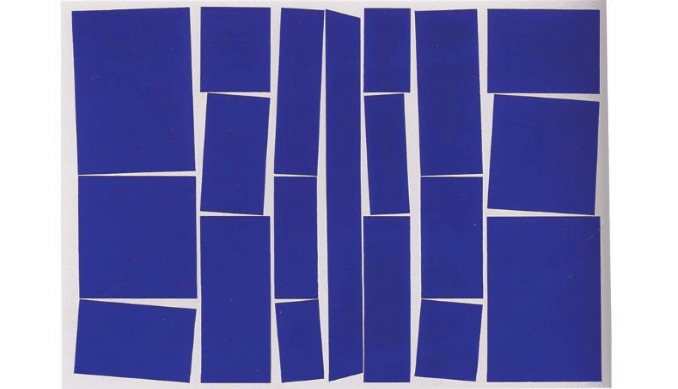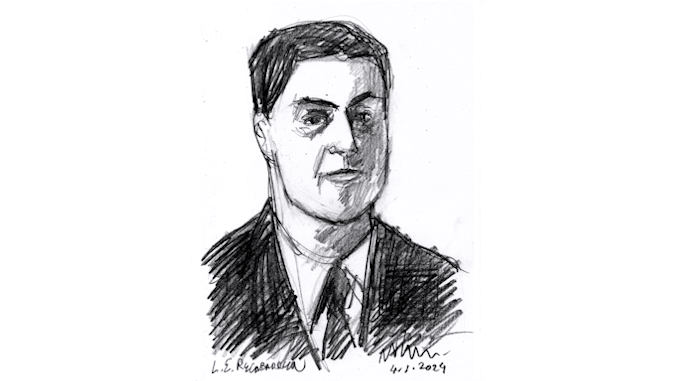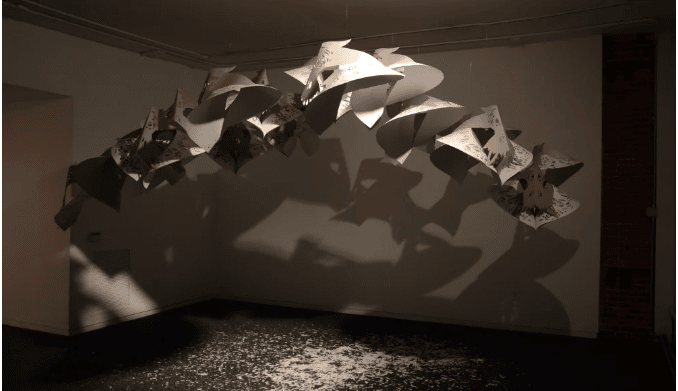Por GABRIEL VEZEIRO*
A segurança da saúde, que nunca foi totalmente apartada dos cálculos políticos, está a se tornar uma parte central das estratégias políticas
“A realidade é aterrorizante não por ser fermosa, mas porque ameaça tornar-se ela” (Patrick Zylberman).
A globalização apresentou um dilema crucial na configuração do poder e da autoridade no final do século XX e no início deste. O principal problema é a disjunção entre os limites territoriais do Estado e as pressões para protegê-lo, fechando o acesso a ele por inimigos externos e possíveis “indesejados”. Em contraste, o sistema capitalista global desterritorializado exige fronteiras abertas e livre circulação de mercadorias e “pessoas”.
É verdade que acreditar nesta última circulação requer fé na providência, somente válida para aqueles que agora permitem se queixar pietística ou hipocritamente movidos pelo caráter sagrado da vida, quando não fazemos nada além de construir um mundo de adentro e um de fora, de incluídos (os que tendo casa podem confinar) e excluídos (os que estando fora não têm qualquer perspectiva de isolamento). Um mundo em que as pessoas sucumbem na soleira das democracias representativas na travessia do Mediterrâneo ou na Faixa de Gaza, quer fugindo da guerra, quer da pobreza extrema, arriscando a morte pela vontade ou pelos interesses de outros, aqueles que não têm mais nada a perder e caminham em direção ao arame farpado, pela vileza, a contaminação tola ou por doenças que bem poderiam ser curadas perante a indiferença das farmacêuticas e dos Estados “civilizados”.
A segurança da saúde, que nunca foi totalmente a parte dos cálculos políticos, está a se tornar uma parte central das estratégias políticas estaduais e internacionais. O que Patrick Zylberman, professor emérito de história da saúde na Haut Conseil de la Santé, publicou no livro Tempêtes microbiennes: Essai sur la politique de sécurité sanitaire dans le monde transatlantique (Gallimard, 2013) foi verificado o primeiro trimestre de 2020. Assim, segundo Zylberman, o “mundo transatlântico” teria passado em termos de governança da saúde pública, de uma lógica de prevenção à preparação, como um novo regime de racionalidade.
O cenário distópico no que ninguém se reconhecerá olhando rostos, que podem ser cobertos com uma máscara sanitária, mas podem ser reconhecidos por dispositivos digitais que reconhecerão dados biológicos coletados compulsoriamente em qualquer “concentração”, seja por razões políticas ou simplesmente por convívio, afinidade ou amizade. O “distanciamento social” foi tornando-se assim como modelo de uma política sem política e de uma humanidade que dificilmente pode ser considerada humana na falta de relacionamentos sensíveis que transfiram e segurem a corporalidade, quer a acuidade de uma dor, quer a posse dum beijo.
O que Zylberman começava a enxergar é uma espécie de terror da saúde como instrumento para governar o que foi definido como o pior cenário. E concorda com essa lógica do pior quando já em 2005 a Organização Mundial da Saúde anunciava milhões de mortes para a gripe aviária, o que sugeria uma estratégia política que na altura os estados ainda não estavam preparados a assumir. Zylberman mostra que o dispositivo sugerido foi disposto em três eixos: a) construção, com base em um possível risco, de um cenário fictício, no qual os dados são apresentados de forma a favorecer comportamentos que permitem governar uma situação extrema; b) adoção da lógica do pior (“logique du pire”), como regime de racionalidade política; c) a organização abrangente do corpo de cidadãos de maneira a maximizar a adesão às instituições governamentais, produzindo um tipo de civilidade superlativa, na qual as obrigações impostas são apresentadas como prova de altruísmo e o cidadão não tem mais um direito à saúde (não apenas segurança da saúde, mas das condições que a tornam possível), porém torna-se legalmente vinculado à saúde (vide Riflessioni sulla peste de Giorgio Agambem).
A ciência é a chave para a análise de riscos, pelo menos os riscos que temos diante de nós agora, os de uma epidemia. Não há dúvida de que a ciência tem o método melhor para fazer previsões básicas alicerçadas em infecções anteriores. Os modelos matemáticos ajustados levaram em conta o experimento de infecções passadas com outros vírus. Mas o aumento generalizado de uma “razão da ameaça” não deixa de questionar a relação do Estado com o cidadão. O problema surge quando, após avaliar o risco de infecção e explorar estratégias para controlá-lo em contextos em que a imposição de medidas de saúde por coerção é politicamente arriscada, a ascensão de uma concepção “superlativa” de cidadania (o processo de precarização do público permite aos governos escamotear suas responsabilidades, transferindo o compromisso político de saída da crise para os indivíduos), imputando a cada um a culpa pelo fracasso, pilar da lógica neoliberal, em que o cidadão não mais desfruta apenas do direito à segurança da saúde, mas torna-se responsável por sua própria saúde e pelos outros (biossegurança), o que acaba configurando os limites operacionais dum novo regime de governança de riscos, diz Zylberman, mas sobre o qual seria necessário questionarmos ainda se a alegada mudança de uma razão probabilística para uma razão fictícia constitui ou não um aumento da racionalidade.
É mesmo apodítico que, além da situação de emergência ligada a um determinado vírus que no futuro pode dar lugar a outro, o que está em jogo é o desenho de um paradigma de governo cuja eficácia excede as formas de governo que fomos conhecendo.
Se já no declínio progressivo das ideologias e crenças políticas, as razões de segurança permitiram aos cidadãos aceitar restrições às liberdades que talvez antes não estavam dispostas a aceitar, os regulamentos de biossegurança mostram-se capazes de apresentar o confinamento, cessação absoluta de toda atividade política e de todas as relações sociais, e colocando no lugar o ethos do consumo digital como a mais alta forma de participação cívica. O discurso político agora é dominado por imagens e retóricas de cuidados à mente – a maioria das quais beneficia status quo e seus aliados corporativos. O resultado é uma apatia pública em relação à política – e uma ameaça real à liberdade, vítima da doutrina cínica segundo a qual os fins justificam os meios. Embora o combate ao terrorismo global forneceu uma nova razão de ser para os estados manterem seu lugar de privilégio, existem muitos outros motivos para solicitar proteção do estado, óbvio dizer para a resposta local ou global as ameaças ambientais ou à saúde. As questões-chave não são como o Estado fornece ou não, mas com e contra quem disciplina e pune, como faz isso e com que efeito.
Os próprios governos estão constantemente lembrando-nos que o chamado “distanciamento social” tornara-se o modelo de política que nos espera e que (como anunciaram os representantes de uma ideia-força cujos membros estão em flagrante conflito de interesses com a função que deveriam desempenhar), esse distanciamento será usado para substituir as relações humanas em toda parte pela sua inspeção, que suspeitam de contágio político, por dispositivos tecnológicos digitais que nem o nazifascismo nunca sonhou em ser capaz de impor.
É uma concepção integral dos destinos da sociedade humana numa perspectiva que, de muitas maneiras, parece ter tomado das religiões a ideia apocalíptica crepuscular dum fim do mundo, mas investido no desejo de “normalidade” (deveria ser chamada de “normalização”), para “deixar trabalhar”, quer os mecanismos normais da democracia, quer os especialistas, isto é, intensificando o que diz que um governo deve ter permissão para trabalhar em paz e julgá-lo no final do mandato, mas agora após o “estado de alarme”. Parece que agora somos todos vencedores e perdedores, para usar a conhecida terminologia de Walter Benjamin, no entanto, os políticos que se autoconvocados para a desobediência sucumbem ao discurso do “novo normal”.
Depois que a política foi substituída pela economia, ela também, para governar, terá que ser integrada ao novo paradigma de biopoder e de biossegurança, ao qual todas as outras demandas terão que ser sacrificadas. É legítimo perguntar se essa sociedade ainda pode ser definida como humana ou se a perda de relacionamentos sensíveis, de coletividade e ajuda mútua, de amizade e de amor pode realmente ser compensada por uma segurança de saúde abstrata e presumivelmente completamente fictícia. A segurança da saúde, anteriormente confinada ao campo da infrapolítica, entra diretamente no campo estratégico dos Estados.
O poder também pode ser usado indiretamente para moldar opiniões, atitudes e desejos e, assim, fabricar o que parece “consentimento” e, dessa forma, muito do que se tem a reivindicar ou contestar, não é tão facilmente visível. Numa sociedade em que poderosas agências sociais têm um forte interesse em comercializar tantos aspectos vida humana quanto possível e conseguiram em grande medida implementar esse interesse, não seria surpreendente se as pessoas pensassem que a existência de um “mercado livre” de cuidados de saúde, educação, transplante de órgãos ou a adoção de crianças era “natural” e não exigia mais comentário, escrutínio ou explicação. Como exatamente as relações de poder operam para gerar ou influenciar a formação de crenças, desejos e atitudes é uma questão complexa. Um “mercado livre” requer a intervenção constante de poderosas agências sociais para manter sua existência, mas em uma sociedade em que essa intervenção constante tem sido extremamente bem-sucedida as formas tradicionais, as crenças e desejos básicos das pessoas serão canalizados para que o “mercado” parecer natural. Se isso acontecer, agentes que têm um interesse particular em manter o mercado (por exemplo, empresas que se beneficiam da prestação de serviços de saúde privados) estarão em posição de apresentar o que de fato são simplesmente seus interesses privados como interesses universais. Porque nem a ciência é unânime e nem sempre avança por resultados cumulativos e lineares, como afirmado na teoria dos paradigmas de kuhn. Por isso, quando os políticos justificam suas medidas como se fossem as únicas possíveis, ditadas pela ciência, eles nos privam da discussão e do espírito científico e degradam a política. No entanto, também houve casos em que cientistas, entrando no campo da política, exigem renúncias ou propõem na mídia medidas para controlar a população, perdendo credibilidade científica e fazendo isso, talvez sem nem mesmo saber, ponta de lança da “lógica do pior”.
Numa era de anseio pelo controle hegemônico (por exemplo, a guerra ao terror dos EUA e seus aliados), as conclusões se concentram nos dilemas da responsabilidade democrática e em como novos espaços de resistência podem ser criados. O discurso sobre a normalidade democrática, agora também chamado de “novo normal”, sobre “deixar” os especialistas legitimamente eleitos trabalharem no tempo apropriado nos lembra o aforismo de Wittgenstein “sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar”. Dessa forma, foi possível atender ao paradoxo das organizações de esquerda, tradicionalmente acostumadas a reivindicar direitos e denunciar violações dos direitos fundamentais, mas que aceitam sem reservas limitações às liberdades decididas por decretos ministeriais sem qualquer legalidade, o que revela a fragilidade das democracias representativas, pobres em dádivas e sem presença nenhuma do velho ideal de magnânima prodigalidade livre de qualquer estratégia egoísta ou calculista. Até os políticos de esquerda, ou aqueles que se consideram, têm argumentado cada vez mais que uma verdadeira cultura de governo também deve saber escolher entre as preferências imediatas da multidão. Obviamente, o silêncio pode servir tanto para a inação mistificadora quanto para ser lido para produzir mudanças, anovar, para subverter e pôr em movimento a participação das pessoas na vida política, a própria essência da política.
Mas se o espírito apocalíptico, despido de toda escatologia, tem algo de positivo, é sua capacidade de ressuscitar sob a coberta do crânio esse ideal que se conecta diretamente a algo mais que o pessimismo letárgico, com o brilho da renovação radical e a revolta.
*Gabriel Vezeiro é editor da revista digital galega ollaparo.gal.