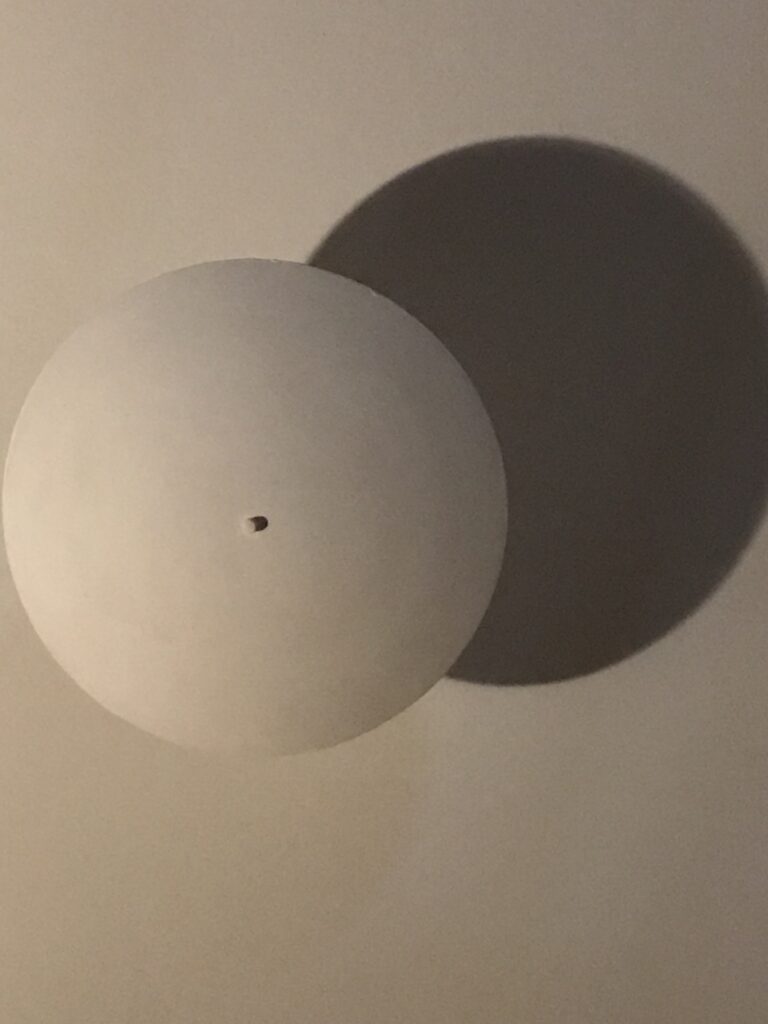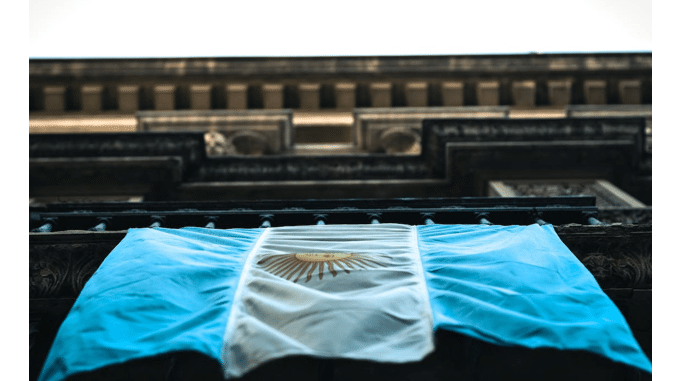Por DAVID BERLINER*
Mais e mais antropólogos têm se mostrado críticos aos valores neoliberais da competição acadêmica, incorporados ao ditame das avaliações
Termo de isenção: Nos últimos dias, tive um episódio de escrita. Por meses, nada saia do meu cérebro. Eu vinha ensinando online e me ocupando com os alunos e com a família. De repente, senti a necessidade de rabiscar algo. Hesitei em compartilhá-lo. Quem se interessaria? Quem se importaria com isso agora, quando estamos no meio de uma pandemia, com os olhos cansados de tanto tempo em frente às telas, carregados de incerteza e desamparo? Não consigo fingir. Não estou seguro de que possa ter energia para discutir ideias. Afinal, não precisaríamos descansar e preservar forças para os meses que ainda virão?
Bom, eu não pude detê-lo. E isso também faz parte da experiência pandêmica. Já ouvi tantos colegas compartilharem seu desejo de construir algo novo, passada essa situação terrível que afeta a todos… Eu também sonho com outro mundo depois. Espero que possamos pensar juntos para criar comunidades acadêmicas melhores, e que não nos atiremos no velho negócio como sempre.
“Como o homem moderno se sente ao mesmo tempo como o vendedor e a mercadoria a ser vendida no mercado, sua autoestima depende de condições que escapam a seu controle. Se ele tiver sucesso, será ‘valioso’; se não, imprestável. O grau de insegurança daí resultante dificilmente poderá ser exagerado. Se a pessoa acha que seu próprio valor não é constituído primordialmente por suas qualidades humanas, e sim pelo seu sucesso em um mercado competitivo com condições em constante modificação, sua autoestima provavelmente será pouco sólida e precisará constantemente de ser confirmada pelas outras pessoas. Por isso, a pessoa é compelida a lutar incessantemente pelo sucesso, e qualquer retrocesso é uma grave ameaça à sua estima própria: o resultado disso são sentimentos de incapacidade, insegurança e inferioridade”. (Erich Fromm. [1947] 1960. Análise do Homem. Rio de Janeiro: Zahar. Tradução de Octávio Alves Velho[1], p. 69.)
A questão do privilégio é amplamente discutida nos círculos antropológicos hoje. Quem representa quem? Quem tem acesso ao quê? Essas são questões muito saudáveis que, de uma perspectiva belga francófona, muitas vezes ainda parecem a anos-luz de distância (já que aqui o debate na academia sobre diversidade e sobre currículos “descolonizados” ainda é escasso, infelizmente). No entanto, um dos aspectos dessas questões é quase unanimemente desconsiderado: o da atual hegemonia anglo-americana na produção do conhecimento antropológico. Digo “anglo-americano” porque a língua inglesa se tornou dominante em nossa disciplina. Mas essa especificidade também tem a ver com a visibilidade e a atratividade das infraestruturas acadêmicas, quais sejam: universidades, associações científicas, revistas e editoras universitárias ou não, redes de difusão etc; em especial no que respeita àquelas que têm sede nos Estados Unidos e, em menor medida, no Reino Unido. E deixem-me ser claro: eu sei que sou parte do problema (algo que discuto a seguir). Tenho amigos que me são caros e colegas atenciosos, com quem gosto de intercambiar, aprender e colaborar, e que trabalham exatamente nesses ambientes. Eu também estou ciente de que este texto será lido de formas diferentes, a depender de cada bolha acadêmica. Este breve artigo de opinião (não sou especialista em relações de poder globalizadas no ensino superior, tampouco em Gramsci) não se reporta a indivíduos. Ele aponta para um sistema de privilégios que simplesmente não diz seu nome.
É, evidentemente, um truísmo dizer que a antropologia está dominada por acadêmicos formados em — e produtores de conhecimento nas — universidades americanas e britânicas. Não obstante, essas instituições são plurais e desiguais entre si. Alguns poucos fazem parte de uma elite; muitos outros ficam pela periferia. Meus colegas que trabalham nesses espaços acadêmicos repetidamente chamaram minha atenção para o fato de que apenas alguns campi anglo-americanos estão no topo da pirâmide (enquanto os demais se desdobram como podem), embora às vezes seja mais fácil se inserir na “cúpula” quando se vem de centros de pesquisa europeus ou asiáticos altamente considerados, do que quando se vem das universidades anglo-americanas periféricas. Estou bastante ciente dessa complexa diversidade nacional e das desigualdades internas. Ainda assim, vistos do exterior, alguns fatos são incontornáveis. A maioria dos periódicos de antropologia do “topo do ranking” é editada nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Partindo do Google Scholar Metrics, por exemplo, dos 20 primeiros, só Social Anthropology/Anthropologie Sociale e Ethnos não são aí publicados. O mesmo se pode dizer das “melhores” escolas (London School of Economics, Harvard, Cambridge, Chicago, Universidade da Califórnia, e assim por diante), na mesma medida como importantes associações antropológicas estão nelas baseadas. Essas instituições e organizações gozam de respeito eminente, alinhando uma história extensa com ancestrais famosos. Os periódicos têm conselhos editoriais de alta qualidade e o processo de revisão de artigos sempre me pareceu rigoroso e notavelmente bem administrado. Sem sombra de dúvida, seu reconhecimento é de todo merecido. No entanto, pessoalmente, não creio que aquilo que é produzido nesses centros de conhecimento e publicado por seus veículos seja intrinsecamente superior ao de qualquer outro centro no mundo. Parece-me igualmente estimulante ler e citar artigos tanto de publicações amplamente aclamadas quanto de algumas outras (infelizmente) obscuras publicações regionais. O que os primeiros têm e os últimos não é uma visibilidade e atratividade muito marcadas, na medida em que os periódicos anglo-americanos vêm se tornando cada vez mais representativos “da disciplina”.
Isso me leva à questão central do meu questionamento. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, esse sistema é imposto aos acadêmicos, que têm pouca escolha senão segui-lo para satisfazer sua paixão pela pesquisa. American Ethnologist e JRAI (Journal of the Royal Anthropological Institute), entre muitos outros, são seus periódicos locais. E eu me compadeço de que precisem manobrar em um espaço tão alienante de rankings e avaliações, no qual o acesso aos veículos de maior prestígio é critério essencial para obter os melhores empregos nas melhores universidades.
Mais e mais antropólogos têm se mostrado críticos aos valores neoliberais da competição acadêmica, incorporados ao ditame das avaliações: a temporalidade da urgência, o uso de métricas, a busca por financiamento, a precariedade dos cargos, assim como os muitos encargos uma vez “dentro” da universidade. A isso agreguem-se as condições patogênicas inerentes à prática da pesquisa: a corrida por reconhecimento, a divisão por castas e as desigualdades daí decorrentes, o isolamento. Um coquetel tóxico que atinge principalmente os mais vulneráveis (doutorandos, pós-doutorandos, professores auxiliares, essa “bucha de canhão” da instituição). Um livro recente de Robert Borofksy, disponível para livre acesso (e que me foi recomendado por Doug Falen), trata da busca profissional por status individual no âmbito da antropologia americana. Além de extremamente valioso, sua análise certamente pode ser extrapolada para mais além desse contexto.
É igualmente desalentador pensar que algumas ideias sejam consideradas “interessantes” e chamem a atenção mais que tudo por conta do seu lugar de publicação, sua circulação internacional e sua sacrossanta coleção de citações. O que me parece mais preocupante é que essas mesmas infraestruturas acadêmicas tenham se tornado o Santo Graal buscado por tantos antropólogos ao redor do mundo. Foi posto em movimento um desejo mimético globalizado de obtenção de reconhecimento. E estou falando sobre o meu próprio caso, o de um privilegiado professor permanente de uma universidade europeia. É assim que a história acontece. Primeiro, é preciso (tentar) ser publicado pelas revistas anglo-americanas — American Anthropologist, Current Anthropology, JRAI e daí por diante — onde os “debates disciplinares importantes” estão ocorrendo. Supõe-se que esses veículos sejam neutros quando, na realidade, incorporam tradições locais de pesquisa que foram globalizadas e que emanam de centros de poder. Só depois é que você pode enviar seus artigos para seus primos belgas, italianos ou sul-coreanos (que também têm comitês editoriais sérios). Por que isso? Eu acho que todos nós sabemos a resposta. Essa é a forma de conseguir um emprego e de estar “dentro” dos debates antropológicos em voga. Não existe uma regra explícita sobre isso. Pelo contrário, está se tornando um habitus compartilhado que nem precisa ser dito.
No mesmo rumo, os acadêmicos são fortemente encorajados a fazer um pós-doutorado em uma dessas instituições anglo-americanas. Quando comecei meu doutorado em Bruxelas, reconheci bem prontamente as condutas necessárias à sobrevivência. Desde o início, minha baixa autoestima e o medo de “não encontrar um emprego permanente” funcionaram como gatilhos doentios.
Aquele habitus é aprendido desde bem cedo por muitos alunos de doutorado e jovens pesquisadores. Ao observar e participar, sem a necessidade de uma pedagogia explícita, os novatos internalizam as regras implícitas de seu ambiente profissional: um ethos competitivo que enfatiza façanhas (ou seja, publicar nas melhores revistas, ter lido tudo, internacionalizar-se, vender-se bem e assim por diante), glorificando a ausência de fronteiras entre a vida científica e a privada, e mantendo silêncio sobre emoções negativas e eventuais abalos da saúde mental. Infelizmente, a maioria dos ecossistemas acadêmicos não dispõe da capacidade de “sustentar”, tão cara a Winnicott, essa de acolher os anseios dos pesquisadores e alimentar sua criatividade. Imersos nessa zona cinzenta chamada de “paixão intelectual”, a maioria deles aceita a toxicidade potencial do ambiente que os mantém, como uma criança que se adapta a uma mãe deprimida. Logo estarão se flagelando para atender às demandas do ecossistema, ao mesmo tempo seu protetor e seu torturador. A instituição vai sobreviver. Sem dúvida, muitos de nós encontramos aí o perfume dos ambientes decadentes que já conhecemos antes.
E quando você não está dentro dos arquipélagos legitimados de produção de conhecimento — e embora eu veja a Bélgica francófona como um ambiente acadêmico privilegiado, ela continua sendo periférica frente ao reino anglo-americano—, você precisa se internacionalizar. Para mim, jovem pesquisador tentando escapar do nepotismo local por então galopante, as infraestruturas acadêmicas anglo-americanas constituíam um recurso de acesso social. Essas infraestruturas prometiam principalmente uma abertura, e me davam acesso a novos e grandes continentes antropológicos. Depois de alguns anos no Reino Unido, recebi uma bolsa de pós-doutorado nos Estados Unidos em uma grande instituição. Claramente, isso me serviu para impressionar meu pai — e não como um grande sucesso —, como também para obter o famoso visto de “pós-doutorado nos Estados Unidos”. Lá, aprendi ainda mais sobre competição e me senti extremamente isolado. No entanto, trabalhei como um burro para adquirir outro Graal: um artigo na American Ethnologist. Essa publicação, que exigiu uma enorme energia linguística e um certo grau de plasticidade teórico-paradigmática. Rendeu-me muitos “com esse trabalho, você vai conseguir uma posição!”, e, de fato, finalmente consegui um emprego. Anos de ansiedade sobre meu desempenho finalmente foram recompensados.
Mas agora, quando eventualmente é minha vez de participar de comitês de seleção, fico impressionado com a dimensão que as revistas e experiências acadêmicas anglo-americanas recebem como ativos quase inescapáveis para o processo de contratação e concessão de bolsas na Bélgica. Mais uma vez, não há nenhuma regra explicitamente formulada aqui. Esse é um fenômeno recente, principalmente para quem estudou no exterior, no mundo anglo-americano. Eu mesmo me vi presa desse reflexo de “preencher o quadradinho anglo-americano” ao avaliar as inscrições, como se possuir tais troféus fosse um sinal indiscutível de qualidade. Certamente, publicações em veículos “locais” ainda são essenciais para se conseguir um emprego em muitas universidades, como o são nos Estados Unidos e no Reino Unido. No entanto, é como se as referências e bolsas anglo-americanas — que são, claro, bastante relevantes para avaliar a criatividade e a capacidade de pesquisa — tivessem se tornado absolutamente indispensáveis para as muitas outras culturas acadêmicas. Seria esse um novo padrão? Creio que sim, mas o leitor não deve hesitar em contar também as suas experiências.
Exemplos como esses suscitam questões. Em primeiro lugar, sobre a diversidade das tradições antropológicas. As escolas e revistas americanas e britânicas têm suas próprias inclinações teóricas. Para ser um deles, o aspirante pode ser tentado a adotar o código dos seus paradigmas. Lembro-me de um artigo submetido a uma revista norte-americana cujo editor insistiu que eu inventasse um título que me soou terrivelmente pós-moderno, mas que estava em linha com o que eles vinham publicando. A já globalizada “escrita da cultura”[2] é, sem dúvida, um exemplo da atração exercida pelos paradigmas anglo-americanos, mesmo que ― observo eu ― persista ainda uma pluralidade não desprezível.
Quais são os impactos múltiplos desses modelos dominantes sobre outras comunidades científicas? Estariam os antropólogos preocupados com a heterogeneidade cultural tão apenas para descuidarem da diversidade científica? Ainda mais importante: como essa hegemonia acadêmica contribui para a universalização de uma agenda neoliberal de produção e avaliação de conhecimento?
Contudo, como mencionei logo antes, eu mesmo lancei mão dos recursos anglo-americanos para escapar das formas locais de nepotismo. Por outro lado, vejo agora que tais recursos estão se tornando globalizados ao ponto de ficar difícil existir academicamente fora deles.
É óbvio que deve haver um equilíbrio. E isso pode ser tudo, menos simples. E estou me esforçando por pintar um quadro matizado da situação. Ainda assim, vamos fantasiar por um instante. No mundo cosmopolita da antropologia com que sonho, estudantes de doutorado nos Estados Unidos e no Reino Unido podem fazer um pós-doutorado em universidades belgas, italianas e sul-coreanas. Eles, assim como acadêmicos já estabelecidos, publicariam em especial nesses locais não anglo-americanos, enquanto todos teriam acesso aos centros de excelência anglo-americanos. Não seriam essas as virtudes do décentrement, das quais os antropólogos são os maiores defensores? No meu planeta de sonho, onde todas as revistas científicas seriam de acesso livre [não pago] e onde não haveria doutores, pós-docs, pesquisadores e adjuntos em situações de precariedade, os acadêmicos substituiriam a nossa política da competição por uma ética do cuidado, sempre prezando por uma crítica sardônica às métricas e às demais artimanhas da avaliação neoliberal. Em uma reflexão comovente sobre o que teria sido mais significativo em sua vida científica, o falecido Jan Blommaert, que infelizmente não cheguei a conhecer, escreveu: “O que não importava era a competição e seus atributos de concorrência comportamental e relacional, o desejo ou ânsia de ser o melhor, de vencer competições, de ser visto como o campeão, de proceder taticamente, de forjar alianças estratégicas e tudo o mais”.
Em tal mundo, as ideias seriam atraentes não pelo lugar onde são desenvolvidas, mas por sua riqueza heurística intrínseca. Da mesma forma, os candidatos a um cargo seriam selecionados com base nos seus textos, sem que se saiba em que periódicos específicos foram publicados, valorizando sua pluralidade linguística. Digo “sonho”, porque o capitalismo acadêmico é estrutural e sabe jogar com nossas feridas narcísicas e nossa necessidade de reconhecimento. Estamos lidando aqui com valores viscerais relacionados a formas simbólicas e econômicas de lucro. E não há respostas simples, porque os contextos nacionais são muito diferentes uns dos outros, na mesma medida em que as mudanças teriam que ser tanto políticas quanto comportamentais.
Despendi uma energia considerável no intento de capitalizar reconhecimento por meio das infraestruturas anglo-americanas de produção de conhecimento, e ainda o faço. No entanto, se sou parte do problema, posso ser parte da solução. Iniciativas individuais são importantes (especialmente aquelas de acadêmicos anglo-americanos estabelecidos). É preciso ter vozes que falem alto no terreno, declarando, por exemplo, “de agora em diante, vou publicar apenas trabalhos de acesso livre”, e decidir romper com o sistema, enquanto desafiamos a globalização de um modelo hegemônico nos mais diversos níveis – por exemplo, criando fóruns de intercâmbio em associações científicas (como a EASA – European Association of Social Anthropologists), desmistificando-a junto aos nossos colegas e alunos, sensibilizando nossas autoridades e resistindo em citarmos os autores que bem entendamos nos artigos que submetemos, sejam eles anglo-americanos ou não. No entanto, acadêmicos isolados não terão poder por si só. Eles precisam ser apoiados por suas universidades, agências científicas nacionais e comunidades antropológicas críticas. Só a conjunção desses níveis é que, a meu ver, permitiria deter a máquina dentro da qual hoje nos alienamos.
*David Berliner é professor de antropologia da Université Libre de Bruxelles.
Tradução: Ricardo Cavalcanti-Schiel.
Publicado originalmente no portal AllegraLab (Anthropology for Radical Optimism).
Notas do tradutor
[1] Trata-se dos pai dos antropólogos brasileiros Otávio e Gilberto Velho.
[2] A expressão original do autor se remete ao famoso ― reservo-me o direito de não chamá-lo de “clássico” ― livro organizado por James Clifford e George Marcus, Writing culture. Preferi aqui fazer jus à tradução brasileira publicada pela Editora da UFRJ, e utilizar a mesma expressão usada para o título dessa edição.