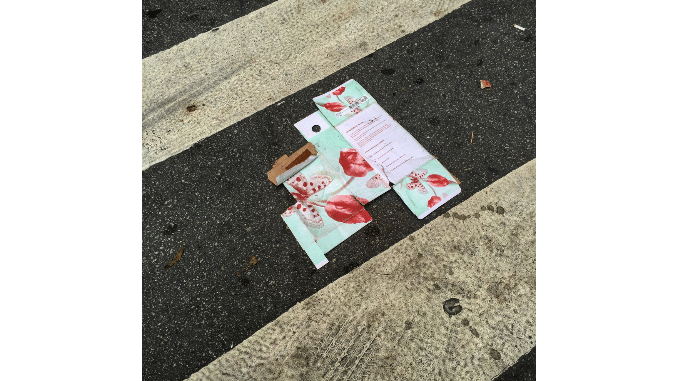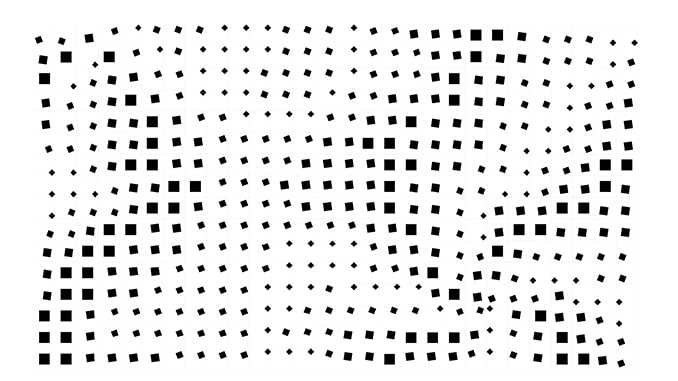Por MARILENA CHAUI*
Como explicar que o homem, o único naturalmente feito para viver livremente, se sujeita a um jugo que nem mesmo os animais aceitariam.
1.
Teeteto cavou a terra para plantar. Encontrou um tesouro. Sócrates foi ao mercado comprar legumes. Encontrou Cálias, que lhe pagou uma dívida. O navio se dirigia a Egina. Encontrou uma tempestade e derivou rumo a Atenas.
Esses exemplos são clássicos na história da filosofia: são os que Aristóteles oferece quando examina as ideias de contingência e acaso. Contingência e acaso, explica o filósofo, não são acontecimentos sem causa. São acontecimentos produzidos pelo encontro de duas séries causais independentes. Assim, o primeiro nome da contingência e do acaso é “encontro e encontro inesperado”. Ou, como explica Aristóteles, a causa do acontecimento é acidental, pois produz um efeito que não estava previsto na causalidade de cada uma das séries, de tal maneira que certo fim é realizado sem que estivesse previsto pelos agentes ou sem que estivesse presente nos meios, pois estes não visavam tal fim e sim um outro: Teeteto foi plantar e não buscar um tesouro; Sócrates foi comprar legumes e não receber uma dívida; o navio se dirigia para Egina e não para Atenas.
Por que “encontro”? Porque o acontecimento não é incausado e sim o cruzamento de duas séries causais independentes. Por que “inesperado”? Porque a marca da contingência e do acaso é a indeterminação, pois tanto as causas que o produziram poderiam não ter acontecido (se Teeteto estivesse com febre, talvez não fosse plantar; se Sócrates tivesse encontrado um amigo, talvez não tivesse ido ao mercado; se a carga não estivesse embarcada, talvez o navio não saísse do porto), como também nada assegura que o fim vai ser realizado, uma vez que a finalidade da ação decidida pelo agente nada tem a ver com o fim realizado (em vez de favas, Teeteto colheu um tesouro; em vez de legumes, Sócrates obteve o pagamento da dívida, em vez de chegar a Egina, o navio deu em Atenas). Por se tratar de um encontro inesperado, a contingência é o que faz acontecer algo “novo” no mundo, isto é, algo que a causalidade natural não faria acontecer regular e previsivelmente.
Ao contrário do acaso e da contingência, o necessário é o que acontece sempre e não pode deixar de acontecer como acontece; assim como o impossível é o que não acontece nunca e não pode jamais acontecer – é necessário que água umedeça, o fogo aqueça, o óleo alimente a chama, a pedra caia; é impossível que esses efeitos não se produzam e que a água queime, o fogo umedeça, que o verão não ocorra entre a primavera e o outono.
Quando um acontecimento natural é contrário à lei da causalidade necessária, diz-se que foi produzido por uma ação ou uma causa contrária à natureza da coisa e essa causa contrária ou contra-natureza chama-se violência. É por uma ação violenta que uma pedra irá para o alto, pois é de sua natureza, vir para baixo. Necessário e impossível se referem, portanto, à ação regular e normal das causas naturais, enquanto a violência se refere à intervenção de uma causa não natural numa causalidade natural. Essa causa violência é a técnica, isto é, a ação humana que interfere no curso natural das coisas.
À distância do acaso e da contingência e situado entre o necessário e o impossível, está o possível, isto é, aquilo que, como o contingente e o acaso, pode ou não acontecer, mas que, diferentemente da contingência e do acaso, resultantes do mero encontro, o possível é aquilo que acontece se houver um agente com o poder para fazê-lo acontecer. Assim, o possível é o que está em poder de um agente fazer ou não acontecer. Esse agente pode ser a técnica que usa as causas naturais de maneira a alterar seus resultados.
Mas esse agente pode ser também a vontade livre com o poder para escolher entre alternativas contrárias e para deliberar sobre o sentido, o curso e a finalidade de uma ação. Embora o possível seja, como o contingente, aquilo que pode ou não acontecer, no contingente o acontecimento se dá independentemente da deliberação do agente e da finalidade que o agente dera à sua ação, enquanto no possível o acontecimento resulta da escolha deliberada feita pelo agente, que avalia os meios e fins de sua ação.
Eis porque, desde Aristóteles, aprendemos a distinguir entre o contingente e o possível dizendo que o primeiro não está em nosso poder e que o segundo é exatamente o que está em nosso poder. Enfim, embora a técnica e a ação livre da vontade façam parte do possível, a diferença entre elas está em que o efeito da ação técnica é um objeto diferente do próprio agente, algo que existe separadamente dele como produto, enquanto na ação livre o efeito é a própria ação, é o próprio agente agindo, de sorte que não se pode separar o agente, a ação e o efeito da ação. Somente neste segundo caso pode-se falar em ética e política, isto é, em ações que não se distinguem e não se separam do próprio agente.
Assim, se herdamos de Aristóteles a ideia do acaso como encontro, dele também herdamos a ideia da liberdade da vontade como a ação que está em nosso poder. Por isso Aristóteles afirma que não deliberamos sobre aquilo que não temos o poder de fazer acontecer, isto é, não deliberamos sobre o necessário, o impossível e o contingente, mas somente sobre o possível. A tradição filosófica nos deixa, portanto, como herança a distinção entre o que não está em nosso poder (o acaso, o necessário e o impossível) e o que está em nosso poder (o possível).
Ora, só há possível quando há deliberação e escolha e por isso só se pode falar propriamente no possível para as ações humanas. Ora, no caso de nossas ações, o necessário e o impossível não se referem apenas ao que escapa de nosso poder porque são o que sempre tem que acontecer ou o que nunca pode acontecer – isto é, o necessário é a sequência imutável de séries causais e de séries de efeitos, e o impossível é a ausência de tais séries de causas e efeitos –, mas se referem ainda ao tempo. O passado enquanto passado é necessário e por isso não está em nosso poder, e o futuro enquanto futuro é contingente, isto é, pode ou não acontecer desta ou daquela maneira. À necessidade do passado se contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da indeterminação do futuro.
O possível está articulado ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do futuro que, em si mesmo, é contingente, isto é poderá ser desta ou daquela maneira, dependendo de nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, no entanto, que feita a escolha entre duas alternativas contrárias e realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se transforma num passado necessário, de tal maneira que nossa ação determina o curso do tempo. É essa passagem do contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação humana um peso incalculável, pois um possível livremente realizado se torna um necessário instituído.
O agente ético e político encontra-se, portanto, encravado entre dois poderes exteriores que o determinam de maneira exatamente oposta: a necessidade o obriga a seguir leis (naturais) e regras (históricas) sobre as quais nada pode; a contingência o força em direções contrárias imprevisíveis. Mais do que isso, no caso da ética e da política e, portanto da história, a necessidade foi produzida pela própria ação livre do agente que transformou um contingente num possível e ao realizar esse possível o transformou em necessário. Eis porque, ao descrever o agente ético e político virtuoso, isto é, livre e responsável, Aristóteles afirmará que a virtude perfeita é a prudência e o homem perfeitamente virtuoso é o prudente, isto é, aquele que olha para frente e para trás, examina o passado e o futuro, pesa as consequências da ação porque estas se tornarão necessárias e terão efeitos sobre ele e sobre os outros. O prudente é aquele que enfrenta o problema maior posto pela ação livre, isto é, a indeterminação do tempo presente, a necessidade do tempo passado e a contingência do tempo futuro.
É essa relação essencial com o tempo que leva Aristóteles, finalmente, a distinguir o acaso na natureza e o acaso nas ações humanas. Na natureza, o acaso é apenas o encontro acidental de séries causais independentes que produzem um fim não previsto e um acontecimento imprevisto. Nas ações humanas, porém, o acaso recebe o nome de fortuna ou a sorte, que, explica Aristóteles “é uma causa por acidente daquele que escolhe normalmente segundo uma escolha refletida em vista de um fim” e como as causa vindas da fortuna são indeterminadas “a fortuna é impenetrável ao cálculo do homem”. O possível é o campo onde se exerce nossa vontade e nossa liberdade. A fortuna é o espaço-tempo do imprevisível no qual as coisas nos acontecem sem que possamos ter outra atitude senão a da recepção do acontecimento que cai sobre nós. A ética e a política pertencem, assim, ao campo do possível, a natureza, ao do necessário, e a história, porque campo de inumeráveis causalidades simultâneas tende sempre a ser vista como o campo da fortuna, isto é, da contingência, pois esta traz a marca de tudo quanto há de incontrolável e de imponderável no tempo.
A tradição consagrou uma imagem da Fortuna que se cristalizou numa iconografia muito precisa: ela é representada por uma jovem belíssima, de olhos vendados, que traz numa das mãos o globo e na outra uma cornucópia; traz na cintura um cinto com os signos do zodíaco; vem com um manto agitado pelo vento; tem asas nos pés e pisa sobre a roda que faz girar com os pés. Essa imagem nos oferece a volúvel e inconstante Fortuna, senhora do mundo (o globo), senhora de nossa sina (o zodíaco), dispensadora de bens (a cornucópia), agitada como a tempestade (o manto enfunado), inconstante (as asas nos pés), cega ou indiferente aos pedidos dos homens (a venda nos olhos) e justa (a roda que eleva o vencido e rebaixa o vencedor).
Todavia, há nessa imagem um aspecto de grande relevância porque é nele que virá se inscrever a possibilidade de uma ação ética e política capaz de vencer a própria Fortuna: as asas nos pés. Embora essas asas sirvam para assinalar que a Fortuna é passageira, inconstante, caprichosa, volúvel e efêmera, essas mesmas asas indicam que ela age porque tem em seu favor o tempo que corre celeremente. Ora, esse tempo que corre velozmente não é o tempo da natureza, que é repetitivo e regular; nem é o tempo do destino ou da providência divina, que é um tempo lento e longo de realização de um plano divino. O tempo célere e efêmero, de que se vale a Fortuna, é o kairós: o instante oportuno ou a ocasião oportuna, isto é, aquele instante fugidio que devemos saber agarrar se quisermos agir e se quisermos vencer a Fortuna em seu próprio terreno. O kairós é o tempo da ação adequada, o instante da iniciativa, quando um agente virtuoso toma sua vida em suas mãos contra o assédio, a sedução e as ilusões da Fortuna.
Sob essa perspectiva, a Renascença definirá a virtude por sua oposição à fortuna, pensando num enfrentamento entre duas forças temporais: toma a fortuna como a força da indeterminação das situações e dos acontecimentos, no ponto de partida e de chegada, e a ela contrapõe a virtude como o poder para determinar o indeterminado, para deliberar e escolher os possíveis. A fortuna deixa de ser a exterioridade bruta que se abate sobre os homens para tornar-se a indeterminação e a adversidade que exigem a ação forte do virtuoso. É dessa maneira que se dá a retomada da relação virtude-fortuna por Maquiavel, Montaigne e Bacon, em conformidade com o adágio “o homem é arquiteto de sua própria fortuna”.
Resta ainda um último traço para completar nosso quadro. A prudência foi prezada como a virtude capaz de não sucumbir à fortuna, porque o prudente á aquele que tem os olhos voltados para o passado e para o futuro para escolher o possível no presente. No entanto, ao lado da valorização da prudência, outra virtude também foi colocada em oposição ao poderio da fortuna: a “amizade”. Diante da fortuna como encontro que pode ser ora bom ora mau, que pode ser boa fortuna ou infortúnio, a filosofia tematizou a amizade como o bom encontro, isto é, aquela relação entre seres livres e iguais cujas ações sejam fonte de liberdade para outros.
Por que a fortuna é poderosa? Porque pode tornar-se senhora dos acontecimentos, apoderando-se do tempo como kairós. A fortuna não tem poder sobre o tempo da Natureza nem sobre o tempo do destino ou da providência, mas tem poder sobre o tempo de nossa ação. Mas, que significa um tempo que é apenas um instante fugaz, efêmero, no qual tudo pode ser tramado contra nós ou em nosso favor? Essa relação com o tempo como indeterminação é a marca de nossa finitude. Não somos finitos apenas porque somos mortais, somos finitos porque sabemos que somos mortais; não somos finitos apenas porque nosso poder é muito menor do que as forças exteriores que nos rodeiam e sim porque sabemos que somos menores do que elas.
À nossa finitude, a filosofia sempre contrapôs a imagem do deus eterno e perfeitamente feliz, autossuficiente, autárquico, autônomo, plenamente livre. Como os homens poderiam ter uma vida que se assemelhasse à eternidade, à liberdade, à autonomia e à felicidade divinas? Duas são as maneiras humanas de viver, julga Aristóteles, nas quais o homem se assemelha do divino: a vida política, na qual a comunidade age em conjunto para a vida boa e feliz do todo e por isso a politéia perfeita é a polis autônoma e livre que assegura o máximo de sobrevivência, segurança, justiça e liberdade a cada um de seus membros. A comunidade política é, assim, o bom encontro de homens livres e uma das maneiras de imitar a autossuficiência e a autonomia do divino.
Entretanto, por melhor que seja a comunidade política, ela se encontra sempre sujeita à ação de comunidades estrangeiras inimigas e, sobretudo, sujeita à ação de inimigos internos – a guerra externa e a guerra civil indicam que a fortuna também mantém seu reinado no interior da pólis. Há, no entanto, uma forma superior de bom encontro, de vitória contra fortuna e de imitação da divindade, a amizade – relação entre os livres e iguais tecida no bem-querer e bem-fazer em que os amigos suprem reciprocamente as limitações uns dos outros e formam uma companhia livre que imita a autossuficiência do divino e diminui os efeitos dramáticos da finitude.
Diferentemente da comunidade política, a amizade não sucumbe ao poderio da fortuna, mas, ao contrário, somente ela tem a força para impedir que a diferença de posses, fama, glória e honras divida os amigos, pois o que é de cada um é de todos e são todos que agem para que cada um seja o que é e tenha o que tem. Se, pela política, nós nos humanizamos, pela amizade nós nos divinizamos. Eis porque, no Discurso da Servidão Voluntária, Etienne de La Boétie afirma que a amizade é coisa santa.
2.
O Discurso da Servidão Voluntária poderia ser lido na chave da tradição cujo quadro esboçamos acima. No entanto, há algo no texto de La Boétie que nos impede de permanecer nessa chave. E esse algo se torna legível se fizermos um desvio por outra tradição.
Num dado instante do Discurso, exatamente quando formula a ideia de mau encontro que teria desnaturado o homem, fazendo-o perder a lembrança de sua liberdade natural originária, La Boétie ergue uma hipótese: a de que nascesse uma “gente toda nova, nem acostumada à sujeição nem atraída pela liberdade” e à qual se perguntasse se quereria viver como serva ou viver livre: “com que leis concordaria?”, indaga La Boétie. A hipótese é evidente: La Boétie se refere à imagem dos habitantes do Novo Mundo, tradicionalmente apresentada pelos viajantes como a dos homens sem lei, sem fé e sem rei.
Ora, essa imagem tornara-se central nas disputas europeias sobre o direito dos conquistadores. As questões mais debatidas pelos teóricos do período se referem ao direito natural, ao direito das gentes, ao direito civil, se os índios são ou não escravos naturais, se a existência de reinos, como os do México, indicam a necessidade de incluir os índios no direito das gentes e no direito civil. Em outras palavras, as discussões quinhentistas são de tipo jurídico e oscilam entre a afirmação e a negação do direito natural, do direito das gentes e do direito civil aos índios, e entre a afirmação e a negação da escravidão natural dos indígenas.
A peculiaridade do texto de La Boétie está, antes de tudo, em não propor a questão do “selvagem”, isto é, de um outro que seria o mesmo que nós, europeus, numa fase primitiva de evolução, nem de um outro imaginado como “bom selvagem”, nem o selvagem como figura já constituída da política e do direito civil. Em outras palavras, La Boétie não introduz uma questão jurídica, nem uma imagem da “gente toda nova” como etapa na constituição da identidade humana, isto é, europeia.
La Boétie fala em gente não acostumada à sujeição nem atraída pela liberdade. Isto é, de gente que não instituiu um Estado, de gente que nem mesmo conhece o nome da liberdade, mas que, se posta diante de uma escolha e de uma deliberação entre dois contrários possíveis, quais sejam, servir a si mesma ou servir a um senhor, escolheria “servir à razão” em vez “servir a um homem”.
Essa “gente toda nova”, desconhece o nome da liberdade justamente porque vive livremente; é uma gente racional e é essa racionalidade que a faz escolher, sem titubear, servir à razão, isto é, a si mesma, e não servir a um homem, isto é, a um senhor. Em outras palavras, La Boétie não indaga se essa gente disputaria sobre formas legítimas e ilegítimas de dominação, mas afirma que essa gente recusaria qualquer forma de dominação. Dessa maneira, a imagem quinhentista dos selvagens como gente sem lei, sem fé e sem rei assume um sentido inteiramente novo: não se trata de gente que não sabe como ter leis, uma fé e um rei, e sim de gente que escolheu não os ter porque escolheu a liberdade.
A “gente toda nova”, como dissemos, é introduzida num momento preciso do Discurso, quando La Boétie indaga como se deu o mau encontro, isto é, como explicar que o homem, o único naturalmente feito para viver livremente, seja aquele que se sujeita a um jugo que nem mesmo os animais aceitariam sem primeiro lutar contra ele e sem serem forçados a ele. Essa interrogação se articula a outra, que é o centro do Discurso: a interrogação de La Boétie não se dirige à diferença entre poderes legítimos e ilegítimos nem à busca da causa da tirania, mas se volta para o enigma da separação do poder. Como foi possível que os homens tenham instituído um poder separado da sociedade e que, graças a essa separação, pode dominá-los como uma força estranha e transcendente?
Que a interrogação do Discurso não é sobre a causa da tirania e sim sobre a origem do poder separado da sociedade, a prova está em que La Boétie afirma haver três tipos de tiranos – por eleição, por conquista e por hereditariedade –, mas que, embora diferentes as maneiras de chegar ao poder, é “sempre a mesma a maneira de reinar”. Ou seja, o tirano não é aquele que exerce um poder excessivo e ilegítimo, mas simplesmente aquele que exerce o poder quando os homens escolheram ou aceitaram um poder que se situa fora e acima da sociedade e que alguém o exerça porque escolhido para exercê-lo.
Por que não há diferença nas maneiras de reinar? Porque o eleito se comporta como um conquistador e o conquistador, como se tivesse sido eleito, e ambos trabalham para assegurar a hereditariedade do poder, que lhe dará traços da naturalidade, como se tivesse existido desde sempre, por Natureza. A pergunta de La Boétie, portanto, é: como nasceu um poder transcendente à sociedade? E a resposta inicial é que, se se perguntasse à “gente toda nova” se quereria servir a um senhor, ela responderia “não” e não permitiria o nascimento de tal poder.
Assim, a “gente toda nova” surge no Discurso para demonstrar que não há necessidade natural nem necessidade de destino no surgimento do Estado como poder separado da sociedade, isto é, como dominação de um senhor ou de vários senhores sobre o restante da sociedade. Se não é por necessidade da natureza nem por necessidade do destino que tal poder foi instituído, qual é a origem e a causa de sua instituição? Se esta não é uma necessidade, então há de ser ou contingente ou voluntária. Visto que, nas ações humanas, o contingente é o que acontece por fortuna enquanto o que acontece por vontade é feito por liberdade, cabe indagar se o poder separado, isto é, o Estado, surgiu por infortúnio, e não por ação humana deliberada do homens, ou se nasceu pela liberdade da vontade humana. Nasceu por fortuna e mau encontro ou por livre decisão da vontade?
3.
O Discurso da servidão voluntária, como seu título indica, debruça-se sobre um enigma: como os homens, seres naturalmente livres, usaram a liberdade para destruí-la? Como é possível uma servidão que seja voluntária? De fato, escreve La Boétie, servidão voluntária é alguma coisa que a natureza, ministra racional de Deus e boa governante de todas as coisas, se recusou a ter feito. Mais do isso. Servidão voluntária é algo que a própria linguagem se recusa a nomear, pois essa expressão é um oxímoro, uma vez que vontade livre e servidão são opostas e contrárias: toda vontade é livre e só há servos por coerção ou contra a vontade, coisa de que até os animais dão prova. O enigma, portanto, é duplo: como homens livres se dispuseram livremente a servir e como a servidão pode ser voluntária?
É para responder a essa interrogação e decifrar esse duplo enigma que La Boétie começa propondo o infortúnio ou o mau encontro como resposta. Foi por fortuna que os homens se desnaturaram, isto é, perderam a liberdade natural e escolheram ter senhores, acostumando-se a servi-los. Desaparecido o amor da liberdade e enraizada a “obstinada vontade de servir”, os humanos perderam o direito natural, isto é, desaprenderam de ser livres e se esqueceram de que, por natureza, obedecem apenas à razão e não são servos de ninguém.
Por que por fortuna? Por que por mau encontro e infortúnio? Porque, escreve La Boétie, por natureza somos todos livres, iguais e companheiros com o dom da fala e do pensamento para nos reconhecermos uns aos outros e para que, declarando nossos pensamentos e sentimentos, possamos criar a comunhão de ideias e afetos. Portanto, “não pode cair no entendimento de ninguém que a natureza tenha posto algum em servidão”. Consequentemente, se somos servos, não o somos por obra da natureza, mas por operação da fortuna. Mas que infortúnio foi esse, que mau encontro foi esse que nos desnaturou a tal ponto que já nem nos lembramos de que um dia fomos iguais e livres?
A resposta é buscada na origem da tirania: o infortúnio, essa contingência incontrolável, aconteceu no momento em que os homens elegeram um senhor, que se tornaria tirano, ou no momento em que foram conquistados pelas armas de um tirano. No primeiro caso, foram imprudentes; no segundo, vencidos pela força. Ora, ainda que diferentes as maneiras de um tirano chegar ao poder, já sabemos que é idêntica a maneira de governar e, se assim é, não basta referir a causa da tirania à fortuna, pois mesmo que suba ao poder num momento de infortúnio, o tirano nele se conserva por consentimento voluntário dos tiranizados. Se a fortuna pode explicar o advento da tirania, isto é, que o poder se separe da sociedade, não pode explicar sua conservação e, dessa maneira, estamos de volta ao nosso enigma inicial: como é possível a servidão voluntária?
O Discurso procura, então, nova resposta. Se por natureza os homens são livres e servem somente a si mesmos, servindo à razão, a servidão só pode explicada pela coação ou pela ilusão. Por coação: os homens são forçados, contra a vontade, a servir o mais forte. Por ilusão: os homens são iludidos por palavras e gestos de um outro, que lhes promete bens e liberdade, submetendo-os ao iludi-los. Novamente, porém, a resposta não é satisfatória, pois, como anteriormente, a coação e a ilusão podem explicar porque o tirano sobe ao poder, isto é, porque o poder se separa da sociedade, mas não podem explicar porque ele assim se conserva.
Agora, porém, La Boétie parece encontrar a boa resposta: a tirania se conserva pela força do costume. Este é uma segunda natureza e os humanos, inicialmente forçados ou inicialmente iludidos, se acostumam a servir e criam seus filhos alimentando-os no leite da servidão; por isso os que nascem sob a tirania não a percebem como servidão e servem voluntariamente, pois ignoram a liberdade. O costume, portanto, é o que nos ensina a servir.
Ora, qual o engano dessa argumentação que parece tão coerente? Supor que o costume possa ser mais forte do que a natureza e apagá-la. A prova de que isso é falso está no grande número de exemplos históricos de povos e indivíduos que lutaram para recobrar a liberdade perdida. Destarte, o poder separado, mesmo que seja instituído por fortuna e conservado por costume, não encontra na fortuna e no costume sua origem verdadeira. É preciso, ainda uma vez, explicar de onde o poder separado tira a força para se conservar e de onde vem o desejo de servir. É preciso saber porque e como os homens agem para sua própria servidão.
A força do tirano, explica La Boétie, não está onde imaginamos encontrá-la: nas fortalezas que o cercam e nas armas que o protegem. Pelo contrário, se precisa de fortalezas e armas, se teme a rua e o palácio, é porque se sente ameaçado e precisa exibir signos de força. Fisicamente, um tirano é um homem como outro qualquer – ele tem dois olhos, duas mãos, uma boca, dois pés, dois ouvidos; moralmente, é um covarde, prova disso estando na exibição dos signos de força. Se assim é, de onde vem seu poder, tão grande que ninguém pensa em dar fim à tirania? Vem da ampliação colossal de seu corpo físico por meio de seu corpo político, provido de mil olhos e mil ouvidos para espionar, mil mãos para espoliar e esganar, mil pés para esmagar e pisotear.
O corpo físico do tirando não é ampliado apenas pelo corpo político como corpo de um colosso, também sua alma ou sua moral são ampliados pelo corpo político, que lhe dá as leis, lhe permite distribuir favores e privilégios e seduzir os incautos para que vivam à sua volta para satisfazê-lo a todo instante e a qualquer custo. A pergunta que cabe fazer é: quem lhe dá esse corpo político gigantesco, sedutor e malévolo? A resposta é imediata: somos nós, “povos insensatos”, quem lhe damos nossos olhos e ouvidos, nossas mãos e nossos pés, nossas bocas, nossos bens e nossos filhos, nossas almas, nossa honra, nosso sangue e nossas vidas para alimentá-lo e aumentar-lhe o poder com que nos destrói.
Mas se assim é, e se, por infortúnio, um tirano galgou o poder e, por costume, ali se mantém, como derrubá-lo e reconquistar a liberdade? Responde La Boétie: não é preciso lutar contra ele, basta não lhe dar o que nos pede: se não lhe dermos nossos corpos e nossas almas, ele cairá. Basta não querer servi-lo, e o Estado tombará.
Mas, se é tão clara a resposta, maior então o enigma da servidão voluntária, pois se é coisa fácil derrubar a tirania é preciso indagar por que servimos voluntariamente ao que nos destrói. A resposta de La Boétie é terrível: consentimos em servir porque não desejamos a liberdade. Consentimos em servir porque esperamos ser servidos. Servimos ao tirano porque somos tiranetes: cada um serve ao poder separado porque deseja ser servido pelos demais que lhe estão abaixo; cada um dá os bens e a vida ao poder porque deseja apossar-se dos bens e das vidas dos que lhe estão abaixo. A servidão é voluntária porque há desejo de servir, há desejo de servir porque há desejo de poder e há desejo de poder porque a tirania habita cada um de nós e institui uma sociedade tirânica. Haver tirano significa que há sociedade tirânica. É ela, e somente ela, que dá poder ao tirano e o conserva ali onde o colocou para malfazer. É a divisão social que institui o Estado como poder separado. Eis o infortúnio.
4.
Para comprovar que o desejo de liberdade é natural e que, para os homens, agir conforme à sua natureza é agir por liberdade, La Boétie confronta os “muitos” (os povos insensatos e as nações cegas) que servem a “um só” e os “alguns” que não cessaram de desejar a liberdade porque não desejam servir. Esses “alguns” são, em primeiro lugar, os que são “capazes de enxergar mais longe” e de “olhar para trás e para frente”: são os prudentes, aqueles que sabem que uma vez perdida a liberdade, “todos os males se seguem de enfiada”. Porque prudentes esses “alguns” não se deixam dominar pela fortuna, pelas condições adversas do presente, mas procuram ler o curso do tempo e agir para determinar o indeterminado, pois sabem que a ação presente se tornará um passado necessário que desencadeará efeitos necessários para o porvir.
Se os prudentes são os que não se deixam seduzir pela fortuna, por benefícios presentes que se tornarão malefícios vindouros, os amigos são aqueles que não se deixam iludir pelo risco maior, aquele risco que é o infortúnio originário porque é aquela ação voluntária e livre na qual será plantado o germe do poder separado ou a tirania. Que risco é esse?
A amizade – escreve La Boétie – é coisa santa, nome sagrado. Só existe onde há igualdade, liberdade e justiça, cultivada entre os que se unem pelo bom natural e para o bem fazer recíproco. Nela não há lugar para a cumplicidade e o malefício. Vence a fortuna porque não se ilude com falsos bens, pois cada amigo é para o outro o bem verdadeiro. Mas, se é isso a amizade, então o risco maior é que, por amizade, os amigos elevem um dos seus e o coloquem acima dos demais. Se o fizerem, instituem a desigualdade, lançam um dos seus para fora e para além dos limites da amizade, o separam da boa companhia, o isolam e o servem, imaginando assim compensá-lo do isolamento e do desamor que lhe trazem sua nova condição.
Ora, que esse risco é real, basta para comprová-lo que nos lembremos que o nome grego tyrannós não significa aquele que exerce um poder pelo uso da força, e sim aquele que é mais excelente do que os outros em tudo o que faz. É tyrannós o melhor, o mais valente, o mais sábio, o mais clarividente, o mais hábil. É justamente por suas qualidades excepcionais que os amigos o elevam acima deles e o isolam, e, da admiração, passam à servidão.
Ao retomar as duas virtudes com que a tradição imaginara vencer a fortuna, a adversidade e o infortúnio, La Boétie produz um efeito de conhecimento espantoso: a origem da servidão voluntária encontra-se em três causas que deveriam torná-la impossível, isto é, a vontade livre, a prudência e a amizade. A vontade livre, se os humanos escolherem ter um senhor. A prudência, se ao deliberar calculando entre dois males, escolherem o mal menor em vez de mal nenhum. A amizade, se os amigos elevarem os melhores dentre os seus, separando-o do círculo dos iguais porque é tyrannós. Dessa maneira, são exatamente as condições da virtude, da liberdade e da felicidade que podem ser a causa da servidão voluntária: é isto que La Boétie chama de “infortúnio”.
Para lançar uma luz sobre esse infortúnio, o Discurso introduz a “gente toda nova”. Todavia, depois da alusão à gente nova, curiosamente La Boétie alude a outra gente, “a gente de Israel” cuja história provoca indignação no autor, pois “sem nenhuma coerção e nenhuma precisão deu a si mesma um tirano”, isto é, um rei, contrariando a ordem deixada por Moisés. O texto é claro: se foi sem coerção nem precisão e se os humanos só servem se forçados ou iludidos, é evidente que os hebreus se iludiram e que sua situação é exatamente a mesma que a dos gregos, mencionados na abertura do Discurso, quando, segundo Homero, aceitam a palavra de Ulisses: “em ter vários senhores nenhum bem sei/ que um seja o senhor, que um só seja o rei”. Tanto no caso dos hebreus quanto no dos gregos, esses povos e nações não cessaram de sofrer “os males que seguem de enfiada”.
Por que o contraponto entre o povo hebraico e o povo grego, de um lado, e a gente toda nova, de outro? La Boétie dirige o olhar ao momento da origem do poder separado, figurado pelos gregos e pelos hebreus, em contraposição à gente nova que impede essa instituição. Situando-se entre duas temporalidades, o Discurso não se situa entre dois tempos empíricos, e sim numa diferença ontológica: o tempo depois da liberdade e o tempo da liberdade.
No entanto, porque se situa na temporalidade, o Discurso sabe que se situa no contingente, no possível e no risco permanente do mau encontro ou do infortúnio. Eis porque a “gente toda nova” surge em sua argumentação para exprimir algo aparentemente contraditório: de um lado, figurar a humanidade enquanto tal, a universalidade originária do gênero humano, e, de outro, levar ao reconhecimento de que essa universalidade ou a humanidade, enquanto racional e livre, desapareceu. Sob essa perspectiva, os selvagens do Novo Mundo são os que não querem a servidão voluntária, recusam a separação entre a comunidade e o poder e por isso figuram a universalidade humana e a memória (ontológica) da origem perdida. Não são o Outro: são o humano nos homens.
*Marilena Chaui é Professora Emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Autora, entre outros livros, de Contra a servidão voluntária (Autêntica).
Publicado originalmente no Jornal de Resenhas, em 30/01/2013.