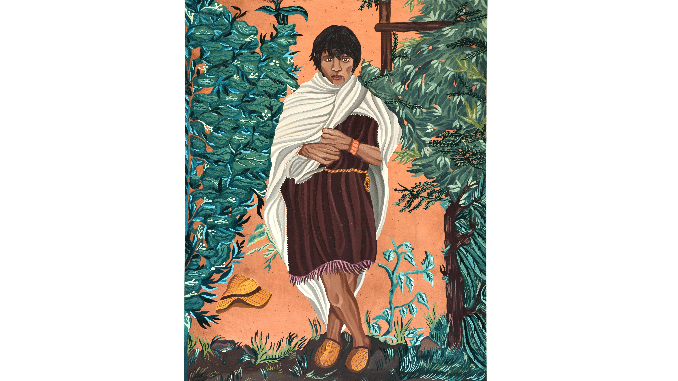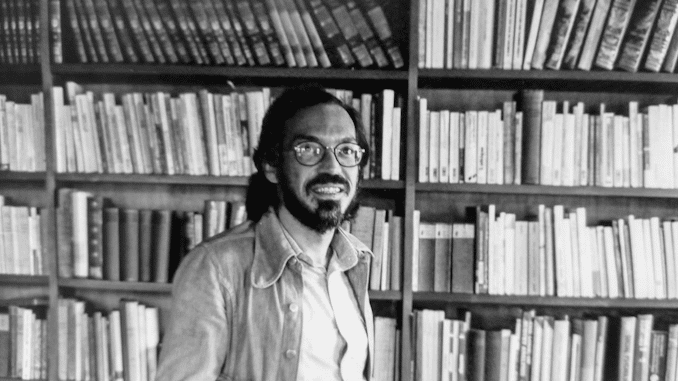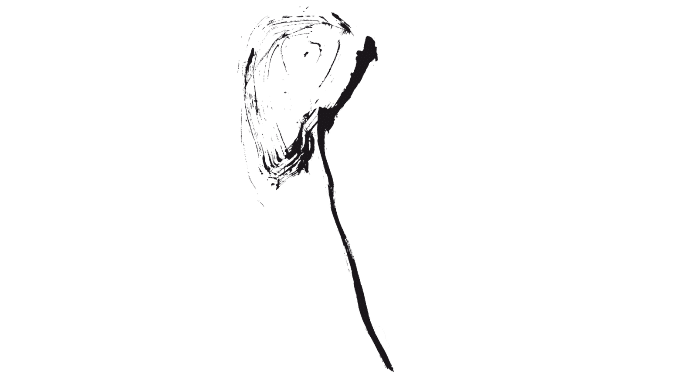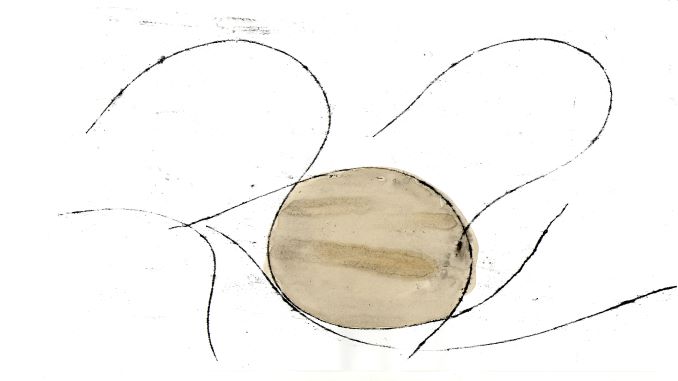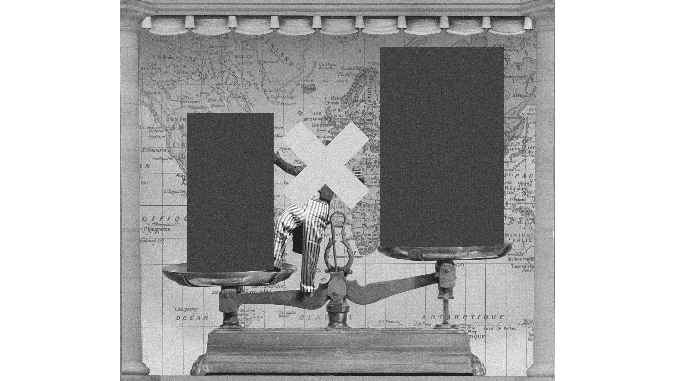Por SÉRGIO E. FERRAZ*
O cenário mais provável a se antecipar, entre o final de 2020 e os primeiros meses do ano que vem, promete muito mais dificuldades do que facilidades para a presidência Bolsonaro
A pausa de Bolsonaro se aproxima dos 45 dias. Desde 18 de junho, dia da prisão de Fabrício Queiroz, um relativo silêncio se instalou no Planalto e no Alvorada. Vai durar? É parada que anuncia guinada estratégica? Sinaliza um abandono das pretensões autoritárias e uma mudança rumo a um governo conservador normal, exercido dentro das regras do Estado de Direito? Ou é artifício tático, que, depois de cumprir seu papel, logo sairá de cena para que o estilo de confrontação, ofensas e ataque às instituições democráticas retome seu curso?
Para entender a pausa e seu destino olhemos para sua origem. O que a antecedeu foi uma derrota. A mais grave sofrida até aqui pelo governo. Bolsonaro tentou o golpe. E perdeu. Perdeu, curiosamente, por uma conjunção de circunstâncias sintomática do estado delicado de saúde da democracia brasileira: de um lado, com a sociedade em “quarentena” e o congresso em funcionamento remoto, foi efetivamente contido pelo judiciário e, em especial, pelo STF, que não se intimidaram ao dar curso aos inquéritos – rachadinha, “fake news”, organização de atos golpistas, interferência na Polícia Federal – que fizeram apertar o cerco sobre o presidente, sua família e a milícia digital; de outro, recuou quando ficou patente a recusa das Forças Armadas de bancar sua disposição de transgredir de uma vez os limites institucionais.
Não pareceu aos comandantes das corporações uma boa ideia viver sob a ditadura de uma família suspeita de corrupção e de ligações com o submundo das milícias e cujos membros dão provas diárias de desequilíbrio emocional, irascibilidade e paranoia. É o poder tutelar demonstrado pelos militares o que complica a leitura otimista, mas ingênua, de que as instituições “deram conta”. Teriam dado outro fosse o humor da caserna e mais qualificado o candidato a homem forte? Na verdade, o funcionamento fora de esquadro do jogo institucional também se mostra pelos instrumentos a que o judiciário teve que apelar: foi o inquérito das “fake news” – nascido de um modo esdrúxulo, juridicamente, para dizer o mínimo – que se revelou mais eficaz para conter a escalada golpista.
Que o plenário do STF tenha tido que legalizá-lo – em nome de um realismo político absolutamente necessário – mostra que estamos em algum lugar muito além (ou aquém) do Estado de Direito. E não de hoje, como sabem os seguidores no twitter do general Villas Boas e os que acompanharam o modo peculiar pelo qual a ministra Cármen Lúcia lidou com certas pautas quando presidia aquele mesmo Supremo em 2018, para ficar em dois exemplos conhecidos e que muito contribuíram para o presente estado de coisas.
Bolsonaro mostrou a que veio muito antes da pandemia. Foi questão de semanas ou de um par de meses, após sua posse, para que ficasse claro que não estávamos diante de um governo direitista convencional. Nem de alguém disposto a governar e se pautar pela Constituição de 1988 – na verdade, o alvo de toda empreitada de desmonte presidencial.
A tese da “domesticação” logo virou fumaça: Sérgio Moro e Santos Cruz são um retrato na parede, e nem doeu muito. Guedes, sem entregar resultado, sem capacidade de formulação, nem de articulação política, é uma sombra do que já foi, embora ainda teimosamente sustentado pela coalizão empresarial-financeira que, desde o “Ponte para o Futuro”, impôs sua agenda ao país. Os militares, se calculavam usar o ex-capitao, se viram instrumentalizados por quem, segundo Mourão, não teria tido tempo de fazer percurso “intelectual” no exército. Ao vice passou despercebido que nos mais de 30 anos de política Bolsonaro aprendeu em outra escola o suficiente para saber usar como escudo a corporação, atrelando-a ao seu destino: não foi por acaso que para a Saúde no meio da pandemia colocou um general, nem por distração que delegou ao próprio Mourão a Amazônia.
Os ganhos obtidos (orçamento generoso, cargos, aumento salarial e proteção na reforma da previdência) e o desejado retorno à política têm e terão um custo para as Forças Armadas. Bolsonaro, atuando para manter as corporações em seu entorno e como espinha dorsal de um governo que até há pouco dispensava e demonizava partidos, contribui para elevá-lo ao máximo. Se o Alto Comando se incomodou com o alerta de Gilmar Mendes, para além da palavra genocídio, foi por sabê-lo procedente.
O que vimos, portanto, antes da pausa forçada em curso foi que o autoritarismo 1.0 do primeiro ano de Bolsonaro no poder se transformou, entre fevereiro e junho desse ano, em escalada rumo a uma ruptura que tornasse o presidente muito maior que os demais poderes. E a radicalização não foi fruto de estupidez, loucura ou engano: foi pura consequência de um cálculo.
Aqui endosso a hipótese de Marcos Nobre. Se topasse ser o presidente de todos os brasileiros e coordenasse a luta contra a Covid19, Bolsonaro estaria abandonando a linha anti-establishment e aderindo ao “sistema”, tudo que ele não poderia fazer se quisesse se manter fiel ao seu projeto revolucionário de extrema-direita. Informado desde fevereiro pelo GSI da previsão de 100 mil mortos, Bolsonaro não titubeou: pagaria o preço, ou, mais exatamente, faria dessas vidas humanas o custo de sua fidelidade ao projeto autoritário. Além disso, percebeu que tinha que acelerar, pois sabia que a catástrofe sanitária e a recessão econômica decorrente tinham potencial para destruir o mandato de um presidente.
Mas não o teriam se o mandato já tivesse se metamorfoseado no de um ditador. Não deu certo. E voltamos à questão: para onde nos levará essa pausa, forçada pela ação do STF e pela recusa dos militares de embarcar na aventura? .
Para que um cenário de “domesticação” se afirmasse, seria necessário que Bolsonaro e o grupo extremista que o cerca abrissem mão do propósito central do mandato, a derrogação da ordem democrática de 88. À luz de tudo que se sabe até aqui, é pouco crível que isso aconteça, salvo como recuo tático temporário ou, se permanente a mudança, como fruto de circunstâncias excepcionais que os impelissem a tal comportamento.
Para dar objetividade ao ponto, os indicadores de tal transição rumo à “normalização” seriam uma distribuição dos ministérios proporcional ao tamanho das bancadas alinhadas ao governo no legislativo, concessões programáticas e ajuste das políticas de governo, refletindo a nova composição. Nada disso aconteceu. Estão aí o chanceler Araújo e o ministro do Meio Ambiente, a despeito de crescentes pressões internacionais, de governos e de fundos de investimento, agora reforçadas por grande parte do empresariado local; seguem intocados o posto de Damares e o gabinete do ódio, este no coração do Palácio do Planalto.
E continuam inalteradas todas as políticas de desmonte das estruturas de Estado, na revanche contra 88. A aproximação com uma parte do “Centrão” reflete a necessidade de se proteger contra tentativas de impeachment e envolveu somente a cessão de espaços delimitados na máquina administrativa. O horizonte dos partidos que aderiram ao governo é curto e parece mirar as vantagens para as eleições municipais das verbas e cargos disponibilizados. O acordo é pontual, provisório e de sustentação incerta.
Se o passado, mais e menos recente, do governo, e mesmo seu presente, são razões para olhar com ceticismo as perspectivas de que a gestão Bolsonaro se normalize, cabe olhar para os desafios que vêm por aí e imaginar as prováveis reações da presidência Bolsonaro. O futuro será mais persuasivo do que foi o passado para injetar moderação na atual presidência?
Em primeiro lugar, temos uma pandemia descontrolada, com perda de vidas comparável apenas a dos EUA, e seus efeitos devastadores na economia. Nas atuais circunstâncias, a sociedade está sob a anestesia temporária das medidas econômicas emergenciais, o que tem se refletido na resiliência dos índices de aprovação presidencial, os quais recuaram, mas resistem ainda em um piso entre 25 e 30% do eleitorado.
É necessário perguntar o que acontecerá quando o governo tiver que decidir sobre sua política econômica no pós-pandemia. Por viés ideológico, pelo alegado diminuto espaço fiscal e por lacunas óbvias na capacidade de formulação, somadas às pressões de mercado, é improvável que se opte por políticas públicas mais vigorosas – que combinassem em sinergia mútua o investimento público com o privado, reestruturassem o teto de gastos e fornecessem uma narrativa crível para a evolução no médio prazo da dívida pública – vitais para repor a atividade econômica em seus trilhos a partir de 2021. Se esse for o caminho – de retorno à austeridade, ainda que temperado por novos programas sociais, mas de valores bem mais modestos do que a presente renda emergencial -, a recessão, misturada ao desastre sanitário prolongado, pode castigar com muito mais severidade o país, se abatendo sobre um contexto ainda mais deteriorado, em termos de renda, emprego e consistência do tecido econômico, do que tínhamos no início do ano. E o que tínhamos então já era bastante ruim, fruto da incapacidade de recuperação depois da queda da economia no biênio 2015-2016. A ausência de vetores privados (consumo e investimento) ou externos (exportações líquidas) para puxar a economia torna altamente provável esse prognóstico.
A desconfiança de que o pior ainda está por vir aumenta entre os analistas mais atentos. E há um agravante politicamente sensível: os efeitos de um retorno à austeridade deverão ser mais fortes nas regiões mais pobres, onde se concentra o segmento da população que aderiu recentemente a Bolsonaro, compensando em parte a perda de suporte nas classes médias. No Nordeste, por exemplo, a suspensão do auxílio emergencial combinado ao fim da ajuda federal aos Estados e Municípios pode deflagrar grande perda de renda e colapso potencial de parte dos serviços públicos.
Um novo piso inferior de aprovação ao governo pode ser o resultado do curso descrito. Um quadro de desordem sanitária e econômica dessa dimensão torna improvável a cristalização de um entendimento na opinião pública que desonere Bolsonaro de suas responsabilidades. Não se sabe se esses efeitos estarão nítidos o suficiente para impactarem as eleições municipais, mas, pelo menos em algumas das capitais e grandes cidades, não é possível se descartar uma “nacionalização” do pleito, com as disputas convergindo para um julgamento da atuação do governo na pandemia.
O prosseguimento dos inquéritos e das investigações judiciais sobre Bolsonaro, sua família e a rede de apoiadores digitais são o outro vetor decisivo, com desdobramentos importantes já no mês de agosto. As definições, no STF e/ou STJ, sobre o foro onde correrá a investigação de Flávio Bolsonaro e acerca da manutenção da prisão domiciliar de Fabrício Queiroz, com resultados previsivelmente desfavoráveis aos interesses do clã, à luz das correntes jurisprudências dos tribunais superiores, possuem o potencial de aumentar rapidamente a temperatura do conflito político.
O mesmo vale para os outros inquéritos que tramitam no Supremo. Diante das ameaças existenciais lançadas contra o STF no primeiro semestre do ano, da carência de credibilidade das promessas de paz do presidente, bem como da necessidade de coerência nas decisões e de reforço do colegiado, de modo a preservar a reputação da Corte, não se enxergam incentivos para decisões judiciais fora da curva, ainda que não se possa descartar totalmente essa possibilidade, como nos demonstraram os movimentados plantões no recesso de Noronha e Toffoli. .
No cenário externo, em novembro acontecerá a eleição presidencial nos EUA. Mantida a tendência atual, Bolsonaro poderá perder seu maior esteio no âmbito internacional, com a derrota de Trump, hoje entre 8 a 10 pontos atrás de seu adversário democrata.
A resultante política mais clara das diversas dimensões da conjuntura mencionadas vai se delinear apenas com a mitigação da pandemia e a reabertura do país, o que trará o Congresso ao seu funcionamento normal, liberará a negociação mais plena entre os políticos e ensejará a possibilidade de manifestações populares. Feitas as contas, o cenário mais provável a se antecipar, entre o final de 2020 e os primeiros meses do ano que vem, promete muito mais dificuldades do que facilidades para a presidência Bolsonaro.
Em circunstâncias normais, em que governos colocam no topo das prioridades a sua sobrevivência, uma “normalização” seria a aposta mais prudente quanto ao comportamento a ser esperado. Cumprir integralmente o mandato passaria a ser prêmio suficiente, mesmo que a custa das preferências mais intensas. À pausa em curso sucederia um governo de direita disposto a se ater aos limites constitucionais. Ocorre que, por razões conhecidas, algumas discutidas acima, não estamos diante de um governo como outros.
Estamos perante um governo que se vê como um movimento revolucionário e que anseia por uma reconstrução reacionária do país, capaz de fazer retroagir a máquina do tempo histórico para muito antes de 1985 ou 1988 – talvez para algum momento anterior ao mês de outubro de 1977, como assinalou o sociólogo Jorge Alexandre Neves, quando os porões e a linha dura perderam a quebra de braço com o projeto de distensão do regime autoritário.
Estamos, pois, frente a um presidente que tem por estratégia básica não exercer suas atribuições para gerar caos e colocar todo o sistema em colapso permanente. De um chefe de Estado e de governo que viveu até há pouco em campanha permanente, sem que isso implique paradoxo, uma vez que o objetivo – implantar o autoritarismo – não foi, ainda, alcançado.
Sendo assim, a resultante política do cenário engloba séria incerteza. De uma parte, as circunstâncias políticas de aprofundamento de uma crise multidimensional sem precedentes, somadas à sustentação do cerco judicial ao presidente, recomendaria uma aposta na normalização, em nome da sobrevivência. De outra, esse tipo de atitude se choca com a história e o DNA de um governo, e em especial do presidente e do grupo radical que o cerca e o influencia, que entende ter como missão a liquidação do regime inaugurado em 1988.
Tudo ponderado, o mais provável é que, ocorrendo algum afrouxamento do cerco judicial ao presidente e aos seus, a missão prevalecerá – porque é o que dá sentido ao governo na ótica subjetiva dos que o comandam – e os intervalos de “trégua” ou de pausa nunca serão mais do que artifícios táticos. A ausência até aqui de suporte para rupturas por parte das Forças Armadas não será entendida por Bolsonaro como uma posição definitiva das tropas. E a opacidade dessas corporações, bem como a visão de mundo ali predominante, não permite descartar que terminem de algum modo se aliando ao esforço presidencial de não só corroer, mas de efetivamente produzir alteração no regime político.
O certo é que o esforço de cooptação prosseguirá. Assim como continuarão as articulações com os dispositivos das Polícias Militares estaduais – que já mostraram do que são capazes na rebelião do Ceará, em fevereiro último -, o outro provável lastro de uma nova aventura golpista presidencial. As relações com os demais poderes e com a federação não se tornarão cooperativas, dada o imperativo de sustentar a dinâmica de colapso das instituições, fonte de legitimação do discurso “antissistema”. Sob o pano de fundo da devastação sanitária e econômica, esse tipo de estratégia presidencial pode ter o potencial de gerar a turbulência social há muito esperada pelo bolsonarismo, circunstância apropriada para novos avanços sobre os limites institucionais ainda postos.
Bolsonaro pode ser compelido a respeitar as instituições, jamais persuadido. Piscou quando o cerco se apertou e ele se viu sem apoio armado para virar a mesa do jogo. Da parte de quem se opôs à escalada autoritária interrompida em junho, ficou a lição de que o meio de parar o extremismo do Planalto não passa por pactos ou afagos, mas pela aplicação sem concessão da lei.
Do ponto de vista do núcleo radical do governo, do qual faz parte presidente e família, a pausa é o instrumento para que se trabalhe a alteração do atual cenário, de modo a que o projeto revolucionário da extrema-direita retome sua marcha. A ordem democrática de 1988 e o bolsonarismo são, no médio prazo, simplesmente incompatíveis. Ignorar essa incompatibilidade é, dos muitos negacionismos em voga, talvez o mais perigoso.
*Sérgio E. Ferraz é doutor em Ciência Política pela USP.