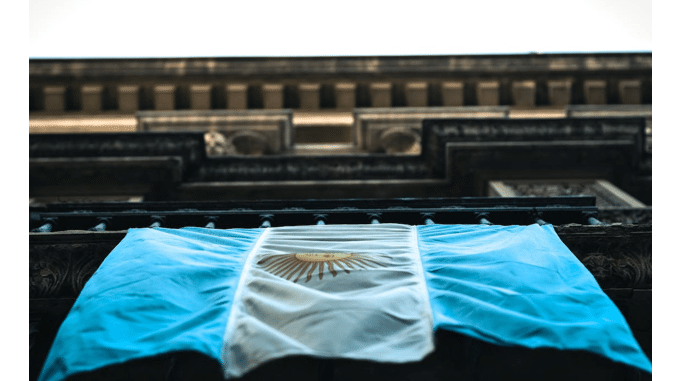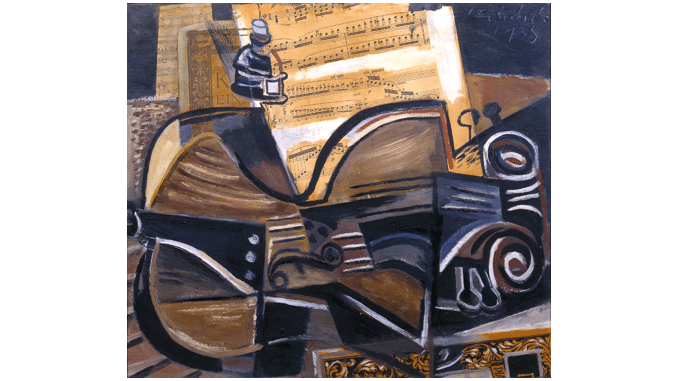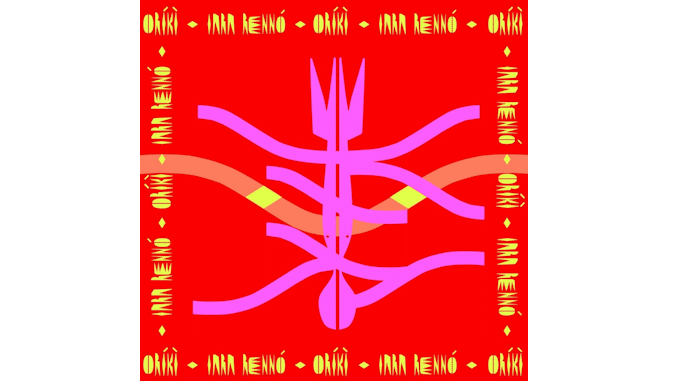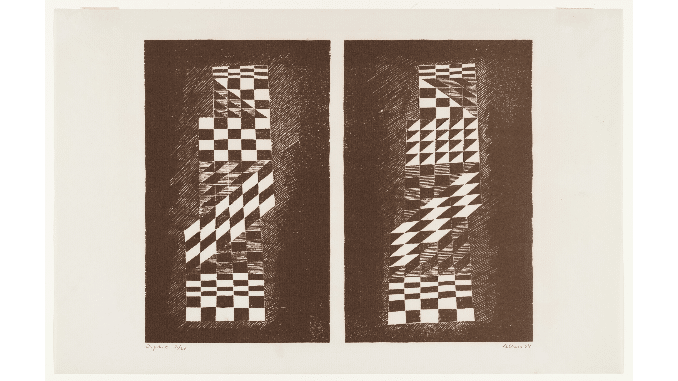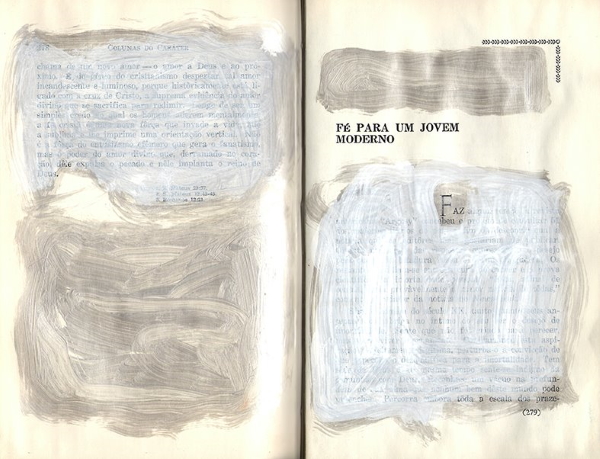Leia um comentário sobre o último livro de Vladimir Safatle e o Prefácio de Peter Dews
Por Amaro Fleck*
Começo com uma anedota: recentemente, em Berlim, durante um dia de protestos, um grupo não muito grande decidiu marchar, à parte do grupo principal, portando cartazes com a frase “Es gibt kein richtiges Leben im falschen”, “não há vida correta na falsa”, a conclusão do décimo oitavo aforismo, “Asilo para desabrigados”, da obra Minima Moralia de Theodor Adorno. O descompasso entre forma e conteúdo não poderia ser maior: a frase de um pensador que não via problema algum na torre de marfim como abrigo para o intelectual, de um teórico que, quando intimado por seus estudantes para participar de passeatas, recusava com a desculpa de estar demasiado velho e gordo, sendo utilizada por jovens que queriam mudar tudo, aqui e agora. Pior: a conclusão de um raciocínio convertida em slogan, em propaganda, em palavra de ordem, naquilo que o próprio Adorno tanto denunciou: um pseudoativismo, uma ação resultante do desespero efêmero e não refletido, do narcisismo que nada transforma, mas que gera a questionável satisfação de se ter feito algo, de se ter posicionado contra, e assim de se isentar da igualmente questionável responsabilidade pelo mundo ser aquilo que, infelizmente, ele é.
Se o que chama a atenção na marcha algo insensata dos jovens berlinenses é a ausência de uma demanda qualquer, mesmo de um destinatário, ela parece, ainda que timidamente, indicar para um traço exclusivo da fisionomia do pensamento adorniano: a convivência entre um profundo mal-estar frente ao estado do mundo e uma desesperança quase completa de transformá-lo.
De acordo com Vladimir Safatle – em seu novo livro Dar corpo ao impossível: o sentido da dialética a partir de Theodor Adorno (Autêntica) – vivemos agora um momento de “colapso de processos hegemônicos de modernização social” (p. 31), colapso este revelado pela perda de adesão tanto ao horizonte normativo das democracias liberais, quanto à racionalidade econômica imposta pela sociedade capitalista do trabalho.
Este diagnóstico serve como pano de fundo para aquilo que a obra se propõe: uma “recuperação contemporânea da dialética” que possa contribuir para a consolidação de uma “prática teórica da emergência” (p. 38). Não se trata, portanto, de um mero comentário historiográfico, capaz de dar conta ou de fazer avançar um dos debates mais árduos da filosofia contemporânea: aquele sobre o destino da dialética depois de Hegel, notadamente por conta de sua inversão materialista proposta por Marx e desenvolvida por Adorno.
Mas sim de um projeto eminentemente político e, por que não, engajado: mobilizar a “filosofia como força crítica capaz de empurrar a revolta para a consolidação de uma forma de vida por vir” (p. 31), elaborando “uma dialética emergente”, isto é, uma “dialética que explicita as condições para a emergência daquilo que poderia ser diferente e que ainda não começou” (p. 34).Não obstante, este “esforço de reconstrução da dialética” (p. 249) toma a forma de um comentário do livro Dialética negativa, de Adorno, ao qual são acrescentados três excursos: um sobre a relação da contradição dialética com o pensamento da diferença (basicamente: Deleuze) e dois sobre usos nacionais da dialética (um versando sobre a obra de Paulo Arantes, outro sobre o debate entre Bento Prado Júnior e Roberto Schwarz).
Estes dois objetivos – especificar as diferenças e semelhanças entre Adorno e Hegel, por um lado; reconstruir a dialética criando uma prática teórica emergente, por outro – não são igualmente bem-sucedidos, até mesmo porque exigem argumentações muito distintas. O primeiro requer o cotejo com os textos filosóficos, o debate com os comentários, a incansável revisão bibliográfica.
O segundo, por sua vez, demanda uma análise mais apurada das tendências sociais em curso, um debate interdisciplinar capaz de iluminar o momento presente, uma explicitação das propostas e das coalizões que seriam capazes de implantá-las.
Se Safatle tece algumas reflexões pertinentes acerca das aventuras e desventuras da dialética, o projeto de reconstruir uma nova versão dela é apresentado como um esboço um tanto mal arranjado, não mais do que uma carta de intenções. Ao fim e ao cabo, o que fica é uma interpretação da dialética negativa adorniana como proposta de tal prática teórica da emergência.
Mas o salto sobre o abismo que separa a exegese historiográfica, o comentário textual de uma obra de Adorno publicada há mais de cinco décadas, e a tal explicitação das condições de emergência do que poderia ser diferente – de uma nova forma de vida – é feito sem maiores justificativas.
Mas vejamos a coisa mais de perto, focando no cerne da argumentação.
A interpretação mais usual da dialética negativa adorniana, segundo Safatle, é considerá-la uma dialética amputada; isto é, uma dialética sem Aufhebung, sem síntese, que estaria condenada a narrar processos antinômicos cujas contradições nunca são superadas ou resolvidas (em outras palavras: algo que seria antes uma errância, na qual o objeto vagueia de um oposto ao outro sem chegar a lugar algum, do que propriamente uma dialética). Este movimento diádico de contínua transformação em seu contrário conduziria a dialética negativa a um quietismo melancólico, a uma lamentação pela impossibilidade da emancipação.
Frente a esta interpretação, Safatle defenderá a tese de que não há “distinções lógico-estruturais fundamentais entre a dialética adorniana e a dialética hegeliana” (p. 95), pois também estaria presente, na dialética negativa, o momento positivo-racional da síntese, da superação das contradições. No entanto isto não quer dizer que as duas dialéticas sejam idênticas: “na verdade, a dialética negativa será o resultado de um conjunto de operações de deslocamento no sistema de posições e pressuposições da dialética hegeliana” (p. 84) decorrente da escolha de “recusar pôr reconciliações que Hegel julgava já maduras para serem enunciadas” (p. 85).
Assim, o procedimento hegeliano de pôr o momento positivo-racional significa uma antecipação filosófica da reconciliação, o que vem a ser o mesmo que apoiar-se nas “figuras concretas de reconciliação atualmente presentes na vida social” (p. 85). Já o procedimento adorniano de pressupor este momento implicaria a recusa destas figuras concretas de reconciliação, já presentes, em nome do “advento de outra reconciliação” (p. 85). É a isto que o próprio título da obra se refere: “dar corpo ao impossível” significa alterar o próprio horizonte das possibilidades ao rejeitar tudo aquilo que está disponível em nome de um inteiramente outro. O deslocamento no sistema de posições e pressuposições tornaria assim a dialética negativa em um projeto revolucionário.
Interpretada desta forma, a dialética negativa não é a tentativa de efetivar aquilo que de mais racional e avançado já existe, como no caso hegeliano, tampouco o lamento quietista sobre uma emancipação tornada impossível, como na interpretação adversária, mas sim uma aposta “nas promessas de uma nova ordem trazida pelo setor mais avançado da produção artística de seu tempo” (p. 103).
Não se trata de optar pela contemplação de obras de arte em vez de acreditar nas possibilidades de transformação política global, mas da percepção de que a “experiência estética corrói paulatinamente a sensibilidade hegemônica, abrindo caminho para a renovação da experiência social através da sensibilização a novas formas e modos de organização e de relação” (p. 48-9). Nas palavras do autor, as obras de arte têm “a força explosiva de confrontar a vida social com horizontes de emancipação que ela ainda sequer é capaz de colocar como possibilidade” (p. 49).
Não deixa de ser curioso que a peculiaridade da interpretação proposta por Safatle consista em explicitar o que está pressuposto, sem, contudo, pô-lo; a guinada radicalizante apenas tornaria manifesto o que antes era velado, mas na medida em que isto segue estando pressuposto (e não posto, pois aí a dialética seria hegeliana) não pode ser plenamente manifesta. A força revolucionária da dialética negativa consistiria assim em uma espécie de “ainda não”: o que as obras de arte prometem é uma experiência de emancipação que sequer imaginamos, mas que precisa permanecer assim, ao mesmo tempo presente e não vivenciada, indeterminada. Sua força reside na ambiguidade.
Delineado o cerne da argumentação de Safatle, gostaria de comentar três aspectos que mais me interessam em seu livro. Os dois primeiros tratam de pormenores da interpretação e recepção da dialética negativa adorniana, o último de nosso momento histórico.
A dialética negativa é uma ontologia?
Em vez de insistir na contraposição entre a interpretação da dialética negativa proposta por Safatle e aquela que lhe serve de adversária, gostaria de questionar o ponto em que ambas se mostram solidárias, a saber, a compreensão da dialética como uma ontologia, entendida aqui como um tipo de teoria que possui categorias transhistóricas, as quais serviriam para explicar formações sociais as mais distintas e, em especial, as passagens de uma formação social para outra.
Assim, elas partilham a compreensão de que a dialética é tanto a própria lógica das coisas em geral quanto o procedimento capaz de explicá-las e conceituá-las. Seria este o caso? Nas palavras de Safatle: “Notemos, por exemplo, como a dialética nunca abandonará certa concepção de movimento que lhe orientará no interior da crítica e da compreensão dos processos históricos. Sempre será questão de contradições, de modos instáveis de produção, de conflitos como operadores de movimento, de passagens no oposto e interversões, da mutação da quantidade em qualidade. Mas o que é isso, a não ser uma ontologia que se expressa em certa forma de compreensão de processos e movimentos?” (p. 41-2).
Realmente, as mesmas categorias – totalidade, medição, contradição, síntese – estão presentes nas variações modernas da dialética. Mas isto significa que elas possuem os mesmos significados? Significa, por exemplo, que os mesmos objetos serão compreendidos como contraditórios? Ou que as mesmas situações são vistas como totalidades?
Ora, para Hegel qualquer objeto finito é contraditório. Na pequena lógica ele afirma: “tudo o que nos rodeia pode ser considerado como um exemplo da dialética. Sabemos que todo o finito, em lugar de ser algo firme e último, é antes variável e passageiro” (Hegel, §81 Adendo). Por isso a dialética é o movimento inerente a todas as coisas: ela é o que faz mover as categorias do pensamento (a lógica), mas está também presente na natureza (a filosofia da natureza), na nossa relação com ela assim como nas nossas interações sociais (a filosofia do espírito).
Já para Adorno o conjunto dos objetos contraditórios dos objetos que são, portanto, dialéticos e exigem também uma dialética para apreendê-los – é bem mais restrito. Ele não diz respeito aos objetos naturais – o célebre exemplo do carvalho contido na Fenomenologia do espírito, por exemplo, não seria um caso de objeto contraditório. Nem diz respeito à maior parte das interações sociais em formações não capitalistas (ainda que possa dizer respeito a alguns processos contraditórios em seu interior – notadamente a passagem entre mito e razão, tal como descrita na primeira parte da Dialética do esclarecimento), ainda quando antagônicas.
Algo semelhante ocorre quanto à categoria de totalidade. Para Hegel, a totalidade é um dos nomes do absoluto, o processo no qual o espírito age sobre si mesmo e ganha consciência de si próprio. Para Adorno, a totalidade é resultado de uma forma específica de mediação social, a troca mercantil, que faz com que o mundo se torne todo ele em algo idêntico. Por isso a relação é simetricamente oposta: se Hegel diz que “o verdadeiro é o todo”, Adorno assevera que “o todo é o não-verdadeiro”. Enquanto o primeiro pretende narrar o processo no qual a totalidade se torna autoconsciente, o segundo gostaria de abolir a própria totalidade.
Safatle comenta a afirmação de Adorno de que “uma humanidade liberada não persiste como totalidade” (p. 86), mas a interpreta como contendo uma ironia: pois a totalidade é negada ao mesmo tempo em que é resguardado o conceito de humanidade, o qual serviria para indicar, de acordo com Safatle: a “totalidade enquanto horizonte de implicação genérica e de constituição de um comum ilimitado”, ou, em outras palavras, o modelo de uma “totalidade reconciliada” (p. 86).
Partilho da ideia de que a frase contém uma ironia, mas dela tiro conclusões opostas: não seria o caso aqui de “humanidade” denotar, ainda que de forma precária, precisamente a dissolução de uma totalidade que sequer consegue ser nomeada?A pergunta, ainda assim, é: como seria um mundo que não é uma totalidade? Imagino que baste pensar no final da mediação universal da troca: se é ela que torna o mundo algo total, completamente conectado, é o fim dela que permitiria a coexistência nãoviolenta do diverso, de processos e situações que não fossem englobados e todos eles interligados.
Assim, “totalidade reconciliada” – uma expressão que, salvo engano, jamais aparece na obra de Adorno – é uma contradição em termos, um oximoro, pois a reconciliação tem por condição o término da coação que faz com que os mundos sejam um só mundo.
Mas se totalidade e contradição, para ficar apenas em duas das categorias centrais da dialética, são conceitos críticos, que servem apenas para explicar as agruras da sociedade capitalista, mas não as demais formações sociais (embora, eventualmente, alguns de seus momentos), o que seria uma dialética negativa?
Nesse caso, a dialética seria tanto o movimento das próprias coisas contraditórias, entendidas aqui como tudo aquilo que é contaminado pela mercadoria – ou seja, toda a sociedade atual, todo o mundo atual; mas não necessariamente os anteriores ou futuros – quanto o modo de apreendê-las. As coisas contraditórias são entendidas como aquelas que contêm em si o germe de sua aniquilação, portanto, aquelas que por seu próprio movimento se conduzem rumo à destruição. É o caso, evidentemente, do sistema capitalista.
Na interpretação que proponho a guinada materialista da dialética não consistiria em mudar o jogo das posições e pressuposições, mas em dar a prioridade ao objeto. Não cabe adiantar logicamente o movimento das coisas. É ele, o objeto, afinal de contas, quem decidirá se passeará pelos extremos, convertendo-se em contrários, numa errância sem final feliz ou se, ao fim e ao cabo, superará suas contradições e se elevará para um patamar maior de racionalidade.
A dialética negativa não seria assim uma filosofia geral, no sentido de uma ontologia, de um discurso sobre o ser, sobre a lógica do movimento de qualquer objeto, mas tão somente a reformulação de um projeto de teoria crítica desta sociedade, a capitalista, o qual almeja apressar o passo de sua destruição, empurrar o que já está caindo, diminuindo as dores do parto de uma nova formação social, não mais contraditória, e, oxalá, sem antagonismos.
Seria Adorno um revolucionário?
Pelo dito acima fica claro que partilho, com Safatle, de uma leitura que enfatiza o caráter crítico da dialética negativa, e, por sinal e sobretudo, sua pegada anticapitalista. Concordo com Safatle que Adorno jamais cogitaria a possibilidade de uma sociedade capitalista que fosse também emancipada, simplesmente porque os indivíduos que vivem em seu interior teriam suas demandas por reconhecimento satisfeitas ou porque trocariam razões em processos deliberativos nos quais não há coação. E concordo com ele, principalmente, em ver isto como um trunfo do pensamento adorniano, um motivo pelo qual sua teoria crítica tem grande potencial tanto de explicação de nossa sociedade quanto de orientação para a crítica social.
Não obstante, discordo da consequência lógica pró-revolucionária decorrente da pressuposição do momento de reconciliação. Em oposição, argumento que a questão da estratégia de transformação social – se reforma ou revolução; se negociação ou não-participação; e mesmo se é o caso de defender uma socialdemocracia no curto prazo –, como não poderia deixar de ser o caso em uma teoria que dá prioridade ao objeto, surge da percepção das tendências sociais em curso e das possibilidades existentes nelas.
Por isso, não penso ser vantajoso interpretar Adorno como um revolucionário; tampouco acredito que sua teoria seja revolucionária contra o que ele mesmo pensa, a la Holloway e Cia.; e, ainda, creio que a opção adorniana (não-revolucionária, ao menos no curto prazo), corretamente entendida, não esgotou sua validade, apesar de estarmos em uma situação bastante diferente.
Safatle argumenta que a dialética negativa é também “uma reflexão sobre as modalidades de constituição de sujeitos com forte potencial de transformação política” (p. 205) e que a dialética colabora com “uma prática revolucionária que não tenha em seu seio tendências repressivas devido a exigências estratégicas de organização” (p. 206). Safatle, não obstante, critica “a posição estratégica de Adorno no horizonte político da esquerda alemã dos anos 1960” (p. 212) por ele não ter percebido que os “sujeitos políticos emergem no interior de lutas e revoltas, não previamente a elas” (p. 215).
Isto é, o Adorno interpretado por Safatle é revolucionário, ainda que tenha se distanciado dos movimentos radicais alemães por questões pontuais – tendências repressivas existentes em seu interior – e Safatle objeta a Adorno que estas questões poderiam ter sido superadas pelo desenvolvimento dos sujeitos políticos. Caberia, a uma teoria da emergência, a compreensão das transformações possíveis “que produzem a emergência de sujeitos que responderão, em sua atuação, pelas condições e desafios concretos da práxis em sua multiplicidade de situações” (p. 208).
Duas questões precisam ser feitas: a primeira é se isto – a opção revolucionária – corresponde em alguma instância à obra adorniana, ou se é o intérprete que fala aqui em pena alheia; a segunda é, caso a primeira resposta seja negativa e parodiando Paulo Arantes, se este seria um Adorno errado, mas ainda assim vivo.
Adorno não fala em teoria da emergência, e é Marcuse, e não ele, que vai se perguntar repetidas vezes se estaria surgindo algum outro ator social que pudesse herdar o papel revolucionário que uma vez pertencera ao proletariado. Por que Adorno não se preocupou com isto? Porque a integração do proletariado é apenas um dos fatores pelos quais a emancipação estava bloqueada. Ainda que houvesse um potencial sujeito revolucionário – os estudantes? Os novos movimentos civis de mulheres, negros, homossexuais? A ralé, os trabalhadores precários? – as barricadas continuariam sendo “ridículas contra aqueles que administram a bomba” (MzTP, p. 771), e este sujeito teria sua subjetividade formada pela indústria cultural (o que o proletariado do século XIX, evidentemente, não tinha).
Por causa disto, qualquer movimento de transformação radical em curto prazo estaria fadado ao fracasso. Como observa Schwarz, em passagem citada por Safatle, “o bloqueio da solução revolucionária e a esterilidade da política eleitoral são diagnósticos, e não preferências” (Schwarz, p. 50). Não é por não gostar da revolução que Adorno a julgava impossível, bloqueada. Mas uma vez percebido isto, que a revolução não viria, há que se perguntar o que é efetivamente possível, se a dialética negativa não quiser se tornar mera “cantilena triste da finitude” (p. 19), o lamento por uma emancipação que não veio.
Safatle se insurge contra a estratégia adorniana de suportar o mal menor para evitar o pior (p. 211), mas imagina que isto é um detalhe na obra do frankfurtiano, e não um de seus traços distintivos. Ele brada que “não há conciliação, nem negociação com modos de reprodução social solidários de uma vida falsa ligada às estruturas gerais de reificação e alienação próprias ao sistema capitalista” (p. 26), pois isto significaria aceitar o horizonte da gestão das crises.
Mas é pior, muito pior do que se imagina. O capitalismo é tão terrível que consegue fechar as saídas de seu tormento. E contra isto todas as alternativas e propostas têm se mostrado inócuas. Nesta situação o pensador frankfurtiano, com carradas de razão, adota uma postura realista, reformista e socialdemocrata (mais próximo, claro, da socialdemocracia radical do começo do século XX do que daquela tardia, do pós Guerra europeu).
São palavras suas, ditas aos seus alunos: “Minimizar, por causa da estrutura do todo, a possibilidade de aperfeiçoamento no âmbito da sociedade vigente, ou até mesmo – o que não faltou no passado – marcá-los como negativos, seria uma abstração idealista e danosa. Pois nisso expressar-se-ia um conceito de totalidade sobreposto aos interesses dos homens individuais que vivem aqui e agora, a requerer uma espécie de confiança abstrata no curso da história do mundo de que, ao menos nessa forma, sou incapaz.” (IS, p. 98).
Nada mais consequente, por sinal, para alguém que décadas antes afirmara que, frente à pergunta pelo objetivo da sociedade emancipada, “a única resposta delicada seria a mais grosseira: que ninguém mais passe fome” (MM, §100).Isto não significa se contentar com a democracia liberal burguesa e seu horizonte de negociação, mas significa sim não considerá-la o mesmo que o fascismo e a coação pura e simples.
Se as piores formas de autoritarismo seguem latentes nas sociedades capitalistas, isto não significa que elas virão à tona nestas sociedades, e é contra esta emergência que a prática teórica de Adorno se insurge. Dado que a passagem para uma sociedade nãocapitalista está bloqueada, restaria por ora buscar melhorias pontuais que ou bem amenizem os sofrimentos dos viventes, ou bem preservem a possibilidade de alguma saída futura (em um momento de crise, de instabilidade social).
Ainda que a opção revolucionária não pareça ser a escolha de Adorno, é o caso de se perguntar se o Adorno reconstruído por Safatle não seria errado, mas ainda assim vivo, mais interessante para a situação na qual estamos enfiados do que o original.
O que emerge no colapso?
Safatle é plenamente consciente de que a época de Adorno não é a nossa. A obra adorniana tardia foi escrita no momento de agonia da sociedade afluente, de bem-estar e estabilizada do capitalismo avançado, e não à gestão social de crises neoliberal, com seu desmonte vertiginoso de todas as seguridades sociais (para não lembrar que, na época em que ele publicou a Dialética negativa, havia uma concentração de 325 partes de dióxido de carbono por milhão, na nossa, de mais de 415, o que nos joga irremediavelmente, ao menos no próximo milênio, no campo da gestão das crises, com a condenação de toda regularidade climática).
Partilho inteiramente do diagnóstico que Safatle aponta, ainda que não explique, de que vivemos em uma situação de colapso. Mas acho que ele não leva isto suficientemente a sério. De fato, isto traz consequências para o horizonte da crítica, para os limites do negociável, do possível, do desejável.
Safatle aposta na emergência, mas não seria o caso de perguntar o que está emergindo?
Com o derretimento das calotas polares e das geleiras muitas coisas vêm à superfície: cadáveres de animais e pessoas que passaram décadas congeladas; reservas de gás metano armazenadas sob o gelo, etc. Com a acidificação dos oceanos toda a vida submarina também começa a emergir, a vir à tona, na mesma medida em que ilhas imergem, afundam sob um oceano que se levanta. Seja qual for a forma de vida futura (se houver), pós-capitalista, é preciso lembrar que ela será vivida em um ambiente muito mais hostil, traiçoeiro e imprevisível.
Com o derretimento das democracias burguesas liberais coisas igualmente cheirosas estão vindo à luz. E aqui há de se notar a capacidade dos experimentos artísticos mais avançados de prefigurar o tempo por vir: de fato, Hamm, Clov, Nag e Nell, os pouco simpáticos personagens de
Fim de partida, de Samuel Beckett, parecem ter se mudado para o planalto central.
Com o derretimento do capitalismo vem emergindo uma sociedade ainda mais hierárquica, desigual, baseada ainda mais na força do que no direito, mais interessada em exterminar sua população tornada supérflua do que em explorar sua força de trabalho.
Contra isto não adianta resgatar o “sejamos realistas, exijamos o impossível”, mote das revoltas de Maio de 68 que não aparece na obra de Safatle, mas serve como resumo das intenções de sua reconstrução da dialética. Se afinal é de colapso que se trata, podemos muito bem pular a etapa, já tantas vezes vista, do candidato a herói que, não sabendo que era impossível, vai lá e descobre, e voltarmos para a etapa que realmente importa: a de fazermos, de forma magistral, nossa cantilena triste, nosso drama lutuoso, o lamento de nossas errâncias.
*Amaro de Oliveira Fleck é professor do departamento de filosofia da UFMG
Artigo publicado originalmente na revista Princípios da UFRN.
Referências:
Vladimir Safatle. Dar corpo ao impossível: o sentido da dialética a partir de Theodor Adorno. Belo Horizonte, Autêntica, 2019 (https://amzn.to/3E0aysx).
Theodor W. Adorno. Dialética Negativa. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2009 (https://amzn.to/45sNy16).
Theodor W. Adorno. Introdução à sociologia. São Paulo, Unesp, 2008 (https://amzn.to/3KMwfzY).
Theodor W. Adorno. Minima Moralia. São Paulo, Ática, 1992.
Theodor W. Adorno. “Marginalien zu Theorie und Praxis”. In: Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1986.
Amaro Fleck. “Resignação? Práxis e política na teoria crítica tardia de Theodor W. Adorno”. In: Kriterion, v. 58, n. 138, p. 467-490, 2017.
Georg W. F. Hegel. Enciclopédia das ciências filosóficas. Vol. I – A
Ciência da lógica. São Paulo, Loyola: 1995.
Karl Marx. Grundrisse. São Paulo, Boitempo, 2011.
Princípios: Revista de Filosofia, Natal, v. 26, n. 51, set-dez. 2019, Natal. ISSN1983-2109
Princípios: Revista de Filosofia 367
César Ruiz Sanjuán. “La dialéctica como forma de exposición científica”. In:
Pensamiento, v. 66, n. 249, p. 731-753, 2010.
Roberto Schwarz. “Sobre Adorno”. In: Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas. São Paulo, Companhia das Letras, 2012 (https://amzn.to/3P3t1ut).
Prefácio, por Peter Dews
Como devemos conectar a obra de um grande filósofo do passado ao presente? Será que deveríamos tentar ao máximo enxergar suas considerações sob as lentes de nossas próprias preocupações ou tornar seu pensamento relevante àquilo que consideramos ser nossa situação contemporânea? Ou será que deveríamos procurar entrar em um “mundo de pensamentos” que pode ser, em muitos aspectos, bem distante do nosso próprio – e que pode ter o poder de nos acordar do nosso “sono dogmático”, para usarmos a expressão que Kant criou para fazer referência a David Hume?
Talvez nenhum outro filósofo moderno tenha proposto essa questão de maneira tão incisiva quanto Hegel. Afinal de contas, a extraordinária ambição do pensamento de Hegel à síntese, assim como sua alegação de que sua obra representaria o ponto mais alto da história da metafísica ocidental, tanto incorporando quanto ultrapassando o pensamento de seus predecessores, torna essa mesma obra aberta a uma desconcertante multiplicidade de interpretações.
Hegel pode parecer extraordinariamente moderno – de fato um contemporâneo nosso – quando, por exemplo, demonstra sua preocupação em encontrar um equilíbrio entre a liberdade individual e a necessidade de a comunidade política controlar as forças centrífugas e corrosivas do mercado capitalista; também em seu esforço em compreender o status frágil, porém indispensável, da arte moderna; ou ainda em sua tentativa de revelar a natureza como algo que seja mais do que apenas um oposto inerte e alienígena à subjetividade humana.
Ao mesmo tempo, alguns aspectos da filosofia de Hegel podem fazê-lo parecer irremediavelmente antiquado. É assim quando pensamos em sua defesa da monarquia hereditária e em sua recusa em enxergar, politicamente, para além dos limites do Estado nacional; ou em sua convicção de que a religião tem um papel essencial no autoconhecimento humano e em sua tentativa de recuperar o que seria o conteúdo de verdades naquilo que ele considerava como a “religião perfeita”, o Cristianismo. Se for tomado pelo ponto de vista do pluralismo religioso e de estilos de vida das sociedades multiculturais, ou ainda pelo ponto de vista de nossas teorizações sobre o mundo globalizado, Hegel pode parecer, de fato, pertencer a tempos remotos.
Depois de um longo período de incompreensão e negligência, um número razoável de proeminentes filósofos em língua inglesa – Robert Pippin e Terry Pinkard nos Estados Unidos, assim como Paul Redding na Austrália – fez um esforço determinante, a partir dos anos 1980, visando trazer Hegel para o presente, retratando-o como um filósofo “naturalista”. No entanto, o tipo de enquadramento filosófico que eles tinham em mente não era o do “naturalismo duro” de muitos filósofos analíticos contemporâneos, aqueles que estão convencidos da autoridade ontológica singular das ciências físicas, mas sim um “naturalismo suave” supostamente capaz de acomodar em si o estatuto particular do mundo social e histórico.
As origens desse “naturalismo suave” se encontram na obra tardia de Wittgenstein, assim como em desdobramentos de determinados aspectos do pensamento wittgensteiniano feitos pelo filósofo P. F. Strawson, de Oxford. Nas mãos de pensadores como Pippin e Pinkard, entretanto, no cerne desse naturalismo suave se encontrava a noção de “normatividade”. Tratava-se de dizer que a singularidade da esfera humana estava no fato de nosso pensamento, nossa cognição e nossa agência serem todos guiados por regras e sempre necessitarem de justificação que se refira especificamente a elas.
Tais regras, por sua vez, podem ser entendidas como a cristalização de um consenso social que está sempre se transformando historicamente, e esse consenso é essencialmente o que Hegel chamou de Geist, ou espírito. A vantagem dessa abordagem de Hegel, segundo alegam seus proponentes, está no fato de ela retratá-lo como um pensador “pós-metafísico”, alguém não comprometido com nenhuma alegação especulativa dúbia acerca da natureza essencial da realidade, mas antes comprometido com a explicação das pressuposições normativas implícitas na vida e no universo humanos, assim como com a explicação das formas através das quais tais pressuposições podem entrar em conflito umas com as outras. A concepção hegeliana da dialética, sob essa perspectiva, emerge como uma teoria do desenvolvimento da autointerpretação coletiva dos seres humanos, tal como de fato ocorreu ao longo da História.
No entanto, numerosas críticas podem ser feitas a essa abordagem. Algumas delas podem ser explicitadas ao levarmos em conta as implicações do subtítulo dado por Terry Pinkard ao seu comentário a respeito de A fenomenologia do espírito: “A socialidade da razão”. Pois, se a própria razão for definida, em última instância, pelas estruturas das formas de socialidade historicamente existentes, então não temos nenhuma base racional para criticá-las.
Além do que, é claro que Hegel tinha, na Filosofia do direito, uma concepção muito bem definida dos tipos de instituições e práticas necessárias à concretização da liberdade moderna. Em outras palavras, mesmo se estendermos historicamente a interpretação “naturalista suave” de Hegel, como Pippin e Pinkard parecem querer fazer, e argumentarmos que a compreensão humana sobre a liberdade evoluiu, ainda assim o simples fato de compreendermos nossa concepção atual como, por exemplo, superior àquela da antiga polis grega, não nos fornece qualquer base para presumirmos que ela deveria ser racionalmente endossada.
Dizendo de outra forma, Hegel parece estar comprometido com uma concepção da razão e também da avaliação racional mais forte do que poderia nos fornecer essa interpretação com viés “naturalista” e histórico de sua filosofia. Ele está preocupado com a “racionalidade do social”, e não apenas com a socialidade da razão. É nesse sentido que Hegel argumenta, no prefácio de sua Filosofia do direito, que nossa experiência social do que “o direito significa exige […] que o conteúdo que é racional em si possa ganhar também uma forma racional e aparecer justificado para o pensar livre. Pois tal pensar não se detém no que é dado, mesmo se este é suportado pela autoridade positiva externa do Estado ou pelo acordo mútuo entre seres humanos ou pela autoridade do sentimento interno do coração e pelo testemunho do espírito imediatamente determinante, mas emana de si mesmo e exige saber a si mesmo como unido em seu mais profundo ser com a verdade.
Em anos mais recentes, tem ocorrido, de fato, uma reação a essas versões metafisicamente deflacionárias de Hegel que exerceram tanta influência no mundo anglófono e mesmo na terra natal de Hegel. Um novo estilo de interpretação, capitaneado por comentaristas como James Kreines, baseia-se no argumento central de que Hegel procura evitar a proposição de um substrato ou de uma substância que fundamente toda a realidade ou qualquer segmento particular dela. O problema com esse suposto substrato último é o fato de ele não viabilizar nenhuma forma de trabalho explanatório. Ele não tem como levar em consideração a natureza intrínseca daquilo a respeito do qual ele deveria servir de suporte ontológico.
Na verdade, Kreines sustenta que: “A posição de substratos, enfim, não repousa em qualquer necessidade real de explicar, mas apenas na presunção de que a realidade corresponde à forma do juízo sujeito-predicado. Hegel rejeita essa presunção, sustentando que devemos também rejeitá-la a fim de conseguirmos dar sequência de forma absoluta à completude especificamente de razões.”
Mas o que significa estabelecer a completude de razões? Kreines afirma que a proposta metafísica de Hegel “é a de que […] existentes são reais em graus maiores ou menores, dependendo do quanto são racionais ou do quanto expressam a ideia em questão. Essa metafísica se molda bem à alegação epistemológica de que o objetivo da razão ao guiar o questionamento teórico é o de explicar as coisas tão completamente quanto elas próprias permitirem, entendendo-as em comparação com a completude da razão, o que é, por fim, conseguido no caso de algo racionalizável e, portanto, livre.
Entretanto, sua interpretação também tem suas dificuldades. Na tentativa de evitar que Hegel seja visto como um monista metafísico, Kreines sustenta que, para Hegel, a razão se realiza na matéria bruta do mundo, e, portanto, Hegel é comprometido apenas com um monismo epistemológico, monismo este presente na alegação de que entender por que as coisas são como elas são envolve localizá-las como expressões da estrutura conceitual da Ideia, a qual, por sua vez, não é ela mesma um substrato de nenhum tipo, mas também igualmente não explica todo o ser contingente.
No entanto, como Frederick Beiser sugere, tal abordagem, que reconhece um elemento irredutível de contingência naquilo que Hegel chama de “realidade externa” (äusserliches Dasein), introduz uma distinção entre forma e conteúdo que, em princípio, é alheia à forma de pensar de Hegel. Mais especificamente, conforme argumenta Beiser, “uma alegação que demonstrou aprioristicamente a necessidade da contigência resolve ela mesma o dilema que propõe? [Hegel] mostra que a particularidade e a diferença surgem por necessidade da autodiferenciação da vida absoluta. Mas a contingência foge a qualquer explicação simples nesses termos. Muito embora a metáfora da vida possibilite entender como o universal se torna particular e como um se torna múltiplo, ela não consegue explicar como o necessário se torna contingente.”
Colocando em outros termos, parece que a interpretação de Kreines só evita o “monismo metafísico” ao custo de suprimir o impacto pertubador que a contingência introduz no sistema hegeliano, precisamente por Hegel estar consciente de sua necessidade. É um impacto que causa uma quebra por não poder ser imediatamente localizado dentro ou fora do sistema.
Este, poderíamos dizer, é o fio condutor da narrativa de Vladimir Safatle neste livro, sobre a reconfiguração que Adorno propõe à dialética hegeliana. O casamento entre Adorno e Hegel se mostra tão poderoso e profundo porque evidencia como Adorno não tenta “adaptar” ou “atualizar” o pensamento de Hegel, de modo a fazê-lo se conformar às presunções da filosofia do fim do século XX. Mas, por outro lado, Adorno também não ignora as tensões criadas pela teoria de Hegel naquilo que ele chama de “a onipotência do conceito” (die Allmacht des Begriffs), por exemplo, quando transforma essa toda-potência em uma questão simplesmente epistemológica. Adorno adentra o pensamento de Hegel tão completamente que se vê capaz de revelar seu esforço de mediar o subjetivo e o objetivo, o racional e o contigente, o prático e o teórico.
Por isso, como Safatle demonstra de maneira convincente, a concepção de dialética hegeliana que Adorno assim traz à tona não pode ser condenada nos termos propostos por um pensador antidialético como Gilles Deleuze, que articulou talvez a mais radical versão de uma crítica a Hegel, com a qual compactuam muitos outros pensadores franceses dos anos 1960 e 1970.
Deleuze sustenta que a teoria da contradição de Hegel é sua forma de superar, de “domar” a diferença. Da maneira como ele coloca, para Hegel, “[…] na contradição posta, a diferença encontra seu conceito próprio, é determinada como negatividade, se torna pura, intrínseca, essencial, qualitativa, sintética, produtora, e não deixa subsistir a indiferença.” Suportar, suscitar a contradição, é a prova seletiva que “faz” a diferença (entre o efetivamente-real e o fenômeno passageiro ou contingente).
Adorno, no entanto, reverte essa alegação – e Safatle concorda com ele nesse aspecto. A radicalidade da filosofia de Hegel, para Adorno, consiste no fato de que o “efetivamente real” (o poder atualizado do conceito) está o tempo todo a ponto de colapsar rumo ao transitório e ao contingente. Então, é impossível deixar de lado a contingência, como propõe fazer o “monismo epistemológico” de Kreines, já que o intrinsicamente racional e o contigente não têm como ser mantidos afastados de maneira completa.
Hegel, no começo da Ciência da lógica, pode tentar deslizar de “o indeterminado” (das Unbestimmte) para “a indeterminação” (die Unbestimmtheit), mas, para Adorno, esse legerdemain conceitual, que dissolve aquilo que é sem nome e resistente ao pensamento, não convence. Se observarmos bem de perto, diz Adorno, conseguiremos ver que, na dialética de Hegel, “a assim chamada síntese é nada além do que a expressão da não identidade da tese e da antítese”.
Ao pacientemente explorar como Adorno se imerge no pensamento de Hegel, e ao focar na não identidade que é repetidamente revelada por meio de seu movimento dialético, Vladimir Safatle demonstra neste livro toda a relevância contemporânea e a radicalidade da filosofia de Hegel. E ele faz isso com muito mais sucesso do que qualquer outra tentativa de transformar Hegel em um “naturalista pós-metafísico” ou no expoente de uma metafísica racionalista orientada epistemologicamente.
*Peter Dews é Professor Emérito de Filosofia da Universidade de Essex.