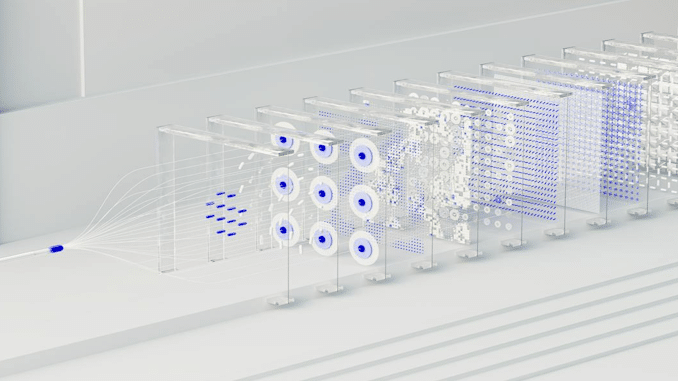Por LAYMERT GARCIA DOS SANTOS*
Com a pandemia, o genocídio passa a se configurar efetivamente como política estatal.
A equipe editorial do site A Terra é Redonda concebeu a publicação de uma série de artigos sobre a era Bolsonaro intitulada “Dois anos de desgoverno”. O que leva a interrogar-me sobre o que teriam em mente e a pensar, antes de tudo, no sentido ambíguo do termo proposto.
Com efeito, numa acepção primeira, mais frequente, desgoverno designaria um governo errático feito uma biruta, desorientado, sem rumo definido. A ser verdade, estaríamos diante de uma atuação marcada sobretudo pela imprevisibilidade, pela ignorância e pela incompetência de governantes “sem noção”. Mas tal perspectiva só procede se tomarmos como medida e parâmetros aquilo que a era Bolsonaro não é (mas deveria ser…): uma democracia representativa funcionando, ainda que precariamente, de acordo com as regras de um Estado de Direito republicano.
O que, convenhamos, não é bem o caso, tendo em vista a sucessão vertiginosa de antecedentes criminosos e fraudulentos dos últimos seis-sete anos que abriu o caminho para a ascensão da orcrim ao poder máximo. Aliás, a rigor, tal sucessão nem precisaria ser lembrada – está gravada na mente traumatizada de todos. Assim, se levarmos a sério o que aconteceu, e que é do conhecimento geral, torna-se impossível aceitar que a palavra desgoverno designe desacerto. Aceitar tal hipótese seria corroborar a tese da primazia da falta de competência e de conhecimento, da falta da arte de governar…
Seria, então, desgoverno um des-governo, isto é, o desfazimento da política de Estado, pelo menos tal como a experimentamos, de novo, precariamente, no Brasil republicano? Se for isso, temos de admitir que não há falta, há afirmação sempre reiterada de um agencia categórica de desmandos para destruir a frágil ordem vigente até então, com suas leis, usos e costumes, em todas as esferas da vida social, visando implantar uma nova ordem – ainda que ela aspire à reconfiguração fantasmática do rebotalho do passado colonial e da ditadura.
Nesse caso, deveríamos compreender a expressão “dois anos de desgoverno” em sua acepção positiva, isto é, como dois anos de uma política deliberada de destruição das instituições, de decomposição da nação e de desconstituição da sociedade brasileira. O que, evidentemente, a inteligência praticamente se recusa a aceitar, dada a enormidade e a monstruosidade do empreendimento. Pois estaríamos falando do fim do Brasil como país.
Mas se à lucidez repugna tal constatação imperiosa, o mesmo não acontece com os afetos. Sente-se o choque do fim na angústia renovada (e intensificada) a cada dia, que se declara incontornável e, ao mesmo tempo inassimilável. Como diria o escritor Henry Miller, o mundo degringola primeiro secretamente, no inconsciente, antes de irromper no exterior.
“Se penso na Alemanha durante a noite, / Logo perco o sono.” – escreveu Heinrich Heine, na década de 30 do século XIX. Os célebres versos do poeta alemão dão uma ideia da inquietação que o sacudia. Ora, o que dizer da reação dos intelectuais brasileiros diante de um “país em crise total e mortal”, na expressão do arguto analista político Jânio de Freitas? Parece-me que perdem muito mais que o sono. Perdem, além dele, a voz – seja porque não encontram palavras à altura do acontecimento, seja porque só lhes resta esgoelar as desgraças até a rouquidão, em um alarme tanto mais estridente quanto mais impotente. O silêncio… ou palavras ao vento.
À esquerda, muita gente reclama da falta de intervenções propositivas, da desconexão dos intelectuais com o povo e com o país. Talvez não seja um caso de indiferença, de desinteresse, mas sim da percepção que o horizonte do Brasil se fechou, tornou-se “horizonte negativo”. Isso fica bastante evidente quando pensamos nos grandes intelectuais brasileiros do século XX. Apesar dos óbices de toda ordem (e mapearam muitos), eles acreditavam que seria possível superar a herança maldita do passado colonial e construir um futuro.
Por isso, dedicavam-se à questão da formação de um país chamado Brasil – que se pense em Caio Prado Jr, em Sérgio Buarque, em Gilberto Freire, em Antônio Candido, em Florestan Fernandes, em Celso Furtado, em Darcy Ribeiro, e tantos outros tentando entender o Brasil para ajudar a transformá-lo. Mas quem, hoje, pode em sã consciência pretender pensar o país em termos de formação? Roberto Schwarz, já na década de 1990, empregava o termo desmanche para designar uma característica maior do capitalismo contemporâneo, e, em 2003, nomeava o Brasil como um “ex-país ou semipaís”; Paulo Arantes publicava em 2007 um livro intitulado Extinção, e Chico de Oliveira, que tanto amava a sua terra natal, teve de reconhecer nela a figura de um ornitorrinco…
Não faz muito tempo – foi em 2003! Hoje, a evolução sem saída do ornitorrinco-Brasil se consumou. O bicho cresceu exponencialmente, assumiu sua dimensão continental. E cada uma de suas incongruências entrou em guerra com todas as outras, dilacerando a figura monstruosa. Salvo engano, sem remissão.
Desgoverno?
A palavra, agora, até soa gentil, recatada demais para nomear um processo letal, desde que os diversos estratos do establishment selaram uma aliança jurada sobre a bíblia do fundamentalismo neoliberal para acabar com a raça dos trabalhadores e abrir a temporada internacional de rapina dos recursos do Brasil, enormes, porém não-inesgotáveis.
Cada estrato do establishment deu a sua contribuição específica: os militares inventando e promovendo Jair Bolsonaro com métodos de guerra híbrida até alçá-lo ao trono, para supostamente “salvar” o Brasil do comunismo petista e a Amazônia da cobiça internacional, através de uma política de terra arrasada (o que inclui, além da devastação dos biomas, a limpeza social e étnica do território, com o genocídio de índios e quilombolas); o Judiciário pondo em prática o lawfare da Lava-Jato em todas as instâncias, para criminalizar os opositores e instaurar a exceção permanente; os órgãos de “segurança” mancomunando-se com milicianos e jagunços para semear o terror nas periferias e ameaçar os movimentos sociais e seus líderes no campo e nas cidades; a grande mídia com sua leniência em relação a todos os crimes que vêm sendo cometidos, para não falarmos de seu mal dissimulado jogo de afetar “independência” mas fechar com a extrema-direita sempre que necessário; e, last but not least, a alta finança e o alto empresariado – verdadeiro pilar de sustentação do regime, junto com os militares –, interessados nas “reformas” que implicam na demolição do pouco de Estado de Bem Estar que existia e na conversão do Estado em mera polícia do Kapital. E não vale invocar a resignação suspirosa dos punhos de renda por terem de tolerar a escrotidão sem limites dos governantes. A sagração do lumpesinato miliciano aos postos máximos é obra deles, sua responsabilidade histórica.
A Lei, a Ordem, o Kapital… e todos os “homens de bem” do establishment. De mãos dadas com o lúmpen de todos os estratos sociais, em prol da destruição. Por motivos diversos, porém convergentes. Os bandidos do Judiciário para transformar o poder de julgar e punir (e seus efeitos) em cosa nostra; isto é o poder da lei em poder do arbítrio. Os militares, associados aos milicianos, para exercer o mando através da força armada e do medo dela. O Kapital para impor o fundamentalismo neoliberal. É sabido que este tem como princípios basilares o não-reconhecimento da existência da sociedade e a extinção da categoria “trabalhadores”, até mesmo de uma perspectiva teórica. “And, you know, there’s no such thing as society. There are individual men and women and there are families” – sentenciara, em 1987, Margareth Thatcher, o totem de Paulo Guedes, junto com Pinochet.
Há indivíduos e há mercado. E como não há mais trabalhador, quem puder que se transmute em empreendedor, capitalista de si próprio, investindo no mercado seus recursos inatos e adquiridos. Quem não puder, “sujeito monetário sem dinheiro”, na expressão de Roberto Schwarz, que morra em silêncio, como descartável. Por isso mesmo, todas as reformas propostas convergem para a extinção de todos os direitos, inclusive o direito à vida, menos o sacrossanto direito à propriedade. Por isso mesmo, garantia de emprego e renda, acesso à saúde e à educação, estabilidade do serviço público, moradia, segurança pública, ciência, cultura, ambiente, vida enfim, precisam ser aniquilados. Em última instância, o fundamentalismo neoliberal reserva às populações, como única perspectiva, a vida nua, isto é, matável.
Assim, para todo lado que se olhe, na cena da vida brasileira, prevalece a tendência à destruição e uma formidável pulsão de morte, cuja manifestação concreta teve início em 2013. Agora que ela se espraiou, o projeto do desgoverno é mobilizá-la nos níveis micro e macro, isto é tanto dentro do indivíduo quanto no coletivo, é desembestá-la para, posteriormente, quem sabe, instaurar sobre os escombros um regime de dominação total.
Isso já foi diagnosticado por vários analistas e classificado como necropolítica, seja ela considerada fascista, ou meramente autoritária, bonapartista, etc… Contudo, o diagnóstico ficou restrito ao âmbito dos letrados e era de difícil compreensão até para as camadas médias mais informadas das grandes cidades. Ora, a pandemia mudou tudo, ao tornar explícito o projeto criminoso. Levou certo tempo, é claro, para que todo mundo entendesse que a inexistência de uma política sanitária era deliberada e zelosamente conduzida pelo Ministério da Saúde, além de acompanhada por medidas administrativas de toda sorte que pudessem, seja impedir o combate ao vírus, seja comprometê-lo.
Entretanto, a partir da publicação da pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Conectas Direitos Humanos, no início de 2021, ficou demonstrado que Bolsonaro tem uma “estratégia institucional de propagação do coronavírus”. Ou seja: o genocídio deixou de ser deduzido do desgoverno federal, como um desacerto, passando a se configurar efetivamente como política estatal. À falta de medidas sanitárias preventivas, para evitar a proliferação do contágio, somou-se a falta, patente, de vacinas e de outros insumos, sem esquecermos da promoção sistemática de medidas pró-contaminação. Já nem se trata de um descaso com a pandemia, de um Cada um por si e Deus contra todos – é pior, muito pior. Assim, a peste radicalizou a crise ao escancarar a natureza perversa do governo e ao inviabilizar o mantimento das aparências de que “as instituições estão funcionando”.
Num texto instigante e, num certo sentido, profético, intitulado “Para além da necropolítica”, Vladimir Safatle prenunciou que a crise entrava numa nova fase, na qual a disseminação da morte deixava de ser dirigida aos “outros”, para tornar-se, também, suicídio do Estado. Inspirando-se no conceito de Estado Suicidário forjado por Paul Virilio para pensar a lógica explicitada pelo nazismo quando a constatação da derrota se tornou incontornável (o famoso Telegrama 71, no qual Hitler ordena: “Se a guerra está perdida, que a nação pereça”), o filósofo aponta que o Brasil se tornou ingovernável.
Não em virtude de uma espécie de efeito colateral e imprevisto do processo de destruição, mas sim porque militares, magistrados, políticos, financistas, madeireiros, mineradoras, agronegócio e investidores internacionais, em luta para arrancar o máximo que puderem da riqueza nacional, no menor tempo possível, atuam no sentido de acelerar o fim do Estado-Nação. No entender de Safatle, esse é o sentido do “experimento” que está sendo posto em prática aqui.
Cujos contornos se delineiam quando o entreguismo desenfreado e a destruição das instituições ganham sinergia. No estamento militar, com a desmoralização continuada de um Exército já comprovadamente desonrado; no Judiciário, com as revelações escabrosas da Vaza Jato desmascarando as ilegalidades da “República de Curitiba” e a cumplicidade das instâncias superiores, elevando ao máximo a insegurança jurídica (Walter Delgatti é o nosso Snowden, o hacker que expôs as entranhas podres que o establishment mais desejava esconder); na diplomacia, com a transformação do Brasil em molambo internacional e seu banimento do jogo geopolítico; na política, com as negociações escandalosas entre o Centrão e os militares bolsonaristas, afundando ainda mais o Congresso no já conhecido pântano da corrupção; e agora, no primeiro embate entre o bolsonarismo e o mercado, uma vez que as contradições entre o projeto de poder total miliciano-militar e as exigências do Kapital nem sempre convergem, o que deve ensejar o aprofundamento da crise para a população e para o país.
Em suma: o establishment está sendo atravessado por tensões violentas entre suas diferentes vertentes e dentro de cada uma delas. E já dá sinais de que tem dificuldades para processá-las e contê-las, muito embora siga acreditando que pode jogar a conta exclusivamente nas costas da população, como sempre foi o seu costume.
Alguém acredita que o Kapital rifará Bolsonaro através de um processo de impeachment por seu descontentamento com a intervenção militar na Petrobrás? Seria fácil criminalizá-lo – há razões de sobra. Mas poucos dias antes o Kapital não havia recebido de presente a autonomia do Banco Central? Caso houvesse um rompimento, como ficaria a santa aliança para gerir a liquidação do mundo do trabalho, sem o braço armado que em última instância permite executá-la? Por outro lado, há chance de o nacionalismo de araque dos militares tornar-se algo sério, a ponto de passar a confrontar diretamente os planos do Kapital, que o governo endossava até ontem? Há forte probabilidade de tudo terminar em pizza, com Bolsonaro e os militares cedendo… Porém, as fissuras vão se acumulando… enquanto a esquerda ainda parece acreditar numa saída eleitoral para contradições e conflitos dessa envergadura!
Vários indícios e tendências sugerem que o diagnóstico de Vladimir Safatle está correto. A destruição das instituições conduz à decomposição do país e à desconstituição da sociedade; sugere que o Estado brasileiro está num processo suicidário, levando junto o povo e a nação. E não será o conceito miserável e fajuto de “Nação” dos militares que poderá camuflar a desintegração do Brasil. Cujas consequências, evidentemente, serão incalculáveis, tendo em vista a riqueza de recursos em água, em minérios, em petróleo, em florestas. Mais ainda: tendo em vista a dimensão continental do Brasil e sua importância crucial para a solução do aquecimento climático global.
O mundo inteiro tem interesse em que o Brasil sobreviva. Mas o establishment brasileiro não tem olhos nem ouvidos para a intensidade do colapso. O establishment tem certeza de que tudo está como sempre esteve. Sob controle.
*Laymert Garcia dos Santos é professor aposentado do departamento de sociologia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de Politizar as novas tecnologias (Editora 34).