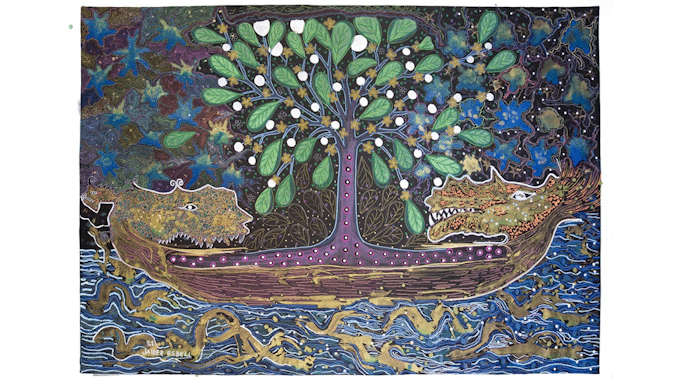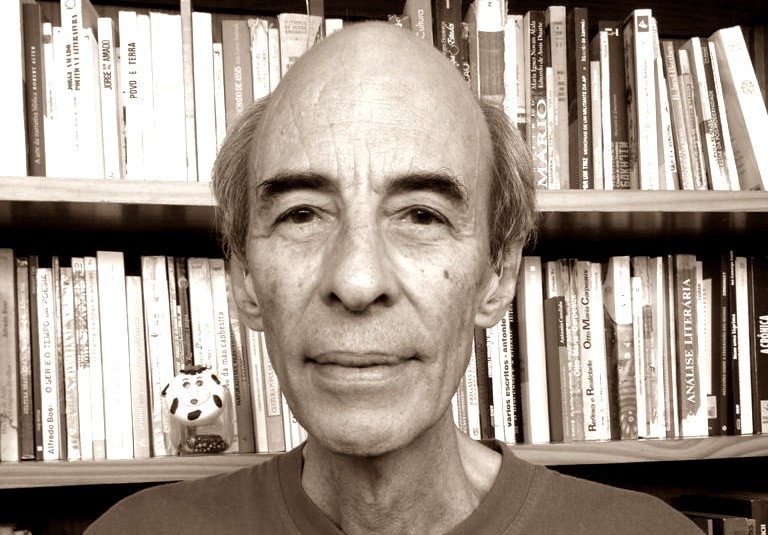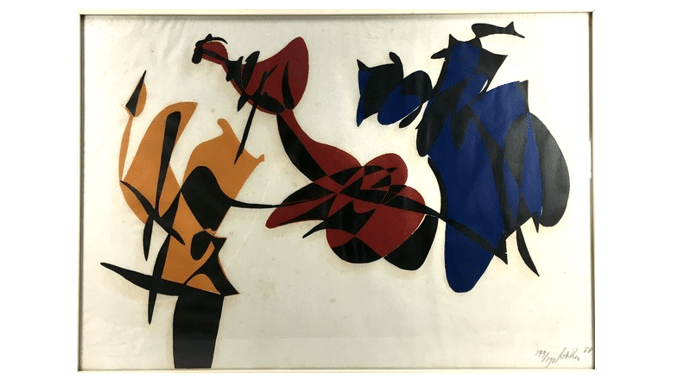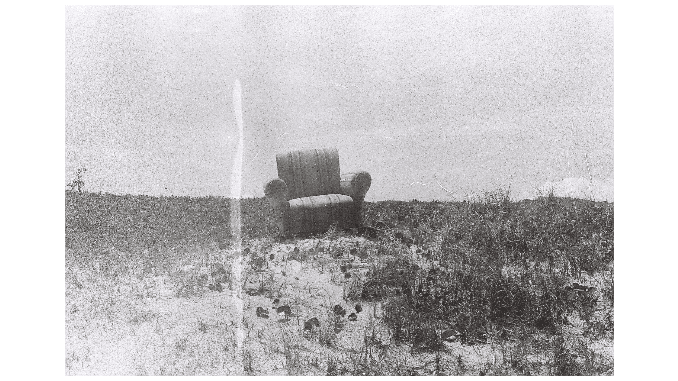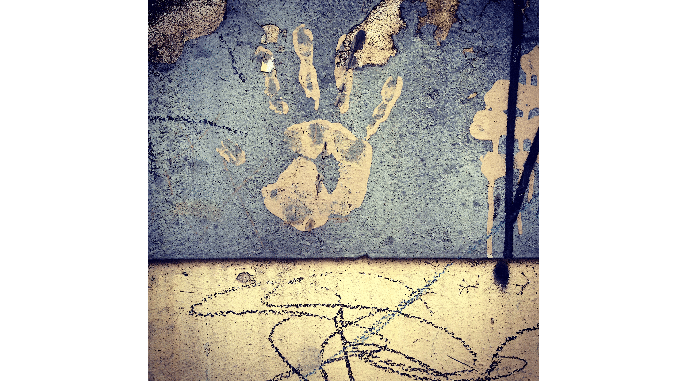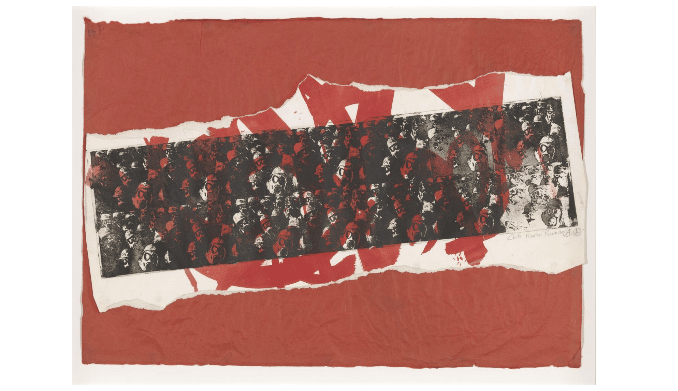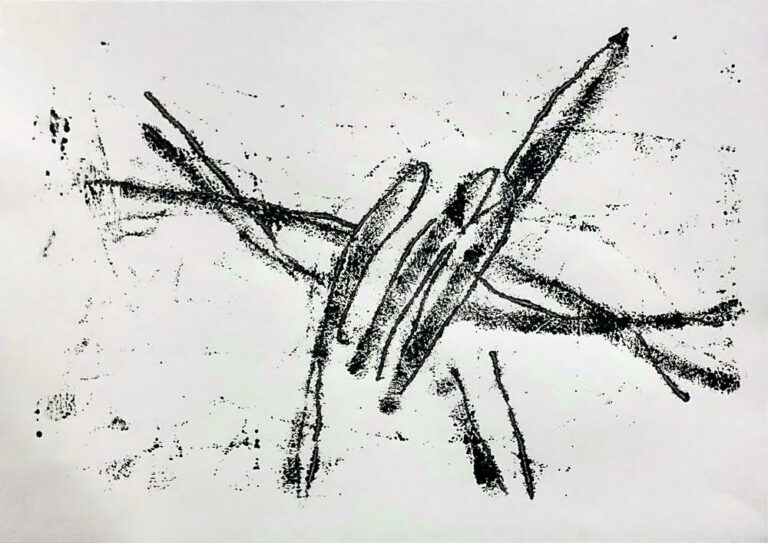Por EDU TERUKI OTSUKA & IVONE DARÉ RABELLO*
Comentário sobre o filme dirigido por Jean Claude Bernardet e Rubens Rewald
1.
Exibido em 2020, na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes (MG), #eagoraoque (roteiro e direção de Jean Claude Bernardet e Rubens Rewald) não teve a divulgação que mereceria nem a discussão que os impasses postos em cena poderiam suscitar.
O símbolo # (hashtag) é utilizado nas redes sociais para categorizar tópicos, possibilitando vincular postagens e opiniões sobre o assunto. Assim, #eagoraoque pretenderia provocar um debate que, porém, parece não ter havido de modo amplo entre o público a que se destinaria.
Está pressuposta, no título, uma pergunta,[i] e o filme fornece materiais para que o espectador venha a formular questões relativas ao engajamento do intelectual considerando os novos problemas postos pela situação contemporânea. Sem formular soluções, Jean Claude Bernardet e Rubens Rewald não quiseram fazer um filme que apresentasse proposições afirmativas; o filme provoca perguntas indispensáveis para discutir perspectivas de ação política de esquerda diante da atual configuração social e política agravada pelo avanço da extrema direita.[ii]
#eagoraoque apresenta situações contraditórias que envolvem não apenas os diferentes pontos de vista das várias personagens mas também atitudes e ações da figura central, encarnada por Vladimir Safatle, que ao mesmo tempo é ele próprio e um personagem ficcional representativo de parcela dos intelectuais de classe média[iii], de esquerda: aquele que atua publicamente em diversos espaços (como Universidade, imprensa, programas de TV e de internet), com interlocução limitada às camadas médias intelectualizadas. As ações desse personagem, porém, não se limitam a esse tipo de intervenção, pois ele procura estabelecer contato com militantes de movimentos sociais periféricos.
A variedade de situações apresentadas no filme delineia um quadro da política contemporânea: militância feminista negra, movimento dos sem teto[iv], grupos periféricos negros, militância estudantil em assembleias, atuação do intelectual na mídia e debates na Universidade. Além disso, há outras cenas que, em princípio, não teriam caráter político, mas tornam-se representativas de aspectos políticos da relação familiar e da relação com setores da burguesia.
Assim, as relações familiares são marcadas pelas discussões políticas de Safatle com sua filha (Valentina Ghiorzi) e com seu pai (Jean Claude Bernardet), sempre com embate de pontos de vista divergentes. Também se encena um evento artístico, em ambiente burguês, onde Safatle e sua filha apresentam um número musical, após o qual, e sem relação de continuidade, o intelectual interpela incisivamente as atividades e afiliações políticas dos que ali estão presentes. Em todas as situações, posições são enunciadas, formas de ação são sugeridas, opiniões são questionadas, mas não há de fato diálogo.
O fundamento técnico da forma deste filme é a construção não-linear e não-cronológica e não-causal das cenas. Os fragmentos descontínuos realizam o que foi exposto como intenção dos diretores: não apresentar respostas prontas ou o que Jean Claude chama de “mensagem”.[v] Trata-se de apresentar um problema, cujo lastro vem de longe e cujo núcleo diz respeito às relações entre intelectual de classe média e as populações espoliadas. Na atualidade, com a ascensão da extrema direita e com a ampliação do ativismo em diversos movimentos sociais, identitaristas ou não, o intelectual radical[vi] representado por Safatle busca articular-se com militantes de alguns desses grupos para ampliar as lutas.
No entanto, nem sempre as condições para isso estão dadas; além disso, alguns desses militantes não estão interessados em uma discussão conjunta. A desejada aliança entre intelectual de classe média e “povo”, cuja referência – para o bem e para o mal – continuam a ser os anos de 1960, é apreendida no quadro atual, no momento em que a luta de classes se reconfigurou e cujas novas características desafiam as esquerdas que atuavam nos termos clássicos da oposição operariado versus burguesia. Como atuar junto aos movimentos sociais de maneira a melhor compreender suas demandas específicas e contribuir para ampliá-las na direção da luta antissistêmica?
No conjunto do longa, há um aprofundamento na apreensão dos impasses com os quais o intelectual radical se defronta em sua atuação política. Trata-se de apresentar pouco a pouco os confrontos, nos quais os diferentes pontos de vista enunciados não se alteram em função da discussão (por vezes sequer são de fato ouvidos, como é o caso dos jovens negros na reunião no Capão Redondo[vii]). A possibilidade de aliança se frustra.
Numa das primeiras cenas, Jean Claude, intelectual militante da geração identificável aos anos 1960/1970, que em outra época se aproximara dos sindicatos para aprender com os operários,[viii] lê em voz alta frases do artigo do filho publicado no jornal (que remete a “Organizar as lutas”, de Vladimir Safatle[ix]):
A situação brasileira atual não é apenas a figura da emergência de novos perigos; ela é a expressão de um esgotamento profundo dos modos de organização das lutas e das mobilizações. A esquerda se deixou configurar como força reativa, incapaz de propor pautas.
Comentando o texto em voz alta, o pai concorda com a tese sobre a esquerda, mas pergunta-se quem vai entendê-lo. Busca o filho e lhe diz que o artigo está bem escrito mas é pura retórica: “Está acima da realidade – uns dois metros. Precisa cair no chão, perceber as coisas”.[x]
À provocação do pai – para quem a discussão política efetiva pressupõe uma forma de comunicação que parta da linguagem e da compreensão do outro sobre a realidade –, Safatle, que na cena está compondo uma peça pianística erudita, não quer ser interrompido nessa sua atividade: “Vou me perder aqui. Deixa eu só terminar e a gente conversa depois”.
O que inicialmente se apresenta como um conflito de gerações, envolvendo diferentes concepções da ação política, sinaliza também transformações históricas nas condições e possibilidades de engajamento por parte dos intelectuais radicais.[xi] Também parece não haver interesse efetivo, da parte de Safatle, em discutir seu posicionamento com o pai. As diferenças não produzem diálogo.
O sentido dessa cena se amplia quando pensadas em conjunto com as que a antecedem: a que inicia o longa mostra, em close, a tela de um celular com um game em que o jogador controla “Bolsomito” para que ele destrua seus oponentes, batendo nos inimigos até que eles se transformem em fezes.[xii] Aparece, então, a adolescente e, logo a seguir, Jean Claude se aproxima e lhe pergunta se é um “jogo de matar” e se ela gosta de matar gente. Com um sorriso entre ingênuo e cínico, ela responde “Sim”. Focaliza-se, em ato, a força da indústria cultural, que molda os comportamentos estabelecendo uma meta que deve ser realizada independentemente do sentido dos atos praticados para esse fim.
A cena seguinte, em contraste nítido com a anterior, mostra Jean Claude se enxugando após o banho, na qual se intercala sua imagem empunhando uma arma, sem que se possa discernir se se trata de rememoração ou anseio[xiii]. A arma, aqui, tem significado muito diverso da morte como entretenimento eletrônico, em que se naturaliza o ato de “exterminar o inimigo”. Jean Claude aponta o revólver para o espectador, presumivelmente o público de classe média intelectualizada. Ou aponta para o oponente de classe, os donos do poder?[xiv]
A esses quadros heterogêneos, soma-se mais um, na 3ª cena. Em close, de perfil, Marlene (Palomaris Mathias), uma militante negra, questiona o que é democracia, confrontando o conceito abstrato com problemas concretos da experiência dos negros: “Ser tratado como marginal é democrático? Ser o primeiro a ser o suspeito como bandido é democrático? […] Ocupar apenas os trabalhos mais subalternos da sociedade é democrático? Então, pra mim, essa pergunta, se favela é democracia, é uma ofensa”. Referindo-se à experiência cotidiana e geral dos negros no Brasil, ela denuncia a presunção de haver democracia no país discricionário. Fica em aberto, assim, o que a move politicamente. Marlene defende que haja democracia, isto é, a integração “igualitária” do negro na exploração capitalista? Ou põe em xeque a própria ideia de democracia burguesa, o que implicaria uma nova forma de organização político-social? As perguntas que a cena nos propõe retornam para nós, espectadores: como não é possível determinar qual é o anseio desse outro, temos de buscar compreendê-lo para que seja possível articular projetos coletivos.
Essa cena é peça-chave para o que está proposto desde o título do filme. Como ela é construída por perguntas sem resposta, a tendência do espectador é interpretá-las a partir da própria experiência. O intelectual de classe média poderá avaliar a fala de Marlene, enquadrando-a, de acordo com os seus (dele) esquemas conceituais, como defensora (ingênua?) da integração pela exploração. Mas o filme, que apresenta a fala de Marlene, mantendo-a como uma sequência de interrogações, parece provocar essas interpretações para problematizá-las, potencializando assim a possibilidade de enquadramento interpretativo em categorias pré-estabelecidas. Para que se compreendesse o significado do que Marlene questiona, seria preciso que a comunicação não sofresse, de antemão, o bloqueio provocado pelo ajuizamento de quem não conhece o fundamento da reflexão desse outro, nem o seu significado para a lógica desse outro.
As quatro cenas iniciais desenham o embate, marcado, como dissemos, por perspectivas diversas no enfrentamento de problemas comuns à sociedade brasileira contemporânea. No desenvolvimento do filme, esse embate se acirra cada vez mais. Como a escolha da direção é pela sequência descontínua, a construção do significado final exige a participação do espectador; o sentido não lhe é dado por um fio narrativo unificado, o que constitui uma espécie de chave formal para promover o debate, sem as respostas unidirecionadas do enredo tradicional.
Apesar disso, a problemática posta pelo longa vai se definindo com clareza: as perspectivas de atuação do intelectual radical, na atual configuração da luta política, diante daqueles (e não com aqueles) que poderiam a ele aliar-se ou aceitar seu apoio. Esses companheiros pretendidos, porém, organizam-se na defesa de pautas que, se não são antagônicas entre si, também não são apresentadas em articulação com uma luta anticapitalista, que parece ser o foco da concepção e da vontade políticas de Safatle.
A aliança pela qual se esforça o intelectual encontra obstáculos pelo fato de que, em seu intuito voluntário de comunicar-se, sem proposições assertivas, lança questões que não são respondidas ou sequer levadas em conta. Isso ocorre na cena com um representante do “povo politizado” (Valmir do Coco) bem como na negativa categórica do grupo de militantes no Capão Redondo de dialogar com Safatle. Revela-se assim não apenas o impasse vivido pelo intelectual de classe média mas também o desencontro entre as lutas de alguns movimentos sociais centrados em questões específicas e a tentativa de, respeitando-as, canalizar suas energias e fomentar a ampliação do alcance da luta. No entanto, o problema é ainda mais complexo, uma vez que não se sabe efetivamente se a luta dos identitaristas não visa à transformação revolucionária, já que eles não abrem o jogo.
Na cena em que Safatle entra numa sala da Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo, um grupo de mulheres discute o feminismo. Na lousa, uma das participantes, Matilde, escreve: “De que mulheres estamos falando?”, buscando fazer avançar o debate sobre questões de gênero, raça e classe. Procurando a sala pelos corredores (enquanto se ouvem, em off, vozes das mulheres na reunião), Safatle entra com o debate em andamento e sua presença destoa por ser ele o único homem, e um branco, num grupo de mulheres majoritariamente negras.
Na discussão sobre o lugar das mulheres na sociedade, ele intervém: “Acho que tem uma questão de organização para a luta política […]. Dentro dessa sociedade não tem lugar pra gente. Ela é pequena demais pra você, pra você, ela é pequena demais pra todo mundo. […] Essa sociedade precisa desabar, precisa desaparecer”. Ao que parece, a intenção de Safatle é provocar a ampliação do debate, buscando conectar as falas específicas ao questionamento da sociedade capitalista como um todo, de maneira a evitar a limitação da luta à perspectiva de integração social ou o fechamento em lutas no âmbito comportamental (no caso da militante que afirma ser bom viver na bolha de “mulheres lésbicas negras, bissexuais”, pronta também para combater a violência cotidiana contra a mulher). Mas sua fala não ecoa; a falta de ressonância dela aponta a distância entre a experiência do intelectual de classe média e a dessas mulheres que vivenciam cotidianamente a violência contra elas, também compartilhadas pelas chamadas minorias LGBTQIA+. O diálogo não acontece.
É assim que as questões decisivas do filme parecem incidir sobre a possibilidade de comunicação com diferentes militantes, o que implica a necessidade de intelectuais de classe média, com uma vivência muito diversa, saberem “ouvir o povão”[xv] e, respeitando ou compreendendo o ponto de vista dele, atuar e transformar-se. Por outro lado, para que essa comunicação se efetivasse seria necessário que os grupos militantes vissem esse intelectual como aliado.
Em contraste com a interação conflituosa na família (com o pai e com a filha) e com a intervenção pública (na TV, jornal e manifestações políticas com público universitário), a ida do intelectual ao “povo” concentra-se em dois momentos decisivos em que se encenam tentativas de alianças. Num deles, o intelectual não concorda com o que lhe é proposto; no outro, quando ele pretende propor uma reflexão sobre a sociedade, é rejeitado pelos envolvidos.
No primeiro caso, Marlene, que atua em grupos periféricos, pede-lhe que escreva um texto que ela lançaria nas redes de coletivos, de negros, mulheres, LGBTQI+, de modo que, pressupõe-se, haveria mais chances de difusão graças ao renome do intelectual. Safatle responde que o texto teria de ser coletivo. Entre discussões sobre como iniciar um texto coletivo, quando a discussão coletiva sequer começou, entra Jean Claude, que declara ironicamente: “Duas almas iluminadas em busca da centelha da revolução!” A conversa é também em parte perturbada pela empregada que limpa a sala com o aspirador de pó; ela percebe o incômodo do barulho e desliga o aparelho[xvi].
Jean Claude narra sua experiência de militância junto aos sindicatos, mas, para Safatle e Marlene, o sindicato deixou de ser um lugar de atuação política viável (“os sindicatos estão muito integrados”, diz Safatle, e, para Marlene, “[eles] não estão dando conta de questões de raça, de gênero”). Diante disso, fica sem resposta a pergunta de Jean Claude, “E vocês propõem o quê, então?”. O enquadramento se altera: a empregada volta a ligar o aspirador.
Em outra sequência, Marlene conta a Safatle que atua em um banco comunitário criado por moradores do Jardim Maria Sampaio (bairro da Zona Sul na periferia de São Paulo). O Banco Sampaio, com moeda própria, financia comerciantes locais para iniciar ou incrementar seus negócios. Safatle questiona a ação do grupo. Afinal, diz ele, “é como se estivéssemos vendendo a ideia de que se elas forem empreendedoras vão conseguir a emancipação que elas merecem”.
Para ele, o Banco incentiva o empreendedorismo individual. Marlene retruca afirmando que o candidato a empreendedor “não está sozinho”; o “Banco somos nós, pessoas da comunidade”, parecendo acreditar que a iniciativa, sendo uma forma de economia solidária, modificaria a situação de pessoas da região. Safatle, porém, insiste que há contradição entre empreendedorismo e comunidade, uma vez que o empreendedor vai lutar contra os outros. Ele parece não entender a iniciativa “emergencial” daquela atuação.
Para o intelectual, a emancipação coletiva implicaria uma sociedade com menos bancos. Diante disso, Marlene pergunta: “O que você sugeriria? uma ação prática que garanta a sobrevivência das pessoas?” A resposta, entre irônica e séria – “Que elas se organizassem e roubassem um Banco” – revela que Safatle, divergindo da tentativa do grupo de Marlene, não tem uma proposta realista para sanar os problemas imediatos.[xvii]
O segundo caso – no confronto entre Safatle e Valmir do Coco e no embate entre Safatle e o grupo do Capão – é mais contundente. Se a questão é “ouvir o povão”, o intelectual de classe média vai a ele.
A “conversa” entre Safatle e Valmir é antes um monólogo. O intelectual pouco fala. Na montagem, intercalam-se vários flashes em que ressoam as provocações de Valmir do Coco. “Qual é tua política? Tu não tem. Não tem nada que dizer. Eu tenho. O que vai acontecer daqui a uns dias, meu amigo, é uma guerra. Esse Brasil que a gente tá, tá acabado. E o que é que tu vai fazer?”. Nessa cena, com vários closes na expressão constrangida de Safatle, a resposta dele é: “Vou ajudar a acabar”. Valmir afirma incisivamente: “A minha política é defender a classe trabalhadora, defender a classe pobre. Aí tu vai dizer: ‘A tua política é a minha política’. É não, meu camarada. Vocês são fascista”.
A força da cena está não apenas na fala de Valmir do Coco, a que se aliam seus gestos e sua corpulência, mas especialmente no silêncio constrangido do intelectual. Também no embate de duas expressões antagônicas: o ar desafiador de Valmir e a cara de tacho de Safatle.
A cena segue, incluindo o que ocorre fora dela. Da encenação ficcional passa-se, sem cortes, para a conversa do ator com os diretores. Safatle se dirige a eles e diz não saber o que falar nem ter condições para isso. Depois diz a Valmir: “Eu acho que você tem razão. Eu vou falar o quê? Não, você está errado?”.[xviii]
Outra tentativa de estabelecer contato com o “povo” ocorre no encontro entre Safatle e o grupo de militantes no Capão Redondo, de algum modo antecipado pela colagem de cenas com Mano Brown, tanto em sua fala no Comício do PT em 2018, como em trechos de entrevistas do rapper (que se tornou uma espécie de voz crítica da periferia), numa das quais ele afirma não falar por ninguém.
A cena de Safatle e do grupo de militantes expõe de maneira mais explícita aquela que é a linha condutora do longa: Como se comunicar com o outro? Como entender o que o “povão quer” sem aderir às artimanhas do poder em que parcelas da população se enredam?[xix]
Nessa cena, a voz não é a do “povo”, mas de setores específicos da militância periférica que se colocam contra a tentativa de interlocução do intelectual branco. Trata-se de um grupo politizado, cuja plataforma de lutas inclui a autossuficência, a autogestão, a consciência dos limites impostos pela discriminação contra o negro. Panteras Negras, comunidades anarquistas e populações quilombolas são referências de auto-organização.[xx]
Tensa, a cena focaliza cada um dos militantes em suas falas, mas também se fixa nas expressões do intelectual que, por vezes constrangido, ouve e tenta replicar ao conjunto de enunciados que reiteram seja a falta de sentido do encontro (“É perda de tempo”), seja a recusa a compartilhar com o “homem branco da academia” as ideias que os norteiam. O debate não encontra ponto comum: Safatle tenta refletir com os moradores do bairro sobre relações entre facções, polícia, Estado. Quem lhe responde afirma que não vem de família politizada, não é branco, não frequentou a Universidade. Que o que importa para eles é tentar reunir pessoas para discutir temas que interessam diretamente a elas, com a recusa do debate em termos conceituais acadêmicos e, mais ainda, com o desinteresse de discutir o que o intelectual acha necessário:
Safatle: Qual é a relação entre essas facções e a polícia?
Militante (Adriano Araújo): A polícia é um instrumento do Estado. Então não tem relação da facção com a polícia. Tem relação do Estado com a facção[xxi].
Safatle: O que que é o Estado, na verdade? O Estado é o quê? O Estado é o aparato do Congresso, e tal, o Palácio do Planalto, blablabla. Se o Estado é a polícia, se não tem Estado sem polícia, se a polícia é um elemento fundamental do Estado, a gente percebe que a polícia não funciona sozinha. O Estado serve-se, se usa da facção para funcionar.
Outro militante (Lincoln Péricles): Não consigo fazer esse diagnóstico assim tão tranquilo. O Estado… Foda-se pra mim o que é o Estado, tá ligado? Eu sei o que está acontecendo aqui; o que é o Estado, o que não é o Estado, mano, tipo, e aí? […] Você chegar, fazer o diagnóstico de algum lugar, de pensar uma solução geral, e tal, quando tipo eu ou qualquer parceirinho meu tá na biqueira…E aí você pensar que o Estado controla ali tal, não sei o quê… Firmeza. […] Não sei se entendo também não, porque para você entender na quebrada o que é o Estado… Talvez a gente entenda mais a ausência mesmo…
Safatle: Mas as coisas estão ligadas…
O mesmo militante: Pra mim parece distante…
Não há, nessa tentativa do intelectual, a imposição de qualquer teoria ou solução, mas o grupo parte da premissa de que é isso que ele está tentando fazer. Há um gesto de desconfiança em relação ao que o intelectual pretende, devido, talvez, à percepção, por parte desses militantes, da predominância histórica da opressão que a classe dominante exerceu sobre os explorados; ainda que Safatle não seja o típico representante daquela classe, o grupo o identifica a ela.
Ao mesmo tempo, a rejeição à intervenção do intelectual não parece levar em consideração, por parte dos militantes, e talvez por desconhecimento, o “trabalho de base” que, nos anos 1970, 1980 e 1990, visava à organização popular. Como esse trabalho político se metamorfoseou quando da subida do PT ao poder institucional, e tornou-se trabalho de incremento a “políticas sociais”, a desconfiança do grupo é bastante legítima. Na contemporaneidade, a política tornou-se gestão, a que se alinharam vários intelectuais, que a implementam sem atinar com o significado das “políticas sociais”[xxii]. O grupo tem as suas mais que legítimas razões para recusar a intervenção do intelectual de classe média.
O grupo do Capão defende formas organizativas autônomas, e não mecanismos de integração ao sistema. A identidade periférica, no grupo, tem nuanças bastante específicas. Sem definir-se em termos político-partidários, o grupo valoriza a “experiência” que só a eles pertence. Não querem que o outro (de classe) lhes diga para pensar ou no que pensar: “Você manda eu pensar na minha experiência. Isso já é um bloqueio. Eu vou pensar por mim mesmo, não porque esse cara mandou eu pensar”. Para um deles, o problema é a linguagem “com quem nós comunica de fato”. A certa altura, um rapaz se pergunta: “Será que nós não tem de construir mais entre nós, e aí talvez nós tenha mais a dizer pras pessoas brancas de esquerda, se nós quiser dizer, para construir? Essa relação de aprendizado, de utilidade, é muito desleal. […] Não comunica”.
Retoma-se o impasse, agora agravado. Comunicar-se entre si, entre seus iguais, é uma espécie de lema; o diálogo, se existir, só haverá quando “nós quiser”. Não há, no grupo, nenhuma abertura para que isso seja feito com pessoas de fora, e, sem que se explicitem as razões para tal posicionamento e para o julgamento contra o intelectual (“desleal”), não é difícil compreendê-las frente ao que se estabeleceu nos governos petistas.[xxiii]
Quando um militante argumenta que as pessoas que estão na academia ainda são as pessoas brancas, e essas pessoas, mesmo quando vêm com o discurso da igualdade, cria uma disparidade de estar regulamentando, regularizando, organizando o que é manifesto negro, periférico, nordestino, indígena, do povo sofrido, povo não abastado. E nós temos condições de nos autogerir. Nós somos autossuficientes. Nós podemos discutir política, estética, gênero, classe, Safatle replica: “Não existe autogestão até hoje. Ninguém conseguiu…”. Uma militante faz a tréplica, incisiva: afirma a existência das comunidades anarquistas e dos quilombolas. Mesmo que o Estado destrua as tentativas, mesmo que esteja havendo “um genocídio racial e social”, diz a jovem, “a gente se organiza. E ainda assim a gente é autossuficiente”. No grupo, vigora o debate interno: “Debater, nós debate entre nós. O resto nós ensina”. Inclinado, Safatle põe a mão na cabeça.
Corte. Imagens de Valmir do Coco, sem o som de sua fala.
Vem o letreiro com o título do filme. Segue-se, então, a cena de uma das militantes do grupo entoa o rap: “Desumanizada/ Sem direito de sentir./ Mas vibra amor da cabeça aos pés./ Vocês nunca vão intervir/ Tô com a minha gata suave/ longe da estatística/ […] / Chama lá a polícia/ Nós mete fuga, hackeia/ somente ainda tira brisa”. O canto encerra o filme. Encerra-se também a possibilidade de diálogo entre o intelectual radical, já fora da cena, e representantes de setores populares politicamente mobilizados.
2.
A situação em que o filme é pensado como cinema urgente[xxiv] refere-se não apenas à polarização evidenciada nas eleições presidenciais de 2018, mas especialmente ao momento em que, após engajar-se na disputa política institucional, o trabalho de base foi substituído pelas “políticas sociais”. É nesse quadro que talvez se possa compreender como ganharam força grupos minoritários atuantes, buscando respostas que se distinguissem das práticas historicamente hegemônicas das esquerdas, mesmo sob o risco de tornarem-se isolados, ou por vezes descolados, da luta geral antissistêmica.
Contra isso é que o longa (se) pergunta o que fazer. Contra isso, o intelectual de classe média representa aquelas parcelas da esquerda que buscam atuar junto a movimentos populares[xxv].
E, entre tantas questões suscitadas pelo longa, aquela que se destaca é a da (im)possibilidade de comunicação, de entendimento, entre o intelectual e os grupos que se colocam contra a situação política, econômica e social contemporânea. Há um modo de atuação política desse intelectual – cuja história vem de longe – que não apenas não funciona mas é recusado. Parcela da intelectualidade branca de classe média, que abandonou os esquemas tradicionais (em que representaria a vanguarda a conduzir o “povo”) por ter reconhecido o esgotamento do modelo, não tem clareza quanto ao que fazer.
Sabe que não basta dizer; é preciso ouvir. E ouvir quem está na quebrada. No entanto, no filme, frustram-se os esforços do intelectual radical em sua tentativa de intervenção por meio do contato direto com grupos de militantes e mesmo com indivíduos politizados que não atuam de maneira claramente organizada (ou ao menos não organizada segundo padrões tradicionais da esquerda). Não parece haver novas perspectivas. E então o quê?
Para Safatle são inadmissíveis certas alianças que reiterariam a manutenção do sistema (por via do empreendedorismo, por exemplo). Por motivos teóricos não as admite, sem, porém, oferecer nenhuma alternativa exequível para a solução dos problemas imediatos da sobrevivência. Assim caracterizada, é sobre essa figura representativa que o longa inflete – tornando objetivo o fato de os diretores, também eles intelectuais radicais de classe média, não quererem falar por um outro.
A questão é que um e outro – intelectual e representantes (alguns também intelectualizados) dos movimentos populares – não falam a mesma língua, uns lutando pela superação do sofrimento cotidiano como forma de sobrevivência (não expondo o que pensam a respeito de formas de luta antissistêmica, ou sequer pensando nelas) e o outro buscando ampliar a reflexão, questionando ações particularistas pelo risco de elas poderem se tornar formas de gestão da pobreza, interiorizadas pelos sujeitos, ou de não alcançarem a lógica de funcionamento do sistema. O desejo do intelectual radical de canalizar energias para um fim comum não tem ressonância entre os militantes que, antes, o rejeitam. As trincheiras dessas lutas políticas não se abrem para receber o intelectual como aliado; o intelectual, por sua vez, quer romper o entrincheiramento dos militantes para ampliar a luta, sem no entanto conhecer o alcance dela.
No filme, o pensamento teórico não é aceito como instrumento para a ação política pelos setores da população com os quais o intelectual deseja associar-se. A conjunção de teoria e prática, nos termos tradicionais, não é suficiente para fazer frente à urgência dos tempos contemporâneos. A própria ideia de “urgência”, hoje, supõe a participação ativa para socorrer vítimas das violências sociais[xxvi]. Embora não se explicite isso no longa, para Safatle a luta por minorar sofrimentos por meio de movimentos específicos tem de ser articulada à luta pela transformação da sociedade, e para isso seria necessária uma reflexão sobre a interrrelação entre o sofrimento social dessas camadas da população e o funcionamento do Estado e do sistema capitalistas.
Mas talvez por isso a militância periférica, ou identitária representada no longa não veja reconhecida sua luta por minorar sofrimentos acumulados historicamente e agravados na situação contemporânea, e considere que a atuação do intelectual é ditar para eles, que vivenciam cotidianamente aqueles sofrimentos, o que fazer. Isso eles não querem. E quem pode definir, estando fora do movimento, que a luta particularista não pode alcançar uma transformação ampla? Como sabê-lo, se o militante periférico se recusa a expor o que pensa e o que faz para o intelectual radical de classe média?
Tudo isso torna indispensável que as questões sobre o que fazer sejam mais claras, mais bem formuladas. O longa expõe as perguntas do intelectual radical que são postas em xeque; trata-se das perguntas já conhecidas, em que o lugar de onde fala o intelectual não leva em conta o lugar de onde o outro está falando (para glosar uma frase de Eduardo Coutinho[xxvii]), nem a experiência de sofrimento cotidiano desse outro.
Como atuar junto aos movimentos identitários em que lutas particulares não impedem, antes podem mobilizar a luta ampla, sobretudo quando o avanço da extrema direita, não só no Brasil, passa a exigir responsabilidade maior dos setores que querem não apenas impedir o avanço dos governos autoritários mas também se preparar para uma luta que transforme a sociedade, por mais inviável que pareça; daí a necessidade de as ações moverem a imaginação.
A relação entre intelectual de classe média e militantes identitaristas ou de movimentos sociais, como se vê, sai do âmbito tradicional (a questão operária), para ter de se haver com pautas que têm como perspectiva imediata transformações na condição social de parcelas da população. Setores tradicionais das esquerdas ainda não têm claro como enfrentar a relação entre as demandas específicas e a luta geral, mesmo acolhendo em seus programas a defesa das chamadas minorias.
Outros setores da esquerda consideram os movimentos identitários como entrave à luta política ampla[xxviii], uma vez que, segundo eles, tais movimentos se desviariam da luta geral contra a exploração capitalista, que é ainda a universalidade da condição do trabalhador, ou a fragmentariam. No entanto, parece não haver dúvidas de que políticas emancipatórias podem, e devem, pelo próprio reclamo das lutas identitárias, incluir e combinar as particularidades dessas chamadas minorias à luta mais geral contra a opressão, e não apenas econômica.
Desse ponto de vista, Safatle é a representação do intelectual que, sem aderir aos movimentos identitaristas, e, sobretudo, sem demonizá-los, tenta intervir. Para alguns deles, a luta pelo imediato da sobrevivência não elimina a luta de resistência contra o sistema, como se vê no debate no Capão Redondo, embora ela não se configure com clareza como luta revolucionária. Mas, esses militantes não querem se comunicar com esse representante de uma outra classe, mesmo que ele queira trocar de fidelidade.
Qual seria o caminho para que o intelectual radical de classe média compreenda de fato as lutas de setores sociais há muito oprimidos? Qual o caminho para que a luta antissistêmica se amplie e articule militantes de diferentes origens de classe e experiências de sobrevivência? Como o intelectual que anseia por se tornar revolucionário pode superar suas próprias contradições e construir outra visão de um futuro coletivo com aqueles setores? Como inventar uma visão do futuro que faça frente ao enganoso anseio de integração ou, ainda, à resistência autocentrada, que não modifica as condições gerais da vida social? Como romper o bloqueio de comunicação entre as experiências do intelectual de classe média e as dos grupos periféricos?[xxix]
Na concepção clássica da luta de classes estava suposto que a generalização do assalariamento e o adensamento da categoria do trabalhador assalariado trariam a possibilidade do acirramento da luta entre explorados contra exploradores e poderia alavancar a luta revolucionária contra o sistema capitalista e o Estado que o representa[xxx]. Nesse sentido, a concepção é progressista: o aguçamento das contradições do sistema traria as condições para a revolução. Nessa concepção, para isso seria necessária a integração da população ao sistema produtivo; os explorados pelo capital[xxxi] se insurgiriam quando atingidas as condições políticas e organizativas para tanto, com a liderança do Partido revolucionário. Mesmo que os eventos que culminaram na Revolução Russa tenham sido uma variação na teoria clássica, esta continuou a nortear o pensamento da esquerda como modelo incontestável.
A contemporaneidade deixa claro que os inorgânicos não serão integrados sob o regime capitalista no contexto do assalariamento. Agora as políticas de gestão pretendem pacificar ou encarcerar e exterminar as populações descartáveis para conter a possibilidade de insurgência. Por isso, aproximar-se dos não integrados, dos matáveis (negros, periféricos, LGBTQI+, mulheres negras), torna-se uma possibilidade objetiva de pensar as lutas numa perspectiva ampla. Mas, se, para certos setores da esquerda, esses grupos estão engajados numa luta que se reduz à reivindicação de integrar-se ao sistema, por que esses militantes confiariam nesses intelectuais? E, pela experiência acumulada historicamente, esses grupos sabem que na hora H esses radicais traem os interesses dos espoliados, contemporizando.
Como conhecer melhor as demandas e concepções desses militantes, sem pré-concepções? Parcela importante do intelectual de classe média não tem essas respostas. Mas começa a se indagar sobre isso, como mostra #eagoraoque. Pode-se pensar esse intelectual na chave do que Antonio Candido nomeou como “radicalismo”. Gerado na classe média e em setores esclarecidos das classes dominantes, o intelectual radical não é revolucionário, pois, ainda que se oponha aos interesses de sua classe, não representa os interesses finais do trabalhador[xxxii]. Nesse sentido, pode preparar o terreno para a luta dos oprimidos que de fato trará as transformações.
No longa, Safatle já não tem terreno para preparar: disseminar ideias (pela mídia, na Universidade) não move a ações coletivas transformadoras; nos movimentos sociais, o intelectual não é considerado necessário. Se no pensamento de Antonio Candido a referência para a valorização dos “radicalismos” era nossa oligarquia, contra a qual a visão radical de classe média passou a dar importância aos oprimidos[xxxiii], a relação entre intelectual e trabalhador se alterou substancialmente.
Como analisa Roberto Schwarz, diante do crescimento do movimento operário, a intelectualidade radical perdeu parte de sua função; posteriormente, com a ascensão de Fernando Henrique à presidência, se engajaram no lobby de si próprios, comprometidos com a própria carreira[xxxiv]. Com a ascensão de Lula, os intelectuais radicais se comprometem ainda mais com o governo, e o trabalho de base é abandonado de vez. Com o avanço da nova direita, tudo se agrava, até porque as manifestações de ódio contra as minorias, os negros, mulheres, LGBTQIA+, indígenas, pobres reatualiza a discriminação que se supunha sepultada sob uma consciência social inclusiva que parecia ter se tornado hegemônica nas classes médias, nos anos 1990.
Nessa conjuntura, o que de fato entra em causa não é se a função do intelectual radical de classe média abrirá caminhos, mesmo que retroceda na hora da ruptura definitiva com sua classe, para novamente remeter a Antonio Candido. No longa, essa hora não se faz presente – o que não sela o destino da personagem de Safatle nos termos do intelectual radical. Não está descartada a hipótese de esse intelectual, diante da inutilidade de suas tentativas, tornar-se de fato revolucionário. A cena em que ele dá razão a Valmir do Coco é, ao mesmo tempo, o sintoma mais claro de que sente que o caminho que ele procura traçar não o levará a nada, e o sinal de que o caminho para uma outra opção de luta o paralisa.
Para Jean Claude Bernardet, a trajetória do intelectual radical dos anos 1960, investigado na produção da cultura cinematográfica, pensava estar trocando de fidelidade de classe e buscava falar do “povo”, dos trabalhadores urbanos, das comunidades sertanejas. A ida ao povo, porém, segundo Bernardet, acabava por revelar a perspectiva de classe projetada sobre esse outro. As formas da intervenção (no caso, cultural) eram resultado da ambivalência constitutiva desse intelectual.[xxxv]
A ambivalência decerto não deixou de existir. Mas o longa não dirige perguntas àquele tipo, histórico, do intelectual de classe média dos anos 1960. Ele se dirige ao intelectual de classe média de hoje, em crise com relação a sua própria possibilidade de entrar em comunicação efetiva com o “povo”, sem tomar-lhe a palavra ou dirigir suas condutas – mesmo porque a inviabilidade dessa intervenção leninista perdeu credibilidade e não é mais aceita por grupos periféricos apresentados no longa.
O “povo” com quem entra em contato esse intelectual é mais “real”; não é uma mera projeção de seus próprios conflitos, entre os quais a relação entre teoria e prática. Autoconsciente de suas ambivalências, esse intelectual entra em contato com um povo que tem certa organização política própria. Nesse quadro da sociedade gestionária e do recrudescimento do extermínio,[xxxvi] a reivindicação pela sobrevivência imediata é fermento para a transformação – que garanta não apenas a vida mas a transformação dela? Para o lado de cá, a pergunta ainda não tem respostas.
*Edu Teruki Otsuka é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Autor de Marcas da catástrofe: experiência urbana e indústria cultural em Rubem Fonseca, João Gilberto Noll e Chico Buarque (Ateliê).
*Ivone Daré Rabello é professora sênior do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Autora, entre outros livros, de Um canto à margem: uma leitura da poética de Cruz e Sousa (Nankim).
Referência
#eagoraoque
Brasil, 2020, 70 minutos
Direção e roteiro: Jean-Claude Bernardet e Rubens Rewald
Fotografia Andre Moncaio
Montagem Gustavo Aranda
Elenco: Vladimir Safatle, Palomaris Mathias, Jean-Claude Bernardet.
Notas
[i] Nas hashtags, não se utilizam sinais de pontuação nem caracteres especiais.
[ii] Vale lembrar que o longa foi produzido em 2019, quando Bolsonaro já assumira a presidência no Brasil. Também em função dessa situação de urgência do debate, Jean Claude Bernardet e Rubens Rewald produziram um filme apesar de: apesar da pouca verba (13 mil reais), apesar de não haver financiamento institucional (os diretores não quiseram submeter a produção e a exibição do longa aos prazos de editais). O “apesar de” se explica também pela vontade política de fazer o que os diretores chamaram de “cinema urgente”, para o agora. Cf. Escorel, Eduardo. “#eagoraoque – Uma experiência transformadora”, Piauí, 3 de fevereiro de 2021; e “Discurso encurralado”, debate sobre o filme, com os diretores, no canal 3 em cena, com mediação de Piero Sbragia, em 26 de janeiro de 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=06ER-DzuzR0
[iii] Embora a categoria “intelectual de classe média” possa ser considerada pouco precisa do ponto de vista sociológico, está sendo utilizada por nós também porque Jean Claude Bernardet, para assinalar as ambivalências desse intelectual, vale-se dela quando analisa a produção fílmica em Brasil em tempo de cinema (1967). Além disso, interessa-nos diferenciar esse intelectual, cuja ascensão se deu sobretudo a partir dos anos 1930, e o intelectual da elite, típica do século XIX.
[iv] Nas cenas em que o protagonismo está com militantes do Movimento dos Sem Teto, Safatle não aparece. Quem ocupa lugar equivalente ao do protagonista do longa é Guilherme Boulos, também ele representante da intelectualidade de classe média.
[v] Em “Discurso encurralado” (cit.) os diretores também afirmaram querer escapar do “filme bem feito” com fotografia e som “limpos”. Bernardet, desde Brasil em tempo de cinema, investigava a relação da filmografia brasileira realizada por intelectuais radicais e sua representação do povo brasileiro, o que os levou a superar o desejo provinciano de fazer “cinema bem feito”, ao modelo europeu e americano. Não é casual, portanto, a negação intransigente com relação ao “bom acabamento” do filme, na contramão de certa produção cinematográfica da intelectualidade de classe média na contemporaneidade.
[vi] Retomamos aqui a noção de radicalismo segundo Antonio Candido, para quem o intelectual radical é aquele que reage “ao estímulo dos problemas sociais prementes, em oposição ao modo conservador” que sempre predominou no Brasil (Antonio Candido, “Radicalismos. In: Vários escritos. 4ª ed. reorganizada pelo autor. São Paulo/Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004, p. 193).
[vii] Segundo a entrevista de Bernardet e Rewald, em 3 em cena (cit.), a cena faz parecer que se trata de jovens do Capão Redondo. No entanto, são militantes de regiões diversas de São Paulo, reunidos por Lincoln Péricles (morador da periferia, montador, documentarista, cineasta). A montagem, cuja palavra final foi dos diretores, abre-se, porém, a uma outra versão que Péricles possivelmente poderia realizar, pois dispõe dos materiais da filmagem.
[viii] A caracterização da personagem permite identificar traços biográficos de Bernardet. Cf.: Bernardet, J.C. Trajetória crítica. São Paulo: Martins Fontes. 2011.
[ix] Cf.: Folha de S. Paulo, 7 de dezembro de 2018.
[x] Nos anos 1970, um filme ganhou relevância por colocar os intelectuais (no caso, estudantes) na linha de frente para apontar os caminhos e descaminhos da luta proletária, atacando o sindicato e radicalizando proposições. Trata-se de A classe operária vai ao paraíso, de Elio Petri, de 1971. Com todas as diferenças dos anos 1970 para cá, interessa pensar que o intelectual – apontando análises corretas – se desprega do chão das lutas.
[xi] Cf.: Schwarz, Roberto. “Nunca fomos tão engajados” (in: Sequências brasileiras, de 1999). Também é importante ressaltar que Jean Claude e sua geração parecem estar em sintonia com considerações de Sartre sobre engajamento, no quadro da luta do intelectual durante a II Guerra Mundial, e que foram assimiladas no momento da luta dos anos 1960, antes da derrocada provocada pelo AI-5, de 1968. Sartre situa o intelectual, sociologicamente, como aquele que vive e encarna contradições sociais.
[xii] O jogo de fato existe: em “Bolsomito 2K18” o jogador controla um personagem semelhante ao presidente que precisa agredir seus opositores políticos, além de mulheres, gays, negros, membros do MST e estudantes.
[xiii] A cena também pode ser entendida como uma operação de montagem einsensteiniana, em que a junção de fragmentos aparentemente arbitrários é motivada não pela subjetividade da personagem, mas pela decisão dos diretores, exigindo que o espectador apreenda o sentido do atrito de imagens. A técnica é utilizada várias vezes no longa.
[xiv] A arma, como objeto com diferentes significados políticos dependendo de quem a maneja, reaparecerá durante uma aula de tiro, quando Jean Claude pergunta ao instrutor se ele emprega a expressão “ceifar vidas” por ser menos forte que “matar”. Ele responde: “É, a gente usa palavras mais românticas, vamos dizer assim. […] O tiro é um meio de salvar vidas. O policial treina […] não para matar alguém; vai proteger ele através de uma legítima defesa. Ele vai salvar a vida de um terceiro, infelizmente ceifando a vida de um marginal. A gente tem de analisar dessa maneira”. A fala do instrutor revela o ponto de vista da classe proprietária – em contraste com a cena acima comentada.
[xv] A expressão é de Mano Brown. Cf.: “Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, o partido do povo tem de entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber” (fala de Brown no comício do PT em 2018, em apoio à candidatura de Haddad e Manuela D´Ávila para a presidência).
[xvi] A tarefa do trabalhador atrapalha a discussão entre militantes, e ambas ficam desconectadas. Há outra cena em que Safatle e o pai discutem questões políticas num café. A moça que os atende interfere e diz que eles falam, fala, falam, e não fazem nada. Quando eles perguntam, então, quais são as ações dela, responde: “Eu derrubei o síndico”.
[xvii] A menção posterior ao Comando Vermelho, na cena no Capão Redondo, indica a cegueira da própria boutade, já que na origem a Facção Vermelha pôs em prática, por meio do roubo a bancos, o que havia aprendido com os presos políticos sem, no entanto, fazer da expropriação um ato revolucionário.
[xviii]Na sequência, Rubens Rewald dirige-se a Safatle: “Essas questões que você está levantando agora para a gente são as falas. São as falas. […] Eu passei a minha vida inteira sendo chutado pela minha classe. Eu não vou defender essa classe. Eu não me reconheço nessa classe”. Não se pode compreender o sentido das palavras de Rewald sem pensar nas reflexões de Bernardet sobre a classe média brasileira, indecisa entre estar com o “povo” e falar a partir da perspectiva burguesa (cf. Brasil em tempo de cinema).
[xix] Na cena em que uma senhora do Jardim Maria Sampaio é entrevistada por Marlene para obter o apoio do Banco Sampaio em seu negócio de tapiocas, ela faz alarde do “diferencial” de seu produto: ingredientes nordestinos e tapiocas doces gourmet, segundo suas próprias palavras, que aderem à linguagem publicitária. Isso evidencia a necessidade de o empreendedor “vender” a sua ideia, o que implica interiorizar a lógica da concorrência.
[xx] Essa plataforma talvez indicie a reflexão, por parte dessa militância, sobre as experiências do zapatismo, bem como dos escritos políticos de Fanon, lidos num contexto em que o processo revolucionário não está à vista. Mas o grupo não expõe suas referências teóricas.
[xxi] Em sua fala, o militante relembra que a facção Comando Vermelho (originalmente Falange Vermelha), fundada por Rogério Lemgruber, surgiu na Ilha Grande a partir da convivência dos presos comuns com presos políticos. Ele ressalta que o código de conduta da facção pôs ordem na prisão da Ilha Grande e, mais tarde, “nas quebradas”. O filme Quase dois irmãos (2004), de Lúcia Murat, ficcionaliza esses episódios, e também acompanha a carreira do intelectual de classe média que se engaja na política institucional, enquanto o preso comum torna-se chefe de tráfico.
[xxii] Não por acaso, quando desse abandono do trabalho de base, surgem as lutas que se caracterizariam pela defesa do “periférico” (e não do trabalhador) e os movimentos de “orgulho de ser periférico” (como analisa Tiaraju Pablo d´Andrea, em A formação dos sujeitos periféricos: cultura e política na periferia de São Paulo. Tese de Doutorado em Sociologia. FFLCH/USP, 2013). A perspectiva de integração dos não-integráveis pela via da cultura engendrou formas de atuação que se normalizaram, não apenas pela atividade cultural stricto sensu, mas também pelo estímulo ao empreendedorismo com a ajuda da comunidade – um novo tipo de “trabalho de base”. Criou-se o “mercado da cidadania” (cf. Ludmila Costhek Abílío “A gestão do social e o mercado da cidadania”. In: Robert Cabanes et al. (orgs.) Saídas de emergência: ganhar/perder a vida na periferia de São Paulo. São Paulo: Boitempo, 2011.
[xxiii] Eliane Brun, em Brasil, construtor de ruínas. Um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro (2019), recupera não apenas os elementos positivos da gestão de Lula e Dilma Roussef na presidência, mas também as promessas que não foram cumpridas e especialmente as consequências da política de conciliação com setores da classe dominante que se abateram sobre os trabalhadores em nome dos interesses do grande capital (veja-se a questão da Usina de Belo Monte) e, decerto, a política de encarceramento e a assinatura da Lei Antiterrorismo (por Dilma Roussef, em 2016) que criminalizou movimentos sociais. Tudo isso foi percebido como traição contra setores sociais que haviam eleito o presidente e manipulação dos interesses dos trabalhadores para a manutenção no poder da política da era lulista – cujas reformas, até certo momento, agradaram mais aos ricos que aos pobres. Como disse Lula, num comício de 18 de março de 2016 (quando ele foi convidado para se tornar Ministro da Casa Civil, numa tentativa de evitar o impeachment: “…os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como durante o [meu] mandato” “Eles [os ricos] vão para Miami, e nós compramos na 25 de março” [rua de comércio popular em São Paulo].
[xxiv] “Entrevista com Jean-Claude Bernadet e Rubens Rewald”, Canal Cine Esquema Novo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AqWCwdhtZgI
[xxv] Vale notar que o filme é bastante parcial na seleção do que lhe interessa quanto aos movimentos populares, sem apresentar nenhum elemento do que tem sido a atuação dominante nas periferias: a do neopentecostalismo. Não se trata de exigir isso do filme, mas a força desses novos grupos religiosos daria o que pensar, pois a esquerda também teria de lidar com populações desvalidas que encontram apoio e solidariedade na comunidade evangélica. Nesse sentido, a igreja evangélica parece oferecer respostas àquilo de que o povo necessita, mas valendo-se disso para seus próprios interesses econômicos e políticos.
[xxvi] Em “Alarme de incêndio no gueto francês”, P. Arantes se refere ao mundo contemporâneo onde vigora, banalizada, a emergência perene, em que se luta pela integração, e não pela transformação. Isso não contradiz a “emergência repressiva” que, do outro lado político, instala mecanismos de contrainsurgência preventiva. In: O novo tempo do mundo, pp. 224-225; cf. também p. 253 e passim.
[xxvii] Cf. Carlos Alberto Mattos. Sete faces de Eduardo Coutinho. São Paulo: Boitempo/Instituto Moreira Salles/ Itaú Cultural, 2019.
[xxviii] Ricardo Nunes, em artigo recente (“Contradição entre desigualdade e pautas identitárias não precisa existir”. Ilustríssima. Folha de S. Paulo, 7 de janeiro de 2022), menciona a declaração de Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo, para quem o “identitarismo” é um “erro” criado por “ativistas dos Estados Unidos”, que obscurece “a questão central” da desigualdade e divorcia a esquerda “da realidade do povo”. As ideias defendidas por Nunes não são objeto desta discussão, mas parece-nos que ele defende a universalidade burguesa e a perspectiva de que o ideário de “liberdade, igualdade, fraternidade” teria, ainda, validade, sem levar em conta que houve uma mudança histórica: o deslocamento da política da transformação (a invenção de uma nova organização social) para uma política de defesa dos direitos humanos. Para nós, a defesa da universalidade de direitos não leva em conta que essa foi, historicamente, a estratégia da classe dominante para estabelecer o triunfo do capital – haja vista a violência com que a burguesia e os exércitos transnacionais se insurgiram contra os reclamos de fato revolucionários.?
[xxix] Essa é a questão discutida mais largamente no longa, que, porém, não inclui referência às lutas contra o aquecimento global e à especificidade da atuação de setores indígenas.
[xxx] A possibilidade, otimista, não eliminava sua versão negativa (de que o capitalismo poderia triunfar e eliminar a luta contra ele), já formulada por Marx. Daí que, com os fatos relacionados à II e à III internacional, a tarefa estratégica da IV Internacional era: “Não se trata de reformar o capitalismo, mas de derrubá-lo” (Trotski, Programa de transição).
[xxxi] Não por acaso, a questão para Caio Prado era a “integração dos inorgânicos” (Formação do Brasil contemporâneo, passim).
[xxxii] Cf. “Radicalismos”, cit, p.194.
[xxxiii] Como se pode constatar, por exemplo, na história das Ciências Humanas da USP a partir dos anos 1930. Cf. Antonio Candido, “Radicais de ocasião” e “Radicalismos”.
[xxxiv] Cf. Roberto Schwarz, “Nunca fomos tão engajados” (escrito em 1995).
[xxxv] A argumentação de Bernardet, em Brasil em tempos de cinema, ganha atualidade ao se confrontar o que se desejava naqueles anos 1960 e os descaminhos provocados pelo fim da ditadura, inclusive com a adesão dos intelectuais ao establishment. Provocativa, a obra merece e exige ser retomada.
[xxxvi] O extermínio é constitutivo da própria acumulação capitalista, como todos sabemos. No entanto, a política de extermínio programático é fenômeno relativamente novo, no momento histórico em que os sujeitos não são mais empregáveis e que o capitalismo prescinde do trabalho vivo.