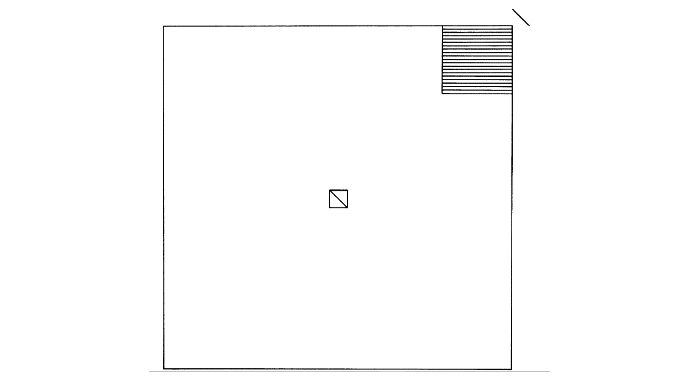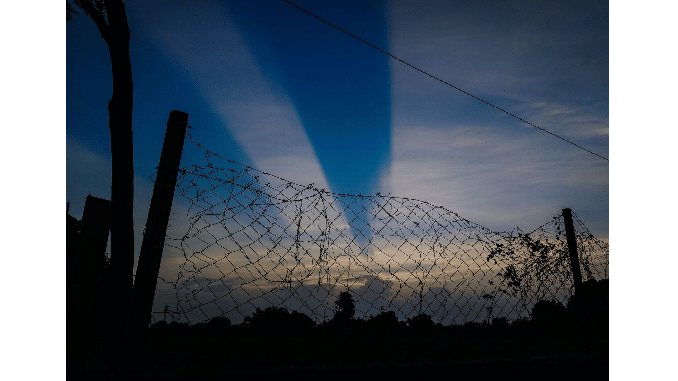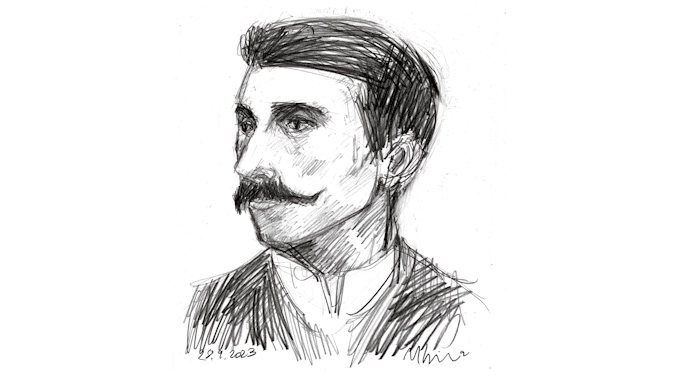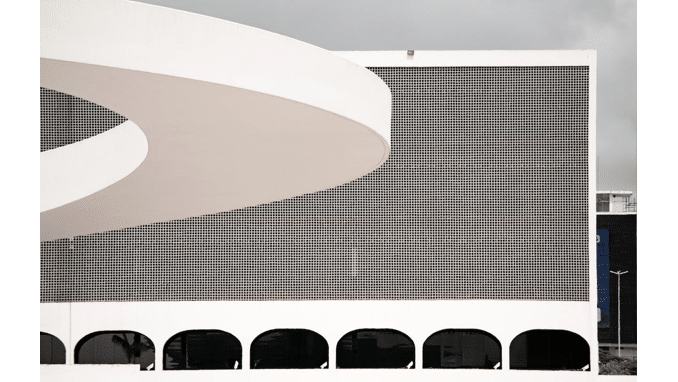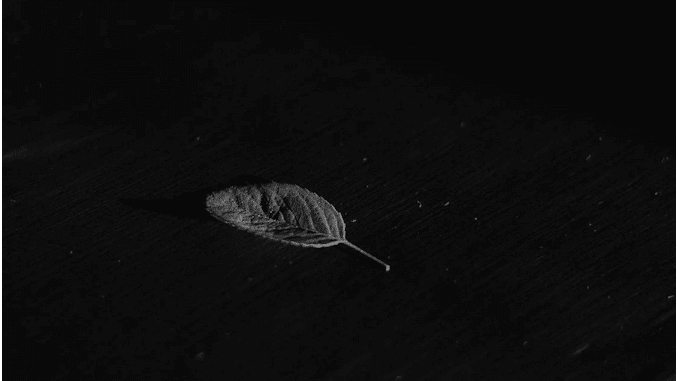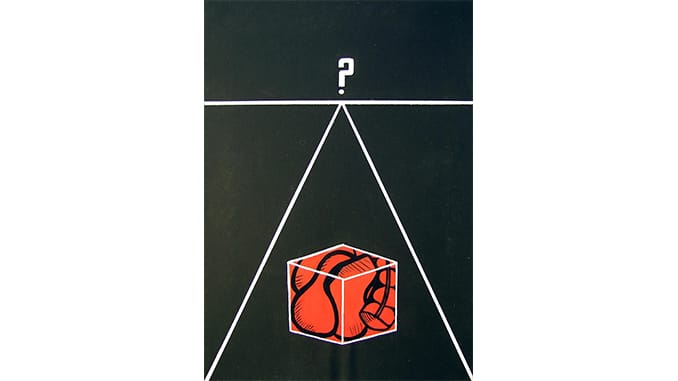Por SALETE DE ALMEIDA CARA*
Comentário sobre o filme de Marcelo Gomes
Num depoimento de 1999, Francisco de Oliveira afirmou que “em certas conjunturas você tem a capacidade de avançar na descrição utópica. Em outras, não tem”. E na sequência: “eu percebo uma defasagem entre uma virtualidade que se abre e uma nova força que não se formou”. Entre uma força abortada e uma virtualidade ainda possível, ele ponderava que, insistindo na “crítica radical àquilo que a racionalidade burguesa não conseguiu alcançar”, talvez pudesse se abrir uma possibilidade de construção de um “projeto político”, nascendo dos próprios conflitos. (OLIVEIRA, 2018, p. 162).[1]
Quarenta anos antes, nos fins dos anos de 1950, era outra a situação entre intelectuais paulistas que se reuniram na Universidade de São Paulo para ler O Capital: um intenso ânimo progressista em anos de desenvolvimentismo e de discussão sobre os “impasses da industrialização brasileira”. Roberto Schwarz volta ao assunto em “Um seminário de Marx” (1995), reconhecendo o déficit de uma “crítica aprofundada da sociedade que o capitalismo criou e de que aqueles impasses formam parte” (SCHWARZ, 2014, p. 126).
Assim, foi “a contragosto” que o ânimo positivo que apostava na normalidade capitalista, no desenvolvimentismo e na industrialização da periferia constatou a “margem de liberdade absurda e antissocial” da classe dominante, “fortalecida pelo seu canal com o progresso do mundo externo”. E o grupo passou um tanto ao largo de temas como fetichismo da mercadoria e mercantilização da cultura, deixando de lado o “marxismo sombrio” dos frankfurtianos quanto ao nazismo, ao stalinismo, à vida americana e à própria arte moderna, “a cuja visão negativa e problematizadora do mundo atual não se atribuía importância” (SCHWARZ, 2014, p. 125-128).[2]
Retomando essas sugestões, Paulo Arantes lembrará que, já nos anos de 1930, os frankfurtianos vislumbraram o novo ciclo de dominação que se abria: sem ilusões quanto às promessas do Welfare State, à “acumulação primitiva soviética” (ou seja, “colonização interna e trabalho escravo”) e ao “futuro do movimento operário que poderia derreter como neve ao sol sem comprometer a teoria do valor e a realidade escabrosa da exploração” (ARANTES, 1996, p. 176-185).
O andar da carruagem obriga a lembrar que a primeira crise de superprodução de meados dos anos de 1970, com recessão mundial estrangulando setores produtivos e combinando penúria social e mercadorias em abundância, surpreendeu os meios burgueses, pequenos burgueses e o próprio movimento operário, que acreditavam no controle e na administração do capital. Se “no caso do capital, a ‘subsunção’ do trabalho é uma inclusão baseada em uma exclusão, levando a um conflito chamado por Marx de ‘contradição’” (GRESPAN, 2019, p. 172), essa figura foi sendo reposta, do pós-guerra aos anos 1970, como “simbiose demoníaca entre desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais de produção” (ARANTES, 1996, p.180). Ou seja, uma nova modalidade de subsunção do trabalho ao capital. No processo, somos atropelados por um futuro que se instala no presente, numa “indistinção provisória entre utopia e distopia”, que é “justamente o lugar onde, numa era de expectativas decrescentes, é feita a experiência bruta da história” (ARANTES, 2014, p. 319-320 e 344-350).
Nos anos de 1980, com a crise do regime de produção e acumulação que tinha sustentado os “anos dourados” pós-Segunda Guerra (entre 1945 e 1968), os rumos das políticas econômicas capitalistas seriam redefinidos, como se sabe: o papel do Estado nos negócios do mercado financeiro mundial e as práticas que, com a hegemonia das decisões do capital financeiro, alcançaram também as dimensões subjetivas e comportamentais dos sujeitos: “cada sujeito foi conduzido a se conceber e a se comportar em todas as dimensões de sua vida como um portador de capital a ser valorizado” (DARDOT E LAVAL, 2010, p. 285). A espetacularização do poder soberano do capital/dinheiro/mercado foi consenso que confirmou a dessolidarização social desde sempre naturalizada na periferia.
Nessas condições, o Estado e as classes dominantes brasileiras, valendo-se da mitificação interposta de planos econômicos, figuras e partidos políticos finalmente reencontram, com papel de destaque, o destino moderno na entronização da pirataria e do tráfico, de milícias armadas e cartéis, como agentes imediatos da barbárie consentida, como já bem conhece, aliás, uma colônia escravista: populações acossadas e cooptadas e, por todo lado do planeta, refugiados e migrantes. No mundo pós-trabalho e pós-social, a lógica do capital (“sujeito” dedicado a ratificar sua própria prática) instrumentaliza o medo, o sofrimento, a cólera, os ressentimentos e hostilidades… em nome de uma suposta liberdade individual ou até mesmo de uma vaga ideia de “soberania popular”, que tem seu ponto cego no vácuo histórico-social de um país “moderno de nascença” (expressão que brota da dualidade dilacerada e ambivalente de um Sílvio Romero).
As energias em ação juntam os incompatíveis (como, de resto, também já conhecemos): no caso, interesses públicos/privados, “homens de bem” e Estado policial ratificando execuções sumárias, trabalhador precarizado, desqualificado e informal que replica as leis e regras para não submergir ao arrocho, engolindo também aqueles que, sem condições de desmontar a máquina de crueldades, menos ou mais aderentes, menos ou mais confiantes, ainda apostam no futuro que precisa começar.
Se não for ver demais, o mote-clichê “o futuro já começou”, cantado num canal de TV para comemorar a virada, talvez funcione como paródia involuntária que naturaliza, com entusiasmo midiático, uma peculiar singularidade nacional: nosso pendor de equilibrista entre posições “do contra” e “a favor”, reconhecida por Antonio Candido, em 1978, numa fala divertida (é preciso salientar a função do humor em momentos graves).
Naqueles anos de 1979, numa “situação iníqua de predomínio da desigualdade econômica e social, baseada nas formas mais agressivas e mais desagradáveis que o capitalismo jamais assumiu” (ele veria tempos piores), Antonio Candido perguntou, com ceticismo comedido, “se nesta altura do século, nesta altura da evolução da cultura brasileira, nós já somos capazes, nós já estamos maduros para criar uma cultura do contra, realmente. Não uma cultura alternativa de contra misturada com a favor”[3] (CANDIDO, 2002, p. 372-373).
O fato é que as adesões às promessas, com inflexões variadas, alargaram socialmente o âmbito desse pendor de equilíbrio (ou mescla) de posições. Matéria da Folha de S. Paulo (agosto 2019), que poderia passar apenas como curiosa, dá a ver como se naturaliza em novos termos a prática dessa mescla. Ou seja: fazendo valer a questão identitária (no caso específico, tratava-se da população negra) e “reconhecendo” as dificuldades de investimentos, contatos e “ambiente de testes” dessa população, empresas propõem “democratizar o conhecimento” e os negócios, capacitando os interessados em participar do mundo do trabalho informal e precarizado com “tecnologias de impacto social” no modelo de novas plataformas — a uberização —, a saber, um mercado de ilegalidades formalmente constituídas.
A “inclusão baseada na exclusão”, num lusco-fusco ideológico e prático, promete aos interessados negócio próprio, “livrando-os” da condição do assalariado, que, é bom lembrar, tendo sido elemento orgânico do sistema de produção capitalista, está agora sob ameaça (a situação lembra a do pequeno burguês no 18 Brumário). Adesão otimista brotando da própria alienação? De modo que, voltando ao depoimento de Francisco de Oliveira, vale perguntar pelos termos de uma “crítica radical” (negação do real como utopia), quando a “defasagem entre uma virtualidade que se abre e uma nova força que não se formou” conta com a própria adesão do sujeito, exposta em práticas cotidianas, e no âmbito de uma valorização do capital que degrada o trabalho sem eliminá-lo, todavia, do processo de produção.
Num texto publicado em julho de 2019, “A decisão fascista e o mito da regressão: o Brasil à luz do mundo e vice-versa”, que merece ser lido na íntegra, Felipe Catalani mostra que, ao negar um processo que não é de hoje e “no ápice do desenvolvimento capitalista”, não estamos retrocedendo mas avançando em formas sofisticadas da barbárie. Numa inversão de papéis, os “populistas de direita” são “amigos do apocalipse” e cavam firmemente seus propósitos para “acelerar a catástrofe”, aniquilar os inimigos e instalar mais uma “nova era”; os de esquerda se tornam “restauracionistas” e esperam “voltar ao normal” a fim de “evitar a ‘decadência’ dos valores democráticos”.
Ora lamento por aquilo que o passado teria chegado a prometer, ora nostalgia pelo que estaria em vias de ter sido realizado. “Na melhor das hipóteses, espera-se ‘voltar ao normal’. Essa esperança (?), no entanto, é já em si a normalização da situação. Abaladas por um choque traumático, as expectativas da esquerda são tragadas pela apatia no desejo de restaurar a ‘normalidade’, alimentado pela miragem do ‘sonho efêmero’, cuja interrupção, entretanto, já não produz nenhum despertar da consciência (se não for muito anacrônico falar nesses termos), mas somente ‘vertigens’ e ‘transes’ produzidos pela pancada na cabeça.”
Se as expressões não enganam, “sonho efêmero” e “vertigem” remetem a Democracia em vertigem (2019), de Petra Costa. O documentário, retomando o tema das ilusões perdidas (como derrocada política), é costurado por um sujeito da enunciação que recolhe, exibe e generaliza, como exemplar, a própria experiência pessoal e familiar (que mistura empreiteiros e militantes de esquerda): de caráter mais emocional do que reflexivo, a despeito do esforço das pontuações em off, o documentário pede identificação do espectador nessa mesma direção.
Voltando à tradição do documentário brasileiro ligado à militância política em entrevista de 2002, Ismail Xavier lembra que, nos anos 1960, “o cineasta se sentia dotado de um mandato popular. Ele se achava representativo. Ele estava fazendo alguma coisa ‘em nome de’”. E assinala a mudança nos anos 1970: “os cineastas passam a desconfiar dos seus referenciais, passam a ter culpas e desconfiam do seu mandato”. Em entrevista de 2007 volta ao assunto: nos anos 1960 o documentarista “considerava as pessoas com quem conversava nos filmes como representantes de alguma força social, de alguma classe ou de algum grupo. Hoje em dia, ninguém toma ninguém como representante de nada. Predomina a singularidade do indivíduo (…). Mas numa situação ficcional, na qual você tem que construir a personagem, como fazer?” (XAVIER, 2007, p. 102, p. 86).
Essa é a pergunta decisiva que implica considerar a feição formal de um documentário no trato com seu assunto e, no encaminhamento da fatura, levar em conta o controle exercido pelo processo de produção, distribuição e circulação da imagem como mercadoria, menos interessado na relação entre material e forma e mais interessado na bilheteria e nos prêmios internacionais.
Referindo-se ao romance contemporâneo, Adorno sublinha o desafio trazido pelo trato da matéria e do material, pelo “seu objeto real, uma sociedade em que os homens estão apartados uns dos outros e de si mesmos”. Daí ter afirmado: “se porventura há psicologia” em Dostoiévski, ela é “de caráter inteligível, da essência e não do ser empírico, dos homens que andam por aí”, pois “a reificação de todas as relações entre os indivíduos, que transforma suas qualidades humanas em lubrificante para o andamento macio da maquinaria, a alienação e a autoalienação universais, exigem ser chamadas pelo nome” (ADORNO, 2003, p. 57-58).
Quando um dos melhores filmes do cinema neorrealista, La terra trema de Visconti (1948), refaz a matéria de um romance de 1881 de Giovanni Verga, I Malavoglia, que se passa entre pescadores na Sicília (entre anos de 1860 e o final de 1870), para Visconti não se trata de “resolver” uma “adaptação” através de recursos técnicos. Como mostrou Antonio Candido em “O mundo-provérbio”, a superação da dicotomia narrador/personagem no romance se dá pela invenção de uma voz narrativa capaz de mostrar um “mundo parado e fechado, onde as relações sociais viram fatos naturais, onde o vínculo direto com o meio anula a liberdade e ninguém pode praticamente escapar às suas pressões sem se destruir” (CANDIDO, 2010, p. 89 e 92-94).
A opção de Visconti pela tensão entre procedimentos formais epicizantes, descrição e falas das personagens no filme é, portanto, um modo de dialogar efetivamente com o romance, ao tratar das condições de massacre e exploração do trabalho e ausência de vida coletiva solidária ainda vivas no pós-Segunda Guerra. E, no entanto, o filme foi criticado pelo PC italiano (que o tinha encomendado) por não ter figurado justamente… o sujeito coletivo!
Antes de ir ao documentário Estou me guardando para quando o carnaval chegar, de Marcelo Gomes, lembro três filmes dos anos de 1960 a 1980 que trazem questões sobre a relação entre trabalho ficcional e material documental, levando em conta as condições de um país que não deu lugar efetivo à luta da classe popular: Os fuzis, 1964, de Ruy Guerra; Os inconfidentes, 1972, de Joaquim Pedro de Andrade; Cabra marcado para morrer, 1984, de Eduardo Coutinho.
Em cada um deles, em seu tempo e em suas circunstâncias, os impasses sociais e estéticos estão configurados nas soluções e tensões de conteúdo e forma. [4] No projeto original da estratégia narrativa armada por Ruy Guerra, em Os fuzis, ficção e documentário corriam paralelos em três registros. Os depoimentos conduzidos pelo próprio diretor sofreram corte na remasterização e, na versão final, são dois os planos do filme: um deles documenta os retirantes, vistos à distância, o outro mostra ação e tensões psicológicas de soldados que protegem mantimentos da população faminta.
Em Os inconfidentes, respondendo a dilemas do tempo do próprio cineasta, a tensão entre projeto político e estético se evidencia no uso do material histórico-literário e na oposição entre herói popular (Tiradentes) e intelectuais idealistas, politicamente fracos, assunto já trabalhado em termos dramáticos em Arena conta Tiradentes, de 1967.
Em Cabra marcado para morrer o projeto ficcional sobre o líder camponês João Pedro Teixeira foi iniciado em 1962 (ano do seu assassinato na Paraíba), interrompido em 1964 e retomado como documentário em 1981, depois de localizada a viúva Elizabeth Teixeira. A relação entre ficção e documentário (que retoma a participação das figuras locais) leva a pensar sobre o tratamento conferido à passagem da ilusão do coletivo ao registro da dispersão familiar na busca pelo destino dos filhos.
Em Estou me guardando para quando o carnaval chegar, o narrador do documentário coloca em questão o próprio sentido da sua matéria e dos seus materiais. A cidade de Toritama, no agreste de Pernambuco, que tinha conhecido há muitos anos, está transformada em lugar de produção e uma pequena feira de jeans, com adesão consentida de trabalhadores que, dia e noite nas máquinas de costura, se regozijam com sua situação. Por quê? Trata-se de examinar de que modo o cineasta constrói a experiência contemporânea da exploração do trabalho.
Toritama, “terra da felicidade” em tupi-guarani, é uma “região seca e pobre” no agreste de Pernambuco, onde “quarenta anos atrás” se vivia da plantação de milho, feijão e da criação de bodes, com silêncio e ave-maria no rádio ao fim da tarde. Era melhor? Era pior? Mais do que um tom idílico e nostálgico diante da cidade transformada em “capital do jeans” e responsável por 20% do produto nacional, o sujeito da enunciação mostra a perplexidade de “um fiscal do tempo alheio” e, como tal, parece perseguir uma trama implícita.
Numa narrativa que expõe a exploração do trabalho em ato, a trama depende da complexidade do modo como o que é mostrado se cruza com os comentários em off do narrador, que formula problemas e deixa outros em aberto. A exploração consentida sufocaria a imaginação? A perspectiva de uma sociabilidade desafogada estaria estrangulada, reduzida à semana de fuga para a praia durante o carnaval, quando a cidade fica deserta e silenciosa, e alguns (ou seriam muitos?) vendem seus pertences e seu próprio material de trabalho (TV, geladeira, máquina de costura), que recompram depois (com ágio)? A que mudança se refere a voz narrativa em off, que ao final comenta que “Toritama muda a cada dia”?
Na cidade do agreste o trabalho é sem descanso (um progresso?) e os trabalhadores dizem estar “orgulhosos de serem donos do seu próprio tempo” (comentário em off), felizes com sua condição de “autônomos e sem patrão” (depoimento). Para eles a desigualdade e a pobreza são tidas como vencidas e as categorias dinheiro e trabalho são as vencedoras. Com quais resultados? Tal como o narrador, o espectador também se sente um fiscal do “tempo alheio” (uma barbárie consentida e feliz?). Uma das cenas suspende o barulho contínuo das máquinas e coordena a repetição dos movimentos com música de Bach, anunciando explicitamente o ângulo novo da câmara e confessando a angústia do narrador em off.
Entre o particular dos depoimentos e as cenas coletivas de trabalho nas “facções” (nome dado às “fábricas” de produção de jeans instaladas nas garagens das casas e galpões), com produtos em grande quantidade empilhados, invadindo as ruas (por onde anda a vida popular?), o olhar da câmara se detém em closes demorados. Alguns closes vão de olhar a olhar, isto é, o da câmara e o do personagem, outros escolhem dar a ver o suor abundante em pedaços de corpos no ato do trabalho, e os planos-sequência distendem o tempo (sem saída?) dos movimentos, sempre repetidos, de homens e mulheres manejando as máquinas.
Quanto aos personagens entrevistados há quem seja proprietário dessas máquinas de costura (mas quantos?); há quem ganhe centavos por peça produzida, somando quinze horas de trabalho diário (quem paga?) e uma hora de intervalo pra cozinhar o almoço e o jantar; há quem compare sua boa vida (“ruim é pra quem morre”) com o que vê nas notícias da TV, como a fome na África e as guerras mundo afora; há quem diga orgulhoso que “aqui virou um São Paulo”, com a vantagem de que “qualquer zé ninguém” sem nenhum estudo pode ter trabalho; há quem louve o salário livre do “trabalhar pra você mesmo”; há quem pense no futuro e na segurança da carteira assinada; há a mão de obra dos “pequenos no tamanho e na feiura” que dão no couro, diz um gerente (quanto ganham, afinal?); há a moça designer, que faz do carro o próprio escritório e, sem ser entrevistada, corre atarefada como gestora da produção de peças a laser (será proprietária ou funcionária graduada da facção de ponta?); há o manequim vivo, figura local bem diversa dos manequins glamorizados dos outdoors que abrem o documentário, expondo na praça e em poses os modelos da sua “Star Jeans”, porque “eu gosto é de luxar”, enquanto os “meninos” fabricam as peças (é ele o proprietário da facção?).
Entre todos está Leo, pau pra toda a obra (“jeans é fácil”, diz ele), que também tora pé de coco, mas sente dó (“um serviço lindo”), é solidário com os companheiros de trabalho, diz que “dinheiro é a perdição do mundo” e “o capitalismo que sempre fala é o dinheiro”. O que pode significar a vitalidade de Leo, que queria ser profeta se tivesse “entendimento” pra não beber e ser capaz de seguir o que se diz na igreja, e afirma que “o meu problema, o meu negócio não é bebida, é o trabalho”? Leo é quem filma as cenas de carnaval da família na praia, material que vendeu para a produção do documentário em troca da semana de lazer, já que não conseguiu vender sua moto. Ele também recebe, à guisa de pagamento, a promessa de trabalho futuro na facção que ajuda a construir como pedreiro, com horário mais livre, situada num lugar árido de nome “Novo Coqueiral” (quem é o dono da facção?).
Na área rural ou, para dizer melhor, nos restos que sobraram da vida antiga e que o narrador faz questão de conferir para comparar com o que viu no passado, apenas seu João ainda pode descrever o movimento das nuvens que anunciam chuva; o Canário, único criador de bodes ainda ativo, atravessa a cidade e a estrada cheia de caminhões com os animais (“minha ilusão não é ganhar dinheiro pra humilhar” como “rico ganancioso”, diz Canário); dona Adalgiza, que não trabalha com jeans, responde com superioridade “eu não… eu sou agricultora”; uma casa transformada em facção guarda uma galinha de estimação. A religião aparece nas falas (“quem sabe o destino é Deus”), na porta de uma facção ou como grafite da parede de outra onde dançam ao som de um rap de Mano Brown (montagem do cineasta?), com crucifixo no peito e celular na mão.
A produção de jeans se realiza como venda na feira de domingo, mas, a rigor, estão elididos os dois extremos da produção. A presença da equipe de filmagem traz um pico de entusiasmo: poderia ser que a TV local para divulgação da feira! O que vemos nessa feira dominical, no entanto, é exaustão e sono. Euforia e exaustão estiveram sempre misturadas? Perguntadas pelo seu maior sonho, vozes sem corpo respondem que querem ficar ricos, ser “dono do próprio negócio”, “deixar minha marca”, “ser feliz”, “chegar ao ponto máximo”, “ter uma casa” e “ter família”, uma delas pergunta “sonho em que sentido?”, enquanto outra diz que não sabe se tem qualquer sonho ou desejo. De onde nascem esses sonhos (incluindo os de Leo) e sua ausência?
Ao fim e ao cabo, o documentário de Marcelo Gomes trata de uma vitalidade exausta que, sendo o avesso da vida digna, é comemorado (e por que não seria?) como horizonte que desabou no presente, na “terra da felicidade” (como contou a voz do narrador no início do filme). Apenas durante o Carnaval? Ou nem isso, ou não apenas?
O que pensar disso tudo? É o que parece perguntar o próprio filme, diante da naturalização perversa de uma unanimidade alienada, ao documentar o que é visível daquelas relações humanas (fetichizadas?). No final, entre máscaras da cena carnavalesca (com slow motion e batuque fúnebre como música de fundo), a figura de Leo que está atrás do grupo — alegre e feliz marionete? — será enquadrada no final apenas como um rosto, recoberto pela máscara dos que lidam com a pintura dos jeans, onde se destacam seus olhos embaçados. A dança das imagens na tela (são jeans) explicita a fantasmagoria. “A experiência bruta da história”.
*Salete de Almeida Cara é professora sênior da área de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa (FFLCH-USP). Autora, entre outros livros, de Marx, Zola e a Prosa Realista (Ateliê Editorial).
Referência
Estou me guardando para quando o carnaval chegar
Brasil, 2019, documentário, 85 minutos
Direção e roteiro: Marcelo Gomes
Fotografia: Pedro Andrade
Trilha Sonora: O’Grivo
Montadora: Karen Harley
Referências bibliográficas
ADORNO, Theodor, “Posição do narrador no romance contemporâneo”, in Notas de Literatura I, tradução de Jorge de Almeida. São Paulo: Editora 34/Duas Cidades, 2003.
ARANTES, Paulo, O fio da meada. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
–––––––– O novo tempo do mundo. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.
CANDIDO, Antonio, “Radicalismos”, in Vários escritos. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1995, 3ª edição.
_________ “O tempo do contra”, in Textos de intervenção (seleção, apresentação e notas de Vinicius Dantas). São Paulo: Editora 34/Duas Cidades, 2002.
__________ “O mundo-provérbio”, in O discurso e a cidade, Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2010.
CATALANI, Felipe, “A decisão fascista e o mito da regressão> O Brasil à luz do mundo e vice-versa, in blog da Editora Boitempo, julho de 2019.
DARDOT, Pierre e LAVAL, Chistian, La nouvelle raison du monde (essai sur la société néolibérale). Pris: La Décpuverte/Poche, 2010.
GRESPAN, Jorge, Marx e a crítica do modo de representação capitalista. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019.
MELLO E SOUZA, Gilda de, “Os inconfidentes’, in Exercícios de Leitura. São Paulo: Editora 34/Duas Cidades, 2009.
OLIVEIRA, Francisco de, Brasil: uma biografia não autorizada. São Paulo: Boitempo Editorial, 2018.
SCHWARZ, Roberto, “Um seminário de Marx”, in Sequências Brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, 2ª edição.
–––––––––– “O cinema e Os fuzis”, in O pai de família. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
__________ “O fio da meada”, in Que horas são?. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 2007.
__________ “Gilda de Mello e Souza”, in Martinha versus Lucrecia. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
XAVIER, Ismail, Encontros, organização de Adilson Mendes. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2009.
Notas
[1] “Quando eu faço uma crítica radical àquilo que a racionalidade burguesa não conseguiu alcançar, estou praticando uma utopia. Em certas conjunturas, você tem a capacidade de avançar na descrição utópica. Em outras, não tem. Eu percebo uma defasagem entre uma virtualidade que se abre e uma nova força que não se formou. A utopia é crítica do real por aquilo que nega o real. Não deve ser confundida com positividade, no sentido de pensar que o futuro contém o melhor. Então, acho que toda a crítica é uma utopia mesmo quando tem formas que não parecem utópicas.” Francisco de Oliveira. Brasil: uma biografia não autorizada. São Paulo: Boitempo Editorial, 2018
[2] “Fica a sugestão, mas a ideia talvez não pudesse mesmo se realizar em nosso meio, já que em última análise estávamos — e estamos — engajados em encontrar solução para o país, pois o Brasil precisa ter saída.” (…) E assim o nosso seminário (…) ficava devendo outro passo, que enfrentasse — na plenitude complicada e contraditória de suas dimensões presentes, que são transnacionais — as relações de definição e implicação recíproca entre atraso, progresso e produção de mercadorias, termos e realidades que se têm de entender como precariedade e a crítica uns dos outros, sem o que a ratoeira não se desarma”. Cf. Roberto Schwarz, op. cit. p.127
[3] Vale lembrar que em 1988, já depois da abertura democrática (com arranjos amplos de A a Z), Antonio Candido, decerto mirando os impasses objetivos do seu presente, examina os impasses de posições que, entre o movimento abolicionista e o golpe de Estado de 1937, protagonizaram um contrapeso “radical” (nos seus termos críticos) ao conservadorismo e ao populismo. E observava que o “papel transformador” do nosso radicalismo poderia avançar só “até certo ponto”, já que se identificava apenas “em parte com os interesses das classes trabalhadoras, que são o segmento potencialmente revolucionário da sociedade”. Cf. “Radicalismos”, in Vários escritos. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1995, 3ª edição, p. 266
[4] Para uma leitura completa de importantes análises sobre os filmes, cf. Roberto Schwarz, “O cinema e os fuzis”, in O pai de família, São Paulo: Companhia das Letras, 2008; “O fio da meada”, in Que horas são?, São Paulo: Companhia das Letras, 1987; “Gilda de Mello e Souza, Autonomia incontrolável das formas”, in Martinha versus Lucrecia. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; cf. também Gilda de Mello e Souza, “Os inconfidentes”, in Exercícios de leitura. São Paulo: Editora 34/Duas Cidades, 2009.