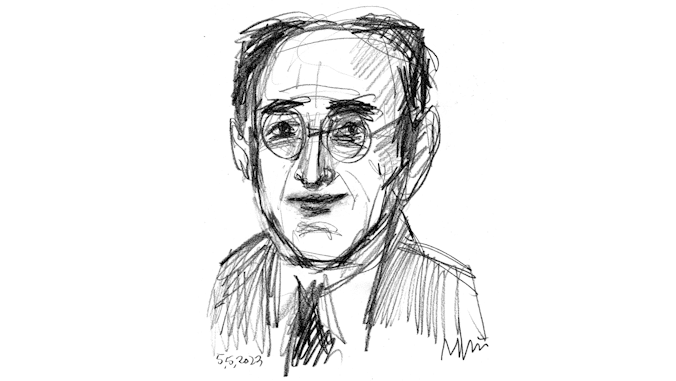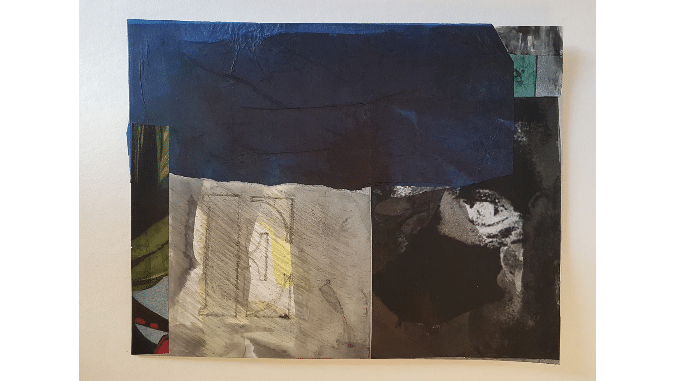Fellini impessoal
Por LUIZ RENATO MARTINS*
O cinema de Fellini, em vez de nostálgico e vivencial ou exasperadamente pessoal – como julgam muitos – é radicalmente analítico e político
“Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade” ( Antonio Gramsci).
O advento do neorrealismo, como principal fenômeno cinematográfico internacional do pós-guerra, revestiu significação cultural de primeira grandeza. Desencadeou uma reviravolta, além de estética, também cultural e política, alcançando os processos de produção e recepção do cinema, e colocando-os em discussão pública – extravasando a faixa estrita de questionamento, atingida pela arte de vanguarda.
Nesse processo, a importância de Rossellini foi crucial. Ele foi considerado, a partir de Roma Città Aperta (1945)[i], e de Paisà (1946), como precursor e artífice principal, não só na Itália, mas, de modo geral, deste movimento renovador, que seria pautado pela noção de autoria, de acordo com a ideia de “política dos autores”[ii], formulada mais tarde, em meados da década de 1950, pela equipe de Les Cahiers du Cinema[iii]. A noção de autor teve grande fortuna. Visava a realçar a expressão do diretor no processo cinematográfico, diante do peso de outros valores culturais e de fatores industriais e comerciais, determinantes da política de marketing dos grandes estúdios, e de fenômenos derivados, como o culto dos atores.
A noção de diretor-autor esteve na base da Nouvelle Vague – consagrada, no Festival de Cannes, em 4 de maio de 1959, com a aclamação da obra de Truffaut, Les Quatre Cents Coups[iv]. Irradiou-se também para os EUA e a Alemanha Ocidental, onde o modelo do filme pessoal e barato ensejou o Novo Cinema Alemão[v]. A mesma proposta seria adotada, segundo versões mais politizadas e radicalizadas, em países subindustrializados, apresentando-se, por exemplo, em movimentos como o do Cinema Novo brasileiro e também em correntes underground, como a do Cinema Marginal brasileiro, que emergiu em 1969[vi].
Na fórmula original dos Cahiers, a essência do cinema era encarnada pelo diretor. A ideia do cinema de autor, confrontada ao modo industrial, resgatava o papel do virtuose e do artesão e afirmava a expressão pessoal do diretor. Propunha a leitura dos estilos autorais como escrituras cinematográficas, ombreando a figura do cineasta com a do escritor – uma figura pontifical no cinema francês, inclinado, por tradição, à adaptação de obras literárias. O conceito de caméra-stylo[vii], que serviu a tal fim, ao mesmo tempo em que veiculava a ambição de autoafirmação e enobrecimento artístico do cinema, descurava, na analogia abstrata, a matriz própria de sua linguagem, de geração industrial.
O reconhecimento da individualidade dos diretores, graças à ação de tal corrente da crítica francesa, originou efetivamente o movimento da Nouvelle Vague e tornou-se o seu leitmotiv. A perspectiva dos críticos, transposta para o campo da produção, com a migração de parte considerável dos redatores dos Cahiers (Rivette, Truffaut, Chabrol, Rohmer, Godard e outros) para o exercício de realização, proclamado como autoria, assinalava a implementação de um novo estágio na indústria e no marketing do cinema.
Superava-se a antiga dualidade autor artesão vs. indústria, posta na dicotomia entre o movimento neorrealista e o sistema hollywoodiano, em troca de uma nova articulação entre a posição autoral – organizada em formas de trabalho semicooperativas – e o sistema produtivo distributivo. Abria-se a porta para a celebração dos realizadores e a veiculação regular do cinema de autor no mercado internacional[viii].
O fenômeno Fellini advém nesta fase de constituição do novo papel do realizador e de aclamação da Nouvelle Vague. Fellini já era, então, um autor reconhecido, várias vezes premiado em mostras internacionais, inclusive com dois Oscars, por La Strada e Le Notti di Cabiria, e integrado ao panteão da crítica. O triunfo estrondoso de crítica, de público e na mídia de La Dolce Vita, lançado no início de 1960, provoca uma mudança qualitativa no seu prestígio: converte-se na expressão do novo estatuto autoral[ix]. Assim no período entre La Dolce Vita e Otto e Mezzo (1963), Fellini se consolida para a opinião pública internacional como principal autor do cinema italiano, sucedendo a Rossellini nesse papel emblemático no foro originário do cinema de autor.
Passa a simbolizar o novo estágio de relações entre autor e indústria, em que o papel de diretor, promovido a protagonista do processo cinematográfico, deixa a situação artesanal e o ponto de vista da escassez e se integra ao núcleo de um mercado de luxo. Sinalizando o valor de referência central assumido por Fellini na nova conjuntura, o qualificativo “felliniano” (para designar certos traços ou situações) passa a ser adotado pela mídia de vários países.
Quais as causas dessa apoteose, que leva à iconização de Fellini? Teria sido casual e absurda a ascensão de Fellini a tal patamar? Ao invés, seria possível supor que o fenômeno comportasse uma tentativa da mídia e do público de assimilar os efeitos de La Dolce Vita[x]. Como explicar a diferenciação crucial que singularizou a recepção dessa obra, frente a outros produtos do cinema de autor? O que caracterizaria seu teor de novidade? Desde logo, neste plano dominado pela suscetibilidade imediata, pode-se considerar secundária a questão especificamente estética de sua estrutura, consoante a outras formas narrativas contemporâneas e cuja análise não cabe aqui.
Seu primeiro impacto decorreria da surpresa, precisamente, da novidade de sua orientação temática. Isto é, do fato de se destacar seja do mundo da penúria ou de exclusão do mercado – típico do neorrealismo –, seja do subjetivismo intimista, explorado subsequentemente como variante ao neorrealismo, de diferentes modos, por Visconti, Rossellini, Antonioni. Em troca, La Dolce Vita desnudava o predomínio do marketing na cultura e nos serviços, modificando os costumes e afetando com intensidade específica o cinema – nessa experiência, possivelmente à frente das demais artes. Uma declaração de Fellini nessa época atestava o papel polêmico que conferia à sua intervenção, frente ao coro dos valores humanistas dos bem pensantes, inclusive das hostes neorrealistas[xi]: “Vamos ter um pouco mais de coragem? Vamos deixar de lado as dissimulações, as ilusões equivocadas, os fascismos, os qualunquismos[xii], as paixões estéreis? Tudo se rompeu. Não acreditamos em mais nada. E daí?”[xiii].
La Dolce Vita trazia como protagonista um híbrido de jornalista, agente comercial e relações públicas tanto da cultura quanto da moda. E observava uma mutação radical dos valores e das condutas. Apresentava o poder das relações de mercado moldando a arte, a cultura em geral, e a gama das relações humanas em jogo. A força de impacto da obra nascia da exposição dramática das suas condicionantes, redefinindo a imanência do cinema e propondo um olhar mais analítico sobre o mundo das imagens[xiv]. Operava-se, então, uma conjunção inédita e chocante, para muitos, entre referência ao processo da obra, ou exposição de sua estrutura, e caracterização dos mecanismos de mercado, implantados na Europa pós-Plano Marshall, e na Itália do chamado miracolo industrial dos anos 1950.
A investigação do novo quadro de relações entre arte e indústria iria se desdobrar em Otto e Mezzo, que descortinaria a reorientação do processo cinematográfico, justamente a partir do diretor autor, encarnado por Guido – cortejado e homenageado pelo seu produtor, em moldes impensáveis antes do advento do cinema de autor. De modo análogo, os atores gravitavam docilmente em torno do diretor – como os componentes de uma orquestra musical em torno do maestro, ou seja, de modo também irreal para o star-system estabelecido em Hollywood –, enquanto o embate de trabalho mais duro, vivido por Guido, vinha precisamente do choque de ideias com o escritor – logo, outro sinal de sua caracterização como autor.
Desse modo, enquanto a Nouvelle Vague recorria à noção do autor como dogma estético mediante fórmulas teóricas – como política dos autores ou caméra-stylo – ou por outras vias (tal a afirmação do teor autobiográfico de Les Quatre Cents Coups), já o trabalho de Fellini introduzia uma nova perspectiva de questionamento do processo de produção. Entretanto o calor da hora, marcada pela voga do cinema de autor, transformaria Otto e Mezzo em paradigma da perspectiva autoral, eclipsando seu projeto crítico, para contrariedade do realizador[xv].
Exceção à regra foi o artigo de Roberto Schwarz, “8 1/2 de Fellini: O Menino Perdido e a Indústria” (1964)[xvi] – postado recentemente no site A Terra é Redonda – apontando, de modo inédito, exatamente a visada histórica do filme, sua crítica da articulação entre a expressão individual do artista e a indústria, e a distância, por fim, entre a perspectiva crítica efetiva da obra e a ingenuidade exposta do seu protagonista, o cineasta Guido.
Com a difusão triunfal do equívoco, que ocultava o questionamento na tela das reestruturações no âmbito da produção, iria se forjar e propagar, de modo extenso e generalizado, a ideia de que o estilo de Fellini seria essencialmente autobiográfico, representando e exasperando as premissas do cinema de autor[xvii]. Será porém que Otto e Mezzo, ao fazer de um cineasta o suposto narrador e a figura central, seria, por isso, obra autobiográfica? A resposta afirmativa, amplamente majoritária até hoje, sustenta a visão estabelecida de um mitológico e tautológico estilo felliniano, fazendo a apologia do cinema e de suas próprias memórias.
Ao invés, a hipótese aqui apresentada contradita a possibilidade de tal estilo. Supõe obras analíticas e diferenciadas, e em tensão polêmica entre si, sem exclusão de outros embates em tópicos específicos. Nesse sentido, este trabalho retoma a virada da interpretação proposta pelo juízo contracorrente de Roberto Schwarz, acerca da impessoalidade de Otto e Mezzo, repropondo-o extensivamente na interpretação da obra subsequente de Fellini.
Nesta perspectiva, este trabalho sustenta que o cinema de Fellini, em vez de nostálgico e vivencial ou exasperadamente pessoal – como julgam muitos, na linha do cinema de autor – será radicalmente analítico e político, e, enquanto tal, fundamentalmente impessoal. Desse modo, sua obra efetuaria a crítica das premissas do cinema de autor, como do neorrealismo, desconstruindo a fabricação do cinema. E, ao mesmo tempo, examinaria as transformações históricas de uma cultura totalitária, com fundo agrário e provinciano, para uma sociedade marcada pelos mecanismos de mercado e essencialmente conflituosa, nos termos do processo de industrialização e urbanização, implementado na Itália republicana. Nesse sentido, frente a um quadro de complexidade nova, Fellini se contraporia pelo distanciamento e pela ironia à estética neorrealista, que se apoiava na busca de uma expressão popular, carregada de autenticidade, dos atores e dos autores – empenhados, por sua vez, na crítica do cinema de estúdio e espetaculoso da era fascista.
Nessa via, enquanto a influência neorrealista se exercia sobre Fellini – através dos seus vínculos de amizade e de trabalho com figuras exponenciais do neorrealismo, tais como Rossellini, Fabrizi, Anna Magnani e outros, e pelo alto prestígio do movimento –, sua obra já se destacaria nitidamente[xviii], oferecendo desde o começo, no seu vezo satírico pronunciado, uma leitura crítica do processo cinematográfico. Suspendia, nesse sentido, a crença na transparência dos signos, pressuposta pela estética neorrealista – preocupada, antes de tudo, com a práxis humana e a totalidade do mundo –, para, em troca, conquistando um ganho crítico, delimitar o processo cênico ou a situação de estúdio como novo campo de imanência.
No percurso crítico cumprido pela obra de Fellini, segundo a hipótese, a questão fascista pode ser vista como um tema chave. Com efeito, ela traria um limite crítico do neorrealismo; por exemplo, de Roma Città Aperta e Paisà, obras delimitadas pelo ditame de união nacional, cuja visada – centrada nas ações da Resistência partigiana, ou na derrocada militar e política do fascismo, ocorrida no desfecho da guerra – deixaria intactas suas matrizes culturais e históricas, sintetizadas na tríade Deus, Pátria e Família[xix] – valores que sobrevivem à queda do regime e se mantêm como pilares do regime anticomunista subsequente, guindado ao poder pela Guerra Fria.
O projeto crítico neorrealista também revelaria insuficiência noutro aspecto da questão fascista: aquele relativo à história do cinema italiano, já que não questionaria – entre outros fatores menos evidentes, como a opacidade da linguagem ou os limites da subjetividade autoral – um dado evidente e preocupante: o parentesco do cinema italiano com o regime fascista, criador de Cinecittà.
A análise do fascismo, referido diretamente na obra de Fellini, a partir de I Clowns, pode ser vinculada àquela da cultura de massa, alvo primordial e constante da obra. Segundo a hipótese, a atenção precoce e estratégica no projeto crítico de Fellini para com a cultura de massa se explicaria seja por suas questões envolverem a especificidade do processo cinematográfico – um ponto cego ou impensado do projeto neorrealista –, seja em razão da cultura de massa, na Itália, vir condicionada pelo fascismo, tanto no que tange ao aparato de produção (vide a herança de Cinecittà) quanto, em parte, no caso dos próprios produtos – tal as fotonovelas, que parecem descender estilisticamente da cinematografia fascista, melodramática e propensa ao exotismo. Viria daí o tema de Lo Sceicco Bianco (1952), primeiro filme solo de Fellini, depois de realizar, em parceria com Lattuada, Luci del Varietà (1950) – uma leitura aguda da fragmentação do tecido social e da cultura popular, e da reconstrução do show-business a partir de contingentes de desenraizados, no pós-guerra.
Assim, Lo Sceicco Bianco viria incidir de modo cáustico sobre um filão recém-aberto pela indústria editorial, e em plena expansão, o mercado das fotonovelas[xx], associando-o além do mais ao poder obscurantista e conservador do Vaticano. A Itália padece a histeria da Guerra Fria, e a clientela consumidora desses periódicos, concentrada no campo e em pequenas cidades do Sul (como o casal Wanda e Ivan Cavalli, funcionário municipal, protagonistas da obra), condensa também o principal foco eleitoral da Democracia-Cristã. Os poderes da religião e do Vaticano são empenhados contra o prestígio do PCI, adquirido na luta contra o fascismo. Um ano antes, em 1950, o Vaticano – cenário do grande final desta farsa felliniana em estilo guignol – promovera o Ano Santo.
O crítico Oreste del Buono, ao descrever o panorama da Itália de 1951, contemporâneo às filmagens de Lo Sceicco Bianco, enumera: dois milhões de desempregados; grave penúria habitacional; nível de nutrição desastroso; mortalidade infantil exasperada; perseguição aos militantes sindicais; seguidas tentativas do governo democrata-cristão, de De Gasperi, de restringir garantias constitucionais recém promulgadas; visitas sucessivas de generais dos EUA (Eisenhower, Ridgway) à Itália, e de De Gasperi aos EUA; séries de manifestações de multidões contra a ingerência militar e política dos EUA, frequentemente reprimidas a tiros, trazendo mortes em Comacchio, Adrano, Piana dei Greci [xxi]. Nesse quadro de crise e confrontação, Lo Sceicco Bianco incomodaria por escarnecer da credulidade face à linguagem e à religião, do jogo de influências entre o Vaticano e a administração pública, e do carreirismo de um funcionário. A obra, mal recebida, foi definida, por um dos poucos críticos favoráveis, como “o primeiro filme anárquico italiano” [xxii].
A intervenção de Fellini não era intempestiva. Já fora antecedida por um curta-metragem de Antonioni, L’Amorosa Menzogna (1949), e por Belissima (1951), um longa de Visconti. O próprio argumento de Lo Sceicco Bianco teve a concepção original de Antonioni, tendo sido, em seguida, vendido a um produtor e reelaborado por Fellini, Pinelli e Flaiano. E os rumos ulteriores da obra de Fellini, prosseguindo no encalço do ilusionismo moldado em série e dos fenômenos de marketing, viriam mostrar que a conjunção do realizador e do argumento integraria um processo em evolução.
Logo, pela hipótese, as temáticas de La Dolce Vita e Otto e Mezzo não seriam circunstanciais, mas etapas de uma investigação. Pertenceriam, em suma, ao fio condutor posto, desde o princípio, pela ironia frente ao envolvimento pessoal e imediato ou não distanciado, junto às imagens, por parte do espectador como do autor. No curso da investigação da cultura italiana verificada na filmografia de Fellini, poder-se-á notar a sobreposição entre as prerrogativas de autor e a cultura autoritária, senão fascista, como viria deixar claro Intervista (1987), ao caracterizar o autor cinematográfico, avistado pelo jovem Fellini, repórter no set de Cinecittà, como um explorador colonial – à semelhança da primeira representação, na obra, de um realizador, com traços de despotismo e grandiloquência, como aparece em Lo Sceicco Bianco[xxiii].
No quadro desta carreira geralmente aclamada, mas de curso analogamente denegado e sujeito à incompreensão, observa-se que, a cada novo trabalho, a mídia repisa, pelo seu lado, o slogan corrente de que Fellini seria um autor autobiográfico, um obcecado por si mesmo e pelo cinema. De outro lado, tem-se o realizador, em suas irônicas aparições aos jornalistas, enfatizando seguidamente o caráter artificial e inventado dos estilemas pessoais e autobiográficos utilizados em suas obras. Se tal impasse parece ainda muito longe de se solver, a obra entretanto teria evoluído, radicalizando a desconstrução analítica seja do processo cinematográfico, seja das subjetividades envolvidas tanto na realização como na recepção do cinema.
Nesse sentido, a partir de I Clowns (1970), pode-se assinalar um novo patamar crítico, no qual a própria obra precedente de Fellini seria diretamente submetida à operação crítica, desencadeada contra as premissas e práticas autorais. Assim, Fellini passaria a assestar a sua ironia, não contra um cineasta qualquer, como em Otto e Mezzo, mas contra o seu próprio ícone, veiculado pela mídia; de modo correlato, entraria em cena, não para deixar a sua marca autoral, à la Hitchcock, mas para inserir a representação do autor, de modo isonômico, no mesmo plano temporal e axiológico de outros signos elaborados no filme[xxiv].
De acordo com a hipótese, tal objetivação da figura autoral, cercada por forte dose de ironia, visaria à eliminação das incompreensões suscitadas por Otto e Mezzo: colocaria, para os espectadores, a representação do autor de modo mais delimitado e concreto do que as referências feitas ao papel do autor, em Otto e Mezzo, todavia, de forma etérea e onividente. A nova inscrição do autor tolheria a infinitude da cena, correlata à pressuposição da infinitude subjetiva do autor, em parte implicada antes.
Nesta perspectiva, Roma (1971) viria tomar claramente o partido da finitude. Desdobraria e potenciaria a operação, deslanchada em I Clowns, pela qual o crivo crítico contra figuras convertidas em emblemas do estilo do autor evoluiria para uma desconstrução da perspectiva autoral ou subjetiva, substituída por uma estrutura crescentemente dialógica – crítica frente às marcas da expressividade pessoal, assim como da significação unívoca, universal ou transcendente, da visualidade.
No livro Conflito e interpretação em Fellini (Edusp) busco determinar em detalhe o andamento de tal processo, simultaneamente crítico e produtivo, em Roma (1971), Amarcord (1973), Prova d’Orchestra (1979) e Città delle Donne (1980). A circunscrição da análise em torno dessas quatro obras visa à desmontagem das questões de autoria, em favor da afirmação de estruturas estéticas dialógicas ou públicas. Por certo, a fase em exame não exclui Casanova (1976), nem se limita ao universo das obras elaboradas no correr da década de 1970, visto o processo crítico vir de longe, como procurei mostrar, e avançar para além das amostras selecionadas aqui para análise. A rigor, é preciso, pois, indagar se a escolha operacional foi oportuna e acertada com vistas à formulação e à discussão estética dos princípios ou valores apontados.
*
No quadro proposto para a discussão estética, onde a noção de cinema de autor ou de expressão pessoal tem a função de um divisor de águas inicial, destaca-se uma implicação decisiva, com valor de fio condutor, para o seu desenvolvimento. Ela trata da contraposição entre a restauração da experiência da arte ou do espetáculo cinematográfico, como objeto de culto estético, e, de outro lado, a inserção do espetáculo no contexto de uma dialética aberta ou pública, não circunscrita aos limites da razão, mas própria à discussão democrática, concebida como atividade conflituosa de fatores heterogêneos.
Nessa hipótese, enquanto, por um lado, os neorrealistas e a Nouvelle Vague, por vias diversas, teriam buscado conferir originalidade e autenticidade à presença, ao hic et nunc da experiência cinematográfica – os neorrealistas mediante o toque de verdade no momento do registro ou da filmagem e a Nouvelle Vague pela cinefilia, o amor a filmes e a exaltação de autores; ambas as vias redundando, em suma, na implementação de uma atitude de culto ao objeto cinematográfico.
Por outro lado, Fellini teria realçado constantemente o aspecto artificial e repetitivo do cinema, inerente ao seu processo industrial, em suma, despojando-o de valor de autenticidade. Nesse sentido, preocupar-se-ia agudamente, desde Luci del Varietà, com o valor de troca conferido às imagens e, logo, com o aspecto manipulatório da produção cênica, submetida a um processo de fetichização – patrocinado não só por Hollywood, mas também pela ingenuidade neorrealista e pelo esteticismo da Nouvelle Vague – o qual, desde a segunda metade dos anos 1960, Godard, com maior senso crítico, também iria recusar.
Despontaria assim na trajetória de Fellini, referida fundamentalmente à fabricação do cinema e atenta, do mesmo modo, ao seu processo de recepção, uma convergência com o rumo dos ensaios estéticos de Walter Benjamin, em diálogo com Brecht, sobre a modernidade, e as modificações trazidas pelo uso de técnicas industriais na produção visual. Benjamin apontava, já na década de 30, a perda da aura, da autenticidade dos objetos de arte, ou do valor da experiência estética formulada como contemplação pelo pensamento clássico setecentista germânico, influenciado por paradigmas teológicos.
A leitura irônica e analítica de Fellini, ao revés da expressividade neorrealista como daquela pessoal dos autores, e da promoção de valor do cinema, viria confluir, aqui, no mesmo sentido da teoria crítica e combativa de Benjamin. Acentuaria também tal convergência, o enfrentamento direto que ambos movem contra a estética fascista, marcada, para Benjamin como para Fellini, pelo reaproveitamento, em escala de massa, de paradigmas estéticos setecentistas vinculados à ética unívoca ou universal do sujeito, os quais implicam a obliteração da materialidade da recepção estética, no caso, transcorrida em foro coletivo e no horizonte industrial da modernidade.
No quadro das contraposições com os aspectos restauradores do neorrealismo e da Nouvelle Vague, e de confluência com a estética benjaminiana, propõe-se ao leitor examinar, na obra de Fellini, o possível recurso aos ensinamentos do teatro épico brechtiano, propugnando a perspectiva distanciada das imagens. Assim, se as preocupações de afirmação do valor do cinema teriam levado a Nouvelle Vague ao emprego, em geral apologético, de citações e referências, celebrando filmes e autores – segundo característica que poria a Nouvelle Vague em paralelo com procedimentos da Pop-Art norte-americana, que efetuou, com Warhol e Rosenquist, por exemplo, a incorporação apologética de imagens provenientes do marketing –, em contraposição, as citações viriam constituir procedimento também recorrente nas obras de Fellini, mas visando a atender à preocupação analítica e política, ou democrática, de constituir uma outra perspectiva sobre a imagem aludida.
Via de regra, a ironia e o pastiche viriam a ser os procedimentos de distanciamento adotados para dissolver a aura, eventualmente cristalizada em torno de certas imagens, e para recolocá-las em debate. Pode-se vislumbrar, aqui, nessa reutilização de concepções do teatro épico brechtiano, tal como se apresentavam na estética de Benjamin, o que se poderia talvez denominar de um “brechtismo minimal”, praticado por Fellini. Ou seja, um reaproveitamento desses procedimentos no foro cênico, desligado, contudo, de uma teoria sobre a história – por certo, originalmente crucial para Brecht, mas cuja crença o pessimismo de Fellini o impediria de professar (outro ponto de possível aproximação com o multifacetado pensamento de Benjamin).
Neste sentido, observando-se simultaneamente o foco imanentista e o teor acentuadamente crítico ou não doutrinário dessa produção, conviria, em termos gerais, ancorar a obra de Fellini no quadro das poéticas da esfera pública [xxv], cuja designação, além dos princípios apontados, escapa aos limites deste trabalho.
* Luiz Renato Martins é professor-orientador dos programas de pós-graduação História Econômica (FFLCH-USP) e Artes Visuais (ECA-USP). Autor, entre outros livros, de The Long Roots of Formalism in Brazil (Haymarket/ HMBS).
* Publicado originalmente como apresentação do livro Conflito e Interpretação em Fellini: Construção da Perspectiva do Público. São Paulo, EDUSP, 1993.
Notas
[i] Primeira exibição em 24 de setembro de 1945, no Teatro Quirino, em Roma.
[ii] A expressão Politique des Auteurs, criada por François Truffaut, surgiu nos Cahiers du Cinéma, 44, de fevereiro de 1955. Ver Antoine de Baecque, Les Cahiers du Cinéma. Histoire d’une Revue, tomo I, Paris, Cahiers du Cinéma, 1991, p. 147 e ss. Para ideias antecedentes à concepção de Truffaut, expressas seja na França, através da Revue du Cinéma (1946), seja na Inglaterra, por Lindsay Anderson, em 1950, ver John Caughie, Theories of Autorship: A Reader, London, Routledge & Kegan Paul, pp. 36-37.
[iii] O número 1 da revista data de 1º de abril de 1951.
[iv] Desde 1957, alguns redatores dos Cahiers já realizavam curtas-metragens. Sobre o impacto específico deste filme – lançando a ideia de filmes pessoais e de baixo custo – junto aos produtores e homens de negócio, ver Antoine de Baecque, op. cit., p. 286. Sobre o enorme sucesso de bilheteria da Nouvelle Vague e as facilidades de produção daí advindas, ver idem, tomo II, pp. 7 e ss.
[v] O Manifesto de Oberhausen (28.2.1962), assinado por vinte e seis realizadores, marcou o surgimento do Novo Cinema Alemão, voltado, segundo Alexander Kluge, um dos signatários, para a realização de “filmes de baixo custo, que traduzissem experiências altamente pessoais. Elas poderiam ser triviais ou sofisticadas”. Cf. Alexander Kluge, “On New German Cinema, Art, Enlightenment, and the Public Sphere: An Interview with Alexander Kluge”, entrevista realizada por Stuart Liebman em Munique (6 e 16.12.1986, e 26.7.1987), October, 46, op. cit., p. 23.
[vi] Sobre a incidência e as variantes assumidas pela ideia do cinema de autor no Brasil, ver Ismail Xavier, Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal, São Paulo, Brasiliense, 1993.
[vii] O equivalente literal da expressão, em português, seria “câmera-caneta”. Segundo afirmava o inventor da expressão, Alexandre Astruc: “[o cinema] depois de ter sido uma atração popular de feira, um divertimento análogo ao teatro de boulevard, ou um meio de preservar as imagens de uma era, está gradualmente se tornando uma linguagem. Por linguagem, quero dizer uma forma na qual e pela qual um artista possa expressar os seus pensamentos, não importa quão abstrato sejam eles, ou traduzir suas obsessões exatamente como faz no ensaio contemporâneo ou na novela. É por isso que eu gostaria de chamar esta nova idade do cinema a idade da caméra-stylo“. Cf. Alexandre Astruc, “O Nascimento de uma Nova Vanguarda: a Caméra-stylo“, em L’Écran Français, 144, 30.3.48, apud John Caughie, op. cit., p. 9. Astruc, que depois participaria da equipe dos Cahiers e seria cineasta, era então um jovem crítico.
[viii] Kluge diferenciou o grupo de Oberhausen, frente à Nouvelle Vague, afirmando: “O grupo de Oberhausen se caracterizava por perseguir um modo de produção como se o capitalismo estivesse começando de novo, como se fosse possível utilizar os métodos de 1802 na era do big business. (…) Nós tomamos as palavras (politique des auteurs) e mudamos o seu sentido. Com a Politik der Autoren, a responsabilidade financeira confundia-se com a artística”. Cf. Alexander Kluge, op. cit., p. 24. A diferença, estabelecida retrospectivamente, não apaga, mas reafirma o débito intelectual do movimento germânico para com os Cahiers, como também a vinculação essencial entre a flexibilização do modo de produção e a valorização da expressão pessoal do realizador-empreendedor.
[ix] Em retrospecto, relata Tullio Kezich sobre os meses seguintes ao lançamento de La Dolce Vita: “O cinema italiano está em plena retomada: Antonioni apresenta L’avventura em Cannes, Visconti está filmando, em Milão, Rocco e i Suoi Fratelli; multiplicam-se as iniciativas independentes. O sucesso de Fellini conferiu legitimidade e carisma à figura do diretor, estamos na melhor estação do cinema de autor [autorismo]. As teorias da Nouvelle Vague [caméra-stylo, filme de baixo custo, diretor como único autor] enraízam-se no solo do nosso cinema […], debilita-se o prestígio dos produtores, que, agora, tentam se repropor como pontos de apoio organizativos, econômicos e comerciais”. Cf. Tullio Kezich, Fellini, Milano, Rizzoli, 1988, p. 299.
[x] Sobre as polêmicas em torno de La Dolce Vita, ver “Commenti e reazioni a La Dolce Vita a Cura di Paolo Mereghetti”, em Federico Fellini, La Dolce Vita, Milano, Garzanti, 1981, pp. 159-220. Ver também Tullio Kezich, op. cit., pp. 291-294.
[xi] Rossellini acusa o golpe contra os princípios do neorrealismo e, apesar de sua longa relação sentimental com Fellini, não esconde sua desaprovação, afirmando que Fellini se desencaminhara. Após um encontro pouco à vontade entre ambos neste período, Fellini comentou: “Olhou-me como Sócrates teria olhado Critão, se o discípulo tivesse subitamente enlouquecido”. Cf. Tullio Kezich, op. cit., p. 136.
[xii] O qualunquismo foi um movimento político do primeiro pós-guerra, inspirado nos sentimentos e interesses do homem comum. O termo passou a ser usado para exprimir uma atitude antipolítica ou de indiferença frente aos problemas políticos e sociais.
[xiii] Cf. Tullio Kezich, op. cit., p. 183.
[xiv] Outro indício da intenção explicitamente cortante da obra é dado pelo fato de Fellini ter filmado a sequência da festa dos nobres ao som da canção de Brecht e Weill, Mack the Knife, ao fundo, em playback. Como a música não podia ser conservada no filme, Nino Rota elaborou para Fellini um tema parecido. Cf. Tullio Kezich, op. cit., p. 278.
[xv] Ver nota 15 do Capítulo 4 de Luiz Renato Martins, Conflito e Interpretação em Fellini: Construção da Perspectiva do Público, São Paulo, EDUSP, 1993, p. 143.
[xvi] Publicado originalmente no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo. Republicado em Roberto Schwarz, A Sereia e o Desconfiado: Ensaios Críticos, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981, pp. 189-204.
[xvii] Pode ser um sintoma da demanda por obras pessoais (então vigente) que a massa de interpretações, neste quadro, não colocasse a hipótese do perfil de Guido ser decalcado a partir de um autor terceiro, falando na primeira pessoa, o que, porém, seria lógico, dado que Fellini fora caricaturista profissional.
[xviii] A novidade da linguagem de Fellini não escapou à acuidade de Rossellini. Segundo Oreste del Buono, “Rossellini viu Lo Sceicco Bianco em fase de montagem, e se expressou claramente: ‘Durante a projeção atravessei mil emoções, porque reencontrava na tela Fellini tal e qual o conhecia intimamente depois de tantos anos. Aturdido, me senti velho, enquanto o sentia tão jovem…’”. Cf. Oreste del Buono, “Un Esordio Difficile”, em Federico Fellini, Lo Sceicco Bianco, Milano, Garzanti, 1980, p. 12.
[xix] São os dizeres de uma faixa de rua, mostrada no vilarejo de Amarcord, logo após a derrubada a tiros, pelos fascistas, do gramofone que tocava A Internacional.
[xx] Em 1947, Mondadori lança o semanário Bolero Film. Seguem-se Sogno, Grand Hotel, Tipo, Luna Park, Incontri, cujas tiragens atingem rapidamente milhões de exemplares. Calcula-se o público leitor de então em torno dos 5 milhões. Cf. Oreste del Buono, op. cit., p. 6. Ver também Tullio Kezich, op. cit., p. 172.
[xxi] Ver Oreste del Buono, op. cit., pp. 5-7.
[xxii] A opinião sobre o caráter libertário do filme, emitida na época pelo crítico Callisto Cosulich, é reportada por Tullio Kezich, op. cit., pp. 183-185. O filme foi relançado, em 1961, após o sucesso de La Dolce Vita, mas, de novo, e apesar dos nomes já consagrados de Fellini e Alberto Sordi, Lo Sceicco Bianco, não obteve sucesso. Para o crítico Oreste del Buono, “ Lo Sceicco Bianco, um dos mais belos filmes de Federico Fellini e do cinema italiano dos últimos cinquenta anos, está, no fundo, ainda para ser descoberto”. Cf. idem, pp. 13-15. A propósito, num estudo recente centrado no filme, Jacqueline Risset, ex-integrante da revista francesa Tel Quel, conclui que esta obra já esclarece “o movimento central do cinema de Fellini, o desdobramento constante […]: ilusão, desilusão, liberação feliz e horror mesclados de ausência de significação”. Cf. Jacqueline Risset, Fellini: Le Cheik Blanc : l’Annonce Faite à Federico, Paris, Adam Biro, 1990, p. 56.
[xxiii] Na obra de Fellini, a representação do autor como déspota, conjugando traços de vigarice e histrionice, parece recorrente. Um recenseamento incluiria, desde representações iniciais, em Luci del Varietà, passando pelas figuras de Oscar e do mago de Le Notti di Cabiria, pela de Guido, com dotes de sultão, e, assim por diante. Um momento marcante dessa série estaria em I Clowns, em que, além do clown branco, prepotente e vaidoso, encarnar o autor, destaca-se ainda uma cena, de folia de circo, em que Fellini – representando a si próprio, prestes a responder, no set de filmagens, a um jornalista que o interroga acerca da mensagem do seu filme – tem a sua cabeça colhida por um balde, arremessado de modo irreverente por um anônimo, fora da cena.
[xxiv] Um caso, em certos termos, análogo ao de Fellini seria o de Jean-Luc Godard. Este, com a série de filmes militantes influenciados pelos eventos de Maio de 68, também enveredaria, neste período inicial da década de 1970, por uma via certamente diversa da de Fellini, mas que igualmente obedeceria a uma estratégia de desconstrução da perspectiva autoral, da qual fora um expoente.
[xxv] Para uma proposta de constituição de um paradigma teórico nesse sentido, apresentando a ideia de uma “esfera pública de oposição” ver: Alexander Kluge e Oskar Negt, “The Public Sphere and Experience: Selections“, October, 46, op. cit., pp. 60-82; Kluge apud Liebman, “On New German…”, op. cit.; Miriam Hansen, “Cooperative Auteur Cinema and Oppositional Public Sphere”, in New German Critique, n. 24-25, Milwaukee, University of Wisconsin, Fall/Winter 1981-1982, pp. 36-56.