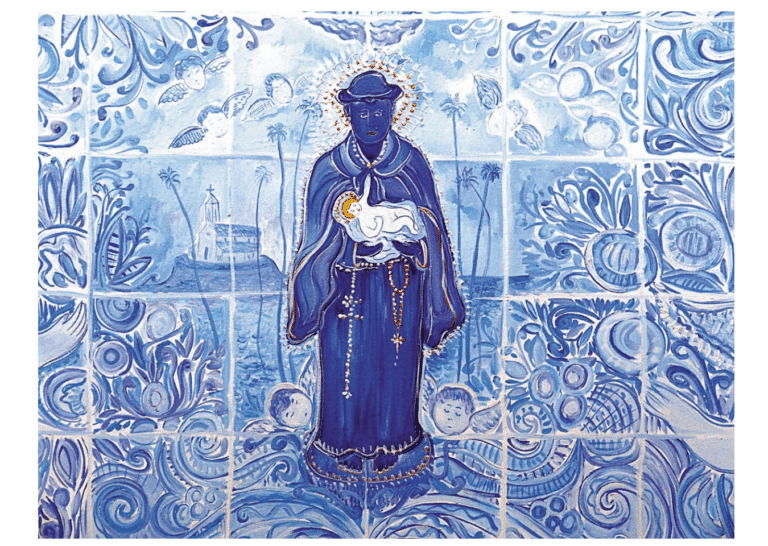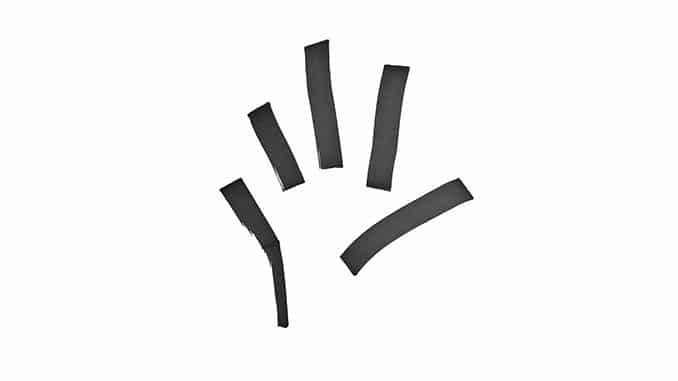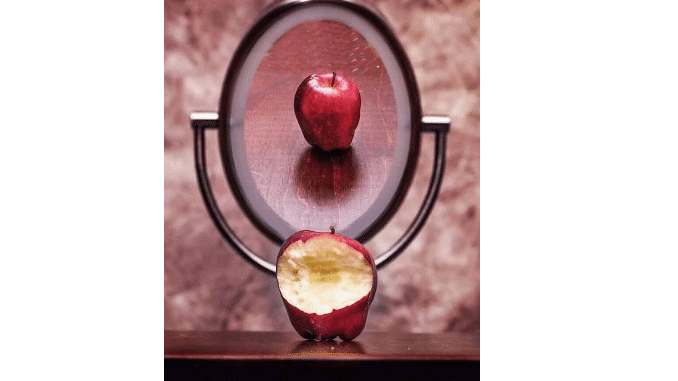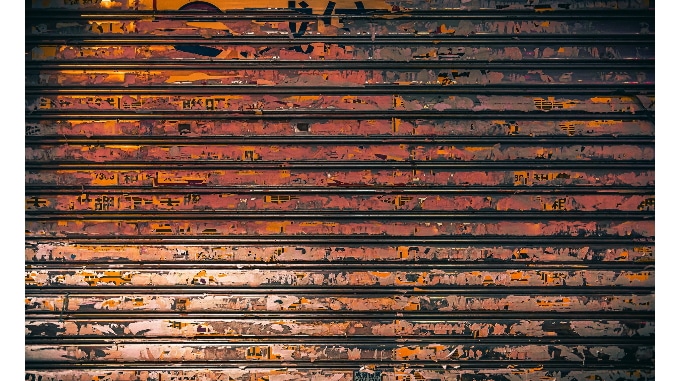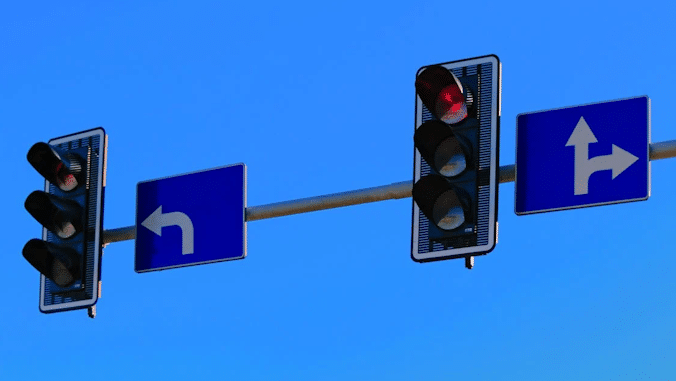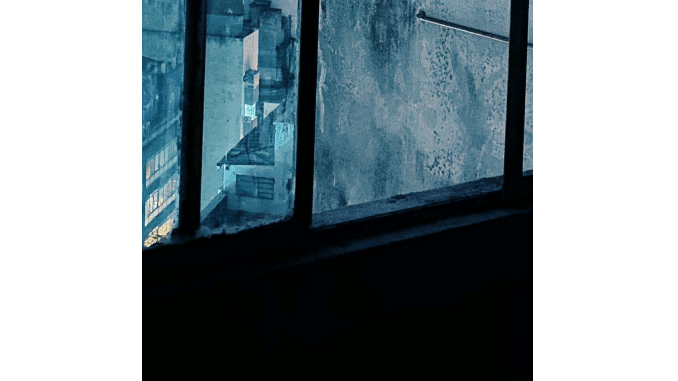Por JALDES MENESES*
Comentário sobre as teses e a recepção do livro clássico do sociólogo
“Se já houve, alguma vez, um ‘paraíso burguês’, este existe no Brasil, pelo menos depois de 1968” (Florestan Fernandes, A revolução burguesa no Brasil).
“O grande acontecimento da história do Brasil ainda não aconteceu” (Nelson Werneck Sodré)
Introdução
Professor universitário socialmente respeitado e militante de esquerda, na época, sem partido definido, adversário intransigente da ditadura militar de 1964, dez anos depois da instauração da ditadura (1974), Florestan Fernandes (cujo centenário de nascimento se comemorou em 22/07/2020), pincelava os retoques finais na máquina de escrever de um livro ambicioso – “que reflete os conhecimentos acumulados ao longo de toda uma carreira” (Fernandes, 2005, p. 425) – intitulado A revolução burguesa no Brasil – ensaio de interpretação sociológica (doravante, o termo será grafado pela sigla RBB), cujos quarenta e cinco anos de primeira edição se comemoram também neste ano de 2020.
Culminava o autor uma conscienciosa reflexão que durou muitos anos, no guarda-chuva do projeto de pesquisa coletivo ‘Economia e Sociedade no Brasil’ (1962), sobre os enigmas de um Brasil em transformação, redigido pelo próprio Florestan, e o acréscimo de uma emenda de Fernando Henrique Cardoso (doravante, FHC). Logo sobreveio o golpe. Daí em diante, seguiram-se dez anos de dificuldades, durante os quais o professor Florestan, aposentado compulsoriamente na USP em 1969, teve de peregrinar em estadias como Visiting Scholar na Universidade de Columbia (Nova Iorque, 1965/66) e Professor Titular em Toronto (Canadá, 1969/72). Circulou por Yale (1977) e, neste interim, a convite de Dom Paulo Evaristo Arns, foi contratado como Professor Titular na PUC-SP, em 1978, onde ministrou cursos seminais. O personagem real Florestan subverteu forçado o caminho de Wilhelm Meister (personagem clássico de Goethe), que peregrinou nos anos de formação e acomodou-se na maturidade (Goethe, 2006). Formado inteiro de corpo e alma no ambiente intelectual de São Paulo, Florestan foi obrigado a peregrinar próximo de completar 50 anos, carregando um desterro de sofrimento maduro – deixou a família em São Paulo e levou na mala a saudade – e nunca se adaptou a viver plenamente no universo das tinktanks lá de fora.
A ideia do livro deve muito, no plano mais íntimo, ao incentivo da filha, Heloísa Fernandes, de transformar as notas sistemáticas, preparadas com rigor, para cursos orais na perenidade de uma publicação. “O curso chamava-se no começo de ‘Formação e desenvolvimento da sociedade brasileira’, depois ‘A revolução burguesa em processo’, e, finalmente, A Revolução Burguesa no Brasil o qual, publicado pela primeira vez em 1975, foi constituído pela revisão das anotações das aulas, de 1966, e por uma longa terceira parte, ‘Revolução Burguesa e Capitalismo Dependente’ – que Florestan escreveu especialmente para o livro, em 1973” (Fernandes, 2006, p. 4).
O ambicioso e complexo livro já nasceu clássico. Percorria e interpretava toda a história do Brasil (Colônia, Independência, Império, República e Ditadura). Além da larga duração temporal, sua estrutura é complexa. Do ponto de vista metodológico, é dividido em duas partes, fornidas de perguntas e suportes de tipos weberianos e conceitos positivos durkheianos, mais uma terceira parte final de predominante viés marxista francamente radical e revolucionário. De início, a primeira versão do manuscrito, composto de notas do capítulo sobre a Colônia, a Independência e fragmentos da parte do Império – na edição final chamados de ‘As origens da Revolução Burguesa’ e ‘A formação da ordem social competitiva (fragmento)’ -, foi recebido com reticências por parte de sua equipe de pesquisadores, certamente não apenas por cautelas metodológicas, mas também pelas conclusões políticas a que a lógica do tema e do texto conduzia.
Florestan chamava a equipe mais próxima do grupo de pesquisas ‘Economia e Sociedade no Brasil’ de ‘núcleo estratégico’ do trabalho intelectual em Sociologia de São Paulo (Fernandes, 2006a, p. 21), ávido por buscar um padrão novo, com pretensão de excelência científica internacional, para a universidade brasileira. Observa o autor, na “Nota Explicativa” do livro: “Comecei a escrever este livro em 1966. A primeira parte foi escrita no primeiro semestre daquele ano; e o fragmento da segunda parte no fim do mesmo ano. Vários colegas e amigos leram a primeira parte, alguns demonstrando aceitar os meus pontos de vista, outros combatendo-os. Isso desanimou-me…” (Fernandes, 2005, p. 25). No intervalo de tempo entre o golpe e a Opus Magnum, o autor, sempre muito prolífico, trabalhou duro e publicou dois importantes livros de ensaios que devem ser considerados preparatórios à terceira parte de RBB – especialmente no que tange à explicitação das categorias de dependência e imperialismo total -, Sociedade de classes e subdesenvolvimento (1968) e Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina (1973).
A obra despertou, desde cedo, um vigoroso debate acadêmico no exterior, em meio de brasilianistas, impossível de aflorar em plena ditadura livremente em universidades brasileiras. Já em 1976, a Universityof Texas of Austin realizou um Colóquio coordenado pelos professores Carlos Guilherme Mota (USP) e Fred P. Ellison (Austin), com contribuições escritas de Emília Viotti da Costa, Paulo Silveira, Juarez Brandão Lopes, Bernardo Berdiehewsky e uma resposta às intervenções, escrita pelo próprio autor (Vários autores, 1978, p. 176-207).
Também despertou o interesse de outro mundo – até mais importante em relação aos objetivos do livro -, a perseguida e heroica esquerda revolucionária e clandestina. Segundo Anita Leocádia Prestes, a leitura de Florestan foi uma das fontes de seu pai, Luiz Carlos Prestes, Secretário-Geral do PCB (Partido Comunista Brasileiro), no questionamento sobre a linha dominante no “partidão”, que ele mesmo ajudou a se consolidar. Embora renovadora na linha de massas de aliança mais estratégica com os trabalhistas, a famosa Declaração de Março de 1958 e as resoluções do V Congresso (1960), subscritos por Prestes, acatavam, a despeito de contradições internas no encaminhamento da linha, uma linha de caminho pacífico e aliança estratégica com a ‘burguesia nacional’ na primeira etapa da revolução nacional e democrática. O golpe militar de 1964 ceifou essa possibilidade. Resultado, o PCB mergulhou em uma crise interna e de identidade no VI Congresso (1967). O “partidão” rachou (Carone, 1982a, p. 176-195; 1982b, p. 15-27; Gorender, 1987a, p. 25-32); até aquela data o partido mais influente na esquerda brasileira, entrou em modo irremediável. A estratégia nacional e democrática e o corolário benfazejo da conquista de um capitalismo autônomo no Brasil, por meio de uma aliança antimperialista e antilatifundiária entre os trabalhadores e a burguesia nacional (classe depois mais bem definida, por falta de projeto nacional autônomo, como burguesia interna ou brasileira), de consecução de uma etapa estratégica de alianças policlassistas de longo prazo, foi derrotada pelo golpe de 1964. Passível de críticas, no entanto, a linha etapista fazia sentido – ao menos na aparência do processo político até 1964 (o que, até certo ponto, justificava o empenho de Prestes e de outros seus camaradas).
Contudo, a eventual e relativa aderência à realidade da linha etapista se exauria na década de 1970 devido à conclusão do processo das “transformações capitalistas” (Fernandes, 2005, p. 337-424) encaminhadas pela ditadura – “se já houve, alguma vez, um ‘paraíso burguês’, este existe no Brasil, pelo menos depois de 1968” (Fernandes, 1987, p. 359). Exilado na União Soviética, o velho secretário e líder militar de coluna recomeçou a estudar autocriticamente a realidade brasileira: “esse esforço de leitura é comprovado pelas numerosas fichas e anotações de leituras (…) tanto de obras dos clássicos do marxismo quanto de autores brasileiros contemporâneos, entre os quais os escritos do sociólogo Florestan Fernandes” (Prestes, 2012, p. 190). Também no âmbito dos intelectuais de esquerda do PCB, autores como José Paulo Netto (1991; 2004, p. 203-222) e Antônio Carlos Mazzeo (2015), entre outros, incorporaram e sobreassumiram em suas interpretações do Brasil o conceito, totalmente estranho à linha dominante no PCB, de “autocracia burguesa”.
Exemplo de persistência da linha tradicional de replicar aqui uma revolução nacional burguesa “clássica”, derivado especialmente dos ecos marselheses da França jacobina, neste caso a postulação de uma etapa de aliança estratégica relativamente longa entre a burguesia e o proletariado, na mesma conjuntura do livro de Florestan, o grande intelectual comunista, Nelson Werneck Sodré, escreveu: “quanto à necessidade de ‘previamente, da revolução burguesa’ (…) uma coisa é a realidade, outra coisa é o desejo: não se trata de opinar sobre a necessidade ‘prévia’ da revolução burguesa no Brasil; trata-se de constatá-la” (Sodré, 1985, p. 749). Já o próprio Prestes, em depoimento no Instituto Cajamar do PT, afirmou peremptoriamente: “em 1945, os documentos de nosso partido diziam que, enquanto não acabasse a dominação imperialista, o feudalismo e o latifúndio, o capitalismo não se desenvolveria no país. Negávamos subjetivamente o capitalismo em 1945, quando o governo federal já estava construindo a grande usina siderúrgica de Volta Redonda. O que nos esclareceu foram as obras dos sociólogos a que eu já me referi, mas publicadas somente muito depois. É o caso de Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina, A revolução burguesa no Brasil, em que Florestan Fernandes mostra como se deu a penetração imperialista em nosso país, conservando as relações anteriores (…)” (Prestes, 1988, p. 233). O contraste de visão de Brasil dos dois grandes autores, Florestan e Nelson, relativo a uma estratégia de revolução burguesa, é irredutível.
Naquele mesmo ano de 1974, quando a Editora Zahar preparava os originais de RBB, assumia a Presidência da República o Gal Ernesto Geisel, com projetos de fazer uma transição política controlada e conservadora da ditadura a um regime civil. Não havia consenso interno nas forças do governo. Ações subterrâneas de insubordinação da linha dura, habitante do submundo das forças armadas, sabotavam o processo e corroíam a fortaleza da estratégia de transição controlada em curso. Na oposição, era tempo de recomeçar, de acumular forças.
Para Florestan, aquela conjuntura de recomeço, por outro lado, abriu a oportunidade de um “refluxo na contrarrevolução” e a possibilidade de um reagrupar das “forças socialistas” (Fernandes, 1980, p. 1). Portanto, abriu-se uma brecha, além de um solitário trabalho teórico, de uma publicística revolucionária de esquerda. Deve-se observar que as forças do socialismo foram dispersas pelas seguidas derrotas impostas pela repressão – especialmente pela eliminação física de quadros dos partidos revolucionários -, enquanto, no trato das forças democráticas (em que pesem cassações, torturas e mortes, mais rarefeitas, também nesse campo), houve mais uma combinação de controle e repressão, sempre contando com uma réstia de atuação política consentida nos marcos do MDB. Tanto que, para surpresa de muitos, o MDB foi o grande escoadouro da surpreendente derrota da Arena, partido eleitoral da ditadura, nas eleições parlamentares de 1974. Sinalizava-se, assim, o exaurimento do regime.
No Brasil, a maioria da forças democrático-burguesas, reagrupadas no MDB, não eram, em sua maioria, suficientemente jacobinas ou radicais. Pontilhavam, aqui e acolá, políticos com esse perfil, como Chico Pinto (BA) ou Lysâneas Maciel (RJ), exceções que comprovam a regra. Florestan cita a França e até a vizinha Argentina como países que constituíram correntes políticas de “radicalismo burguês”, ausentes na conjuntura brasileira de transição à ditadura. Deve-se reconhecer que o corte de machado seletivo da ditadura nas árvores genealógicas do emergente radicalismo burguês e proletário, acantonado especialmente na corrente brizolista do PTB, nos grupos nacionalistas das forças armadas e na esquerda marxista revolucionária, não foi de improviso, mas uma ação política planejada. Uma vez eliminada a possiblidade de direção do processo brasileiro pelo “conteúdo político e pelo temperamento jacobino” – como escreveu Gramsci (2002, p. 86) a propósito do processo histórico do Risorgimento Italiano (1815-1870) -, passou a ser viável a produção de uma “abertura política”, controlada, sim, mas também pactuada pelas forças sociais em presença. Para as forças hegemônicas da oposição, o modelo a seguir era o de uma espécie de Pacto de Moncloa espanhol (ainda mais liberal e pela direita), que superou o regime franquista, jamais a Revolução dos Cravos portuguesa. Por tudo isso, enfim, os próceres da ditadura poderiam interpelar, sem medo de uma recidiva jacobina, a “sociedade civil” (a época registra os pactos construídos por Petrônio Portella, hábil Ministro da Justiça de Geisel, e entidades como OAB, CNBB e API).
Em resumo, repetiu muitas vezes Florestan, a oposição majoritária existente e sobrevivente à ditadura, portanto, em termos majoritários, tendia mais à ‘conciliação’, a buscar uma ‘transição transada’ lenta e gradual que envolvesse também as cabeças mais arejadas do regime vigente que à resolução firme da ‘revolução democrática’. Antecipando questões que serão retomadas neste artigo mais adiante, no mesmo ano de publicação de RBB – 1975 -, o mais reconhecido dos discípulos de Florestan na sociologia acadêmica, FHC, alcunhado de o “príncipe dos sociólogos”, publicou em 1975 o importante livro de análise política de temas candentes, Autoritarismo e democratização (1975), que propunha uma democratização sem revolução democrática. Trata-se, sem dúvida, de um caminho teórico, programático, tático e estratégico distinto. Não por obra do acaso, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, flagraram Florestan no PT, à época o partido de contestação à ordem dentro da ordem, e FHC no PMDB, o partido de oposição e conciliação dentro da ordem.
Visando encaminhar a transição transada, Geisel deu um freio de arrumação na linha dura dos militares, insistente na perpetuação da ordem ditatorial, e demitiu sem apelo de seu Ministério, o Gal Sílvio Frota. Contudo, embora adotasse contumazes estratégias de fuga para a frente (ou seja, a estratégia de desenvolver as forças produtivas adiando sem resolver as contradições estruturais da formação social), o regime corria água tanto no front externo econômico quanto no geopolítico (não interessava mais aos Estados Unidos perpetuar ditaduras abertas na América Latina). No front econômico, a fuga para a frente compunha-se de apostar a saída da crise dos “Choques do Petróleo” de 1972 e 1974 com base em créditos externos e um programa ousado de investimentos públicos e privados, especialmente o II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), que visava completar no país a matriz da Segunda Revolução Industrial.
A estratégia de Geisel fazia sentido histórico na encruzilhada da época. Outras fugas para a frente deram certo em microconjunturas de crise no passado. Mas, agora era diferente, pois algo maior que mais uma microcrise se apresentou no cenário.
Em algum momento, o feitiço vira contra o feiticeiro. Ao fugir para a frente, desenvolvendo a economia em modo concentrador, mas também gerando a consequência de adensar a sociedade civil, os militares involuntariamente fabricaram os potenciais de um novo radicalismo, nas formas de um novo movimento operário fordista e periférico, concentrado em São Paulo, e do histórico protagonismo de classe média do movimento estudantil. Por sua vez, como se sabe, o capitalismo internacional entrou numa fase de incertezas, da qual rigorosamente não saiu até hoje. Um dos primeiros resultados combinados de crise e fuga para a frente, como mostram as panorâmicas de autores distintos como José Luís Fiori (2003) e Luiz Carlos Bresser-Pereira (1992), é de que, dessa vez, o microciclo de crise não estancou, e o Estado desenvolvimentista, moldado a partir dos acontecimentos de 1930, quebrou estruturalmente. Mais que uma quebra estrutural do Estado, como uma espécie de dança dos “últimos dos tenentes” – Geisel começou a participar de política e conspiração nos quarteis como membro dos “tenentes” (D’Araújo&Castro, 1997; Gaspari, 2014) –, por ironia do destino, exatamente no seu governo, sucedeu o réquiem do bloco histórico burguês nacional-desenvolvimentista (transformisticamente tornado desenvolvimentista-dependente a partir de 1964).
Estava em causa na conjuntura de “refluxo da contrarrevolução”, portanto, muito mais que a transação de um novo lugar da corporação militar na composição do novo bloco no poder democratizado. Embora os militares não abrissem mão de uma tutela discreta sobre o poderes (como o Artigo 142 da nova Constituição deixou claro), mais que isso, era o próprio cotejo fúnebre do bloco histórico de 1930, com suas misérias e grandezas, que falecia, virando um doído e drummoniano “retrato na parede”.
Assim, a realização do processo de revolução burguesa pela “geração de 1930”, no livro e na realidade, enfim estacionava no porto morto da ilusão do desenvolvimento prometido. Ali, na plenitude da “transformação capitalista do modelo autocrático-burguês”, dava-se à luz – que se tornaria escancarado duas décadas adiante -, a um “ornitorrinco”. Um ornitorrinco, uma espécie que parou a evolução e se transformou num híbrido, o único mamífero ovíparo existente, metáfora dos destinos do desenvolvimentismo brasileiro, que, a partir de certa hora, viu-se diante do espelho com o seguinte dilema: fênix ou extinção? (Oliveira, 2003a, p. 121-150; 2003, p. 109-116). A análise de Florestan é radical. Ele, certamente, caso vivo, relembraria que o “ornitorrinco” é um ponto de chegada cujo DNA já estava inscrito no ponto de partida, não por circularidade, mas por história. Desde cedo, nosso autor observou que as classes dominantes brasileiras não apenas são resistentes à mudança social, mas também desenvolvem resistências – prestem a atenção à palavra ‘sociopáticas’ – à mudança. Por isso, são problemáticas interpretações – a exemplo do prefácio de José de Souza Martins à quinta edição (Martins, 2005, p. 9-23) – ávidas em aprisionar RBB num esquema domesticado e bipolar de contraste entre modernidade e atraso, rural e urbano, autoritarismo e democracia, etc. Ou seja, a sina das transições brasileiras mudar sem superar, mas paradoxalmente conservando a “sociopatia” (Fernandes, 2006b, p. 191).
As grandes obras deixam grandes perguntas. Por isso, é tarefa intelectual de porte perscrutar a recente evolução brasileira à luz dos conceitos e das perguntas desatados de RBB: teríamos completado o ciclo da revolução burguesa entre nós com a assunção, especialmente depois da edição do Plano Real (1994), a uma nova fase da dependência pilotada por um Estado dependente-rentístico? A aliança entre trabalhadores e empresários, estampada na chamada “era Lula” seria politicamente viável como estratégia de longo prazo? A conquista da democracia política, afastados os militares do poder, teria equacionado salutarmente a cultura política brasileira e internalizado os valores da democracia e do republicanismo, extinguindo as possibilidades de reproduzir a “autocracia burguesa”? As constrições da dependência econômica – herança da “via colonial” ou da “via colonial-prussiana” tipificadora da formação histórica do Brasil – realmente restringem até que ponto as possibilidades de desenvolvimento capitalista? É possível uma convivência de longo prazo, mais além dos ciclos de conjuntura, entre democracia e desenvolvimento econômico associado? Só o regime socialista, e nada mais, permite o desenvolvimento autônomo do Brasil, ou é possível a autonomia do capitalismo ou um regime misto a partir de um bloco regional de nações geopoliticamente independentes?
“Ecletismo bem temperado” e marxismo revolucionário
Refletir sobre Florestan, é extremamente atual, um misto de homenagem de sinal de contemporaneidade política. Professor universitário e militante de esquerda, não se pode dizer que Florestan seja um autor esquecido. Unanimemente lembrado na galeria de uma geração de ensaístas ou cientistas sociais do tope de Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Nelson Werneck Sodré, Raymundo Faoro, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Ignácio Rangel, Alberto Passos Guimarães, Jacob Gorender, Francisco de Oliveira, Carlos Nelson Coutinho, Ruy Mauro Marini, entre outros – autores que lograram formular influentes interpretações originais do Brasil -, legou ao pensamento social brasileiro densa obra de mais ou menos cinquenta títulos, da qual, certamente, o mais importante é RBB. Vale a pena observar, contudo, que embora Florestan não seja um autor esquecido, tampouco se pode afirmar que sua interpretação do Brasil seja plenamente conhecida e debatida, pois há muitas sendas ainda inexploradas, incompreendidas e desafiantes de seu pensamento.
O conteúdo armazenado in nuce explosivo e radical da obra vinda a lume em 1975 significou também a conclusão de uma viragem no pensamento de Florestan. A partir daquele momento, conquanto não sem crispações, o militante radicalizado pelas obras da ditadura abandona definitivamente a pele confortável e as perífrases de influente sociólogo – cultor paradoxal de um “ecletismo bem temperado, não simplesmente relativizador nem atomizador dos procedimentos analíticos” (Cohn, 1987, p. 50). Já influente e reconhecido, mestre de vários discípulos intelectuais famosos no meio acadêmico (FHC, Octávio Ianni, José de Souza Martins, Maria Sylvia de Carvalho Franco, Luiz Pereira etc.), nosso autor se despe de capas protetoras e parte para o combate de peito aberto à ditadura com as armas da teoria marxista. Contudo, preste-se atenção, não o marxismo dos salões – que sobrevive da citação do autor francês em moda na Rive Gauche. Mas um marxismo revolucionário, fundamentado, principalmente, em autores da estatura de Marx, Engels, Lênin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, José Martí, José Carlos Mariátegui, Che Guevara, Fidel Castro, etc.; como também da excelente economia política e teoria política marxistas dos anos 1960/70, Ernest Mandel, Harry Magdoff, Ralph Miliband, NicosPoulantzas, entre outros.
Um primeiro parâmetro a ser assentado numa necessária revisão apurada da fortuna crítica de Florestan hoje: entre todos os interpretes clássicos do Brasil, hauridos da efervescência cultural do período do bloco histórico de 1930-1974/84, ainda atuantes na transição da ditadura, o intelectual paulista foi, certamente, o mais radicalizado em pensamento. Devido à radicalidade teórico-política, conceitos de potência crítica subestimada no período histórico recente de democratização pós-ditadura, como “autocracia burguesa“, bem como a crítica florestiana ao conteúdo liberal implícito no conceito de “autoritarismo”, continuam perenes e precisam urgentemente ser revisitados neste Brasil em transe dos tempos de Bolsonaro.
Durante muito tempo, Florestan foi um sociólogo dedicado de corpo e alma a contribuir com soluções metodológicas originais para os desafios epistemológicos do ofício científico-acadêmico rigoroso em pesquisa sociológica empírica. Havia nessa labuta uma nítida e produtiva fragmentação ontoexistencial, pois ele cuidava de separar escrupulosamente dois momentos de seu espírito, a vocação revolucionária e o trabalho científico. Escreve o nosso autor: “fiquei como uma pessoa dividida ao meio, entre o sociólogo e o socialista” (Fernandes, 2006a, 31). Personalidade complexa, ele jamais abdicou de suas raízes socialistas, que vinham da militância jovem no grupo trotskista dirigido por Hermínio Sacchetta, o Partido Socialista Revolucionário (PSR), seção brasileira da IV Internacional nos anos 40 e 50, no qual militou entre 1942 até mais ou menos 1952. Abdicou da militância com a aquiescência e até o incentivo do partido, como ele esclarece em vários depoimentos, em função de um projeto intelectual-acadêmico emergente. Um projeto de dimensão política, mas mediado: a ambição de desenvolver em São Paulo uma escola sociológica crítica de elevado padrão científico.
Observe-se, em favor desse projeto que ele se incumbiu, antes de tudo, de privilegiar, na condição de objetos de pesquisa, os chamados excluídos da história, os índios, os negros, os imigrantes, os trabalhadores, etc. Para reconstruir, em forma de saber científico, as agruras de todos esses excluídos da história, o compromisso ético era imprescindível, mas insuficiente. Seria necessário conhecer esses objetos a fundo, utilizar e inovar instrumentalmente métodos e teorias hauridos da tradição acadêmica sociológica, mas especialmente ansiar, através de uma leitura rigorosa, o domínio, ainda ralo na tradição bacharelesca das humanidades brasileiras, dos clássicos do cânone da disciplina. Atuando nas sombras, tal projeto fazia sentido naquele momento do país moldado pelo bloco histórico de 1930, de modernização institucional e adensamento do capitalismo brasileiro. Outros esforços de época ocorridos em São Paulo, como a introdução de uma cultura filosófica sistemática pela apreensão dos métodos monográficos franceses de História da Filosofia, conquanto diferentes, são parelhos aos esforços dos sociólogos (Arantes, 1994). Nada disso significa dizer, esclareça-se, que não tínhamos grandes intelectuais no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas e no Nordeste, nem que os paulistas sejam o marco zero da pesquisa em ciências sociais, duas ideias simplórias que fogem ao escopo do artigo adentrar.
Muito importante observar que, no labor de desenvolver uma escola científica em sociologia na província de São Paulo, Florestan jamais palmilhou pela cilada de operar uma síntese eclética de pensadores como Marx, Weber e Durkheim: “o estudo que fiz de Marx e Engels levou-me à conclusão de que não se podiam fundir pensamentos que são opostos. Seria muito mais fecundo procurar a razão de ser de sua diferença específica. Eu começava a enfrentar, assim, a questão de saber qual é a contribuição teórica específica de Durkheim, de Marx, de Max Weber etc., e por aí tentei descobrir as respostas” (Fernandes, 2006a, p. 17). Segundo Antonio Candido, em bela imagem, “o marxismo foi uma espécie de ‘rio subterrâneo’, por baixo da estrada acadêmica na qual andava incorporando criticamente Durkheim, Weber, Manheim etc. Num certo momento o marxismo aflorou na estrada e toda aquela formação convergiu para formar o pensamento extremamente pessoal de Florestan na sua fase madura” (Candido, 1998, p. 44).
Seu “ecletismo bem temperado” é sistêmico, ver-se-á em seguida. O “ecletismo bem temperado” é uma maneira muito particular, inusitada e não despropositada, de produzir uma síntese dialética original. Marx chegou à dialética através da suprassunção de Hegel, mas são possíveis outros caminhos, antes e depois desse caso notável, de chegar a ela. Por isso, como escreveu Gabriel Cohn corretamente (1986, p. 125-148; 1987, p. 48-53), na busca de fundamentos empíricos – e não simplesmente de teoria pura – na reconstrução de um objeto de conhecimento, Florestan se valeu de tipos, entre os principais, o weberiano (tipo ideal), o durkheimiano (tipo médio) e o marxista (tipo extremo). Nosso autor sempre trabalha duro em sua oficina o máximo material empírico coletado, costurando por dentro e de maneira tensa (Florestan é um autor de linguagem tensa), uma elucidação pesquisada – à falta de um termo mais adequado – de tónus materialista.
Mas seria dialético? Gramsci escreveu, com razão, que toda grande pesquisa cria seu próprio método – “toda pesquisa científica cria para si um método adequado, uma lógica própria” (Gramsci, 1999, p. 234-235). O procedimento original de Fernandes, embora diste da tentação de fundir alhos com bugalhos, por outro lado resultava em convívio com tensões e torções de linguagem até chegar à ourivesaria da categoria precisa, já saturada de pesquisa da realidade social. Por exemplo, sobre a burguesia brasileira, Florestan definiu, durante algum tempo, que nossa burguesia tinha um talhe histórico e estrutural “heteronímico”, até porque a própria realidade solo brasileira é heteronímica. Sem dúvida, a burguesia brasileira é heteronímica, mas talvez esse traço não seja o termo mais adequado para descrever a saturação as determinações da realidade a partir de certo momento. Certamente, por isso, depois de muita pesquisa empírica e teórica, nosso autor passou a preferir o termo “burguesia dependente” para descrever a transição brasileira do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista emergente depois de 1930 e do pós-guerra. À sua maneira, a Revolução Burguesa no Brasil é um tipo, mas não um tipo ideal weberiano, como às vezes alguns estudiosos de Florestan classificam, mas uma totalidade reconstruída do abstrato ao concreto, entre outros recursos heurísticos, por meio de três tipos. O mais importante é que, distinta, por exemplo, do tipo ideal weberiano – que é sempre uma reconstrução ideal da realidade movida pela subjetividade do sujeito do conhecimento (o pesquisador) – a reconstrução florestiana se pretende materialista.
Tome-se o exemplo da sempre complexa discussão sobre o conceito de classes sociais. Como são muitas as dificuldades de explicar o conceito de classes como chave explicativa da estrutura da sociedade colonial, Florestan preferiu designar nossos primeiros grupos sociais dominantes como “estamentos”. E. P. Thompson (1989, p. 13-61), em outra chave teórica, aventou a possibilidade, na experiência de formação da classe operária inglesa, de uma “luta de classes sem classes”. No Brasil, elaborando por conta e risco, Florestan adotou a terminologia de transição a uma “ordem social competitiva” (ou seja, o processo de transição de uma ordem escravista até uma sociedade capitalista) para não perder de vista as particularidades das relações escravistas e patriarcais que aqui vicejaram. Neste ínterim, cabe observar a maneira original que Florestan detectou o surgimento da cidadania, da sociedade civil e das instituições liberais no Império. Se na Europa as revoluções burguesas universalizaram o status social de cidadania civil, aqui processou-se a metamorfose do senhor escravista e patrimonialista em senhor-cidadão. Aqui, na ausência da presença do Terceiro Estado na constituição do contrato social, circunscrito à Casa Grande e os Sobrados, a sociedade civil e estamentos sociais dominantes passaram a ser a mesma coisa, “não só o grosso da população ficou excluído da sociedade civil. Esta diferenciava-se, ainda, segundo gradações que respondiam à composição de ordem estamental, construída racial, social e economicamente na colônia” (Fernandes, 1987, p. 59).
Detectar todo esse estranhamento nativo na origem da cidadania e da sociedade civil foi possível por que, de todos os conceitos originais criados pelo autor, um dos mais heterodoxamente criativos é o de “ordem social”. A propósito, escreve Heloísa Fernandes, em e-mail antigo ao autor deste artigo: “… eu costumava discutir com o meu pai sobre o ecletismo, mas, hoje, penso que o ‘ecletismo bem temperado’ do Florestan permitiu que ele inventasse o conceito de ordem social – sei que é de marca weberiana, mas é uma invenção do Florestan, porque, para Weber a ordem capitalista, definindo-se pelo mercado, é uma ordem econômica, enquanto a ordem social é mais propriamente a estamental e de castas, que se define pelo modo de vida. De todo modo, digo eu, esse conceito de ordem social é o que há de mais rico no Florestan porque, graças a ele, como escrevo (…), ‘o sociólogo manteve-se atento à exclusão da maioria da plena cidadania, e o socialista não submergiu numa narrativa teleológica das classes sociais'”. Dessa maneira, os conceitos nativos de cidadania e sociedade civil, desde o começo, como em Hegel e Gramsci, não se restringem a um mero desdobramento da realidade mercantil, não é apenas sociedade civil-burguesa.
Para mim, é ainda mais: entender as origens do capitalismo brasileiro na chave de “ordem social” permite integrar à análise – mais ou menos à maneira do conceito de “bloco histórico” em Gramsci, – blocos temporais relativamente longos amalgamando economia, cultura e política, integrando estrutura e superestrutura em mútua incidência a totalidade social (Buci-Glucksmann, 1990, p. 351).Por tudo isso, parece-me que a opção teórica e existencial de Fernandes pelo marxismo processou-se um por uma via bastante pessoal e original. O marxismo peculiar de Fernandes, mesmo na fase mais madura, abertamente revolucionária, tem uma dicção própria e inimitável, como um jogo dialético de linguagem em que a terminologia do “ecletismo bem temperado” surge no “marxismo revolucionário”, assim como, muitas vezes, no passado, a dicção do “marxismo revolucionário” surpreende no “ecletismo bem temperado”. Curiosamente – brasileiramente? -, a dicção da escrita de Florestan sempre é eivada da presença conteudística do marxismo, de expressões hauridas da antropologia funcionalista estadunidense, da sociologia estruturalista da Escola de Chicago, da sociologia da cultura de Karl Mannheim, etc. Porém, conquanto a exposição esteja permeada da nomenclatura haurida da sociologia e da antropologia canônicas, a investigação é feita sob os auspícios de um método dialético de análise, no qual, situa-se esse inimitável e particularíssimo “ecletismo bem temperado”.
Assim, havia em Florestan uma espécie de disjuntiva: no plano estritamente político Fernandes sempre esteve situado à esquerda e professou o marxismo, mas, no plano conceitual, a passagem para o marxismo realizou-se em um longo prazo e com crispações de pensamento, revelado pelo resíduo funcionalista no plano da exposição. Em depoimento datado de 1980, diz-nos Florestan: “(…) durante algum tempo, eu corri o risco de palmilhar o caminho (…) de pulverizar as ciências e de procurar uma falsa autonomia das ciências. Eu teria entrado por um mau caminho. O que me salvou foi a impregnação marxista da minha relação ética com os problemas da sociedade brasileira” (Fernandes, 1995, p. 15). A questão do método de investigação e exposição em Florestan, aliás, é um tema que precisa ser mais pesquisado seriamente.
A revolução burguesa na chave do capitalismo subdesenvolvido e dependente
Um dos efeitos mais importantes desse marxismo personalíssimo – que só eleva o gênio do autor – é que problemáticas, categorias e conceitos por longo tempo ladrilhados no âmbito da tradição marxista retornam enfim com vigorosa força heurística em RBB, em grau sem parâmetro na própria obra anterior de Florestan. Trata-se de um trabalho vivo e criativo, não apenas de aplicação ou transposição integral. Florestan partia da realidade para o conceito, em vez de do conceito para a realidade, ciente (ele repetiu muitas vezes essa lição hegeliana) que é preciso não apenas que a realidade tenda ao conceito, mas também que o conceito tenda à realidade. A recepção desse paiol de autores, categorias e conceitos oriundos da tradição marxista deve ser vista mais como incorporação do “estado das artes” da teoria, a ser, como ele gostava de dizer, ‘saturado’ de pesquisa empírica, uma pesquisa com potencial de corrigir, desviar ou negar um A Priore dogmático, venha da autoridade que vier. Toda a obra de Florestan, inclusive a parte mais abertamente marxista, escapa, portanto, de um pálido jogo de influências de autores importantes e da aplicação de categorias externas. Por isso, é desprovido de fidelidade ao método de investigação do autor filiá-lo dogmaticamente a uma corrente marxista, sejam o luxemburguismo, a teoria da dependência ou o trotskismo.
Como exemplos disso têm-se a maneira de como Florestan aborda temas clássicos do marxismo e do desenvolvimento. Ele resgata Lênin, por exemplo, na questão da formação do mercado interno numa economia de capitalismo periférico e no controle das regiões mais atrasadas pelas mais adiantadas, um dos temas mais caros na discussão do desenvolvimento por um viés, relembrando Francisco de Oliveira, de uma “crítica da razão dualista” (2003b). Lenin estava sendo universal tratando da aldeia, por isso Florestan considera O desenvolvimento do capitalismo na Rússia (1982) “(…) sua maior obra de investigação científica” (Fernandes, 2012a, p. 252). Também considera Lenin na questão da voragem expansiva do imperialismo contemporâneo, estudado por esse autor em Imperialismo, fase suprema do capitalismo (1982b). São dois livros que comparecem, não por acaso, especialmente citados em RBB na seção intitulada pelo próprio Florestan de ‘Bibliografia de referência’ (Fernandes, 2005, p. 426). Também se deve destacar, a propósito, a menção de Rosa Luxemburgo em A acumulação do capital (1985), feita na mesma seção “bibliografia de referência” (Fernandes, 2005, p. 426). Lenin e Rosa são importantes (mais Lenin que Rosa), mas ele não repete, processa a seu modo e tira suas próprias conclusões. Segundo Florestan, embora Rosa tenha sido uma pioneira em perceber o conteúdo expansivo e militar do capitalismo rumo à ocupação colonial da periferia, visando aplicar os capitais sobrantes gerados no centro, ainda assim, em que pese a genialidade de uma análise de mérito inaugural, “percebe-se que ela não está interessada nos mecanismos que ocorrem na periferia”, ao passo que a teoria leninista do imperialismo seria mais geral e inclusiva. Ao relevar a teoria do imperialismo, Florestan não acha “que a teoria da dependência seja uma teoria nova. Ela é um desdobramento da teoria do imperialismo” (Fernandes, 2006a, p. 41).
Outro parâmetro-chave dos clássicos do marxismo nas análises de Florestan sobre a formação social brasileira seria, no entender de Osvaldo Coggiola (1995, p. 9), a noção histórica de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo considerado em plano mundial, desenvolvida por Trotsky. Na juventude trotskista, como bem observa Coggiola (tal evidência, às vezes é esquecida ou escamoteada nos estudos acadêmicos), nosso autor conheceu as elaborações clássicas de Trotsky. Com certeza, Florestan tinha por Trotsky e suas teorizações elevada consideração, como se deduz da leitura de seu pequeno artigo ‘Trotsky e a revolução’ (Fernandes, 1994, p. 187-192). No entanto, na seção do livro em que ele cuida de revelar sua “bibliografia de referência”, Florestan cita de Trotsky uma única obra, Revolução e contrarrevolução na Alemanha (1979), uma extraordinária seleta de textos de combate à ascensão do nazifascismo e crítica à linha dominante na Internacional Comunista de “classe contra classe”. O livro de Trotsky trata-se de uma obra de teoria política marxista, mas não tem a ver, ou apenas em uma segunda mediana tem a ver, com questões de economia política do imperialismo mundial. Aparentemente, grita pela falta na “bibliografia de referência” de RBB, dos livros e dos artigos em que Trotsky aborda precipuamente o desenvolvimento desigual e combinado. Mas não é assim. Essas leituras já foram assimiladas organicamente, compõem a bagagem teórico-política, e não apenas memorialística, de nosso autor. Em RBB, Florestan radicaliza no conceito de ‘ensaio de interpretação sociológica’ – que já era o subtítulo de A integração do negro na sociedade de classes -, no sentido de uma exposição de muitas referências ocultas, devidamente sintetizadas, e poucas citações diretas.
No que tange aos autores da teoria da dependência, na vertente marxista, dois são citados na seção de ‘Bibliografia de referência” na parte sobre a América Latina: Andre Gunder Frank e Rui Mauro Marini. No outro espectro do dependentismo, mais weberiano, seu ex-aluno FHC, o Papai Noel da teoria da dependência associada, comparece com todas as suas publicações. Em outras ocasiões, ressalvando a importância de Marini na compreensão da dinâmica do capitalismo latino-americano e brasileiro, no entanto Florestan fez ressalvas ao tratamento da questão agrária no Brasil por separar o atraso do latifúndio da burguesia, “quando na verdade o setor mais reacionário da burguesia brasileira é o latifúndio. Foi o setor que deu o salto mais rápido no sentido de passar a uma condição aristocrática para uma condição burguesa” (Fernandes, 1980, p. 30). Como não poderia deixar de comparecer em um balanço sobre a RBB, praticamente todos os autores e livros relevantes da CEPAL e do ISEB, fundamentais na vertente do nacional-desenvolvimentismo, constam na bibliografia. De Lênin (já citado na seção anterior deste artigo, junto com Rosa Luxemburgo, como referências polares), curiosamente, Florestan não cita o importantíssimo, para o estudo do tema de tipos heterodoxos e vias não clássicas de revolução burguesa, Programa Agrário (1980), onde aflora a questão da “via prussiana” de resolução da questão agrária.
Penso que a questão da dependência, no enfoque original de Florestan, constitui uma das bases principais da interpretação de nosso autor sobre o processo de RBB. Sem a lupa desse enfoque, a narrativa do processo de RBB, em sua fina urdidura, torna-se incompreensível. Vale observar que, em que pese à relevância – a ‘terceira parte’ de RBB chamada de ‘Revolução Burguesa e Capitalismo Dependente’ (2005, p. 235-424) -, no diálogo, muitas vezes cifrado, de Florestan com os dependentistas, ele abordou a questão da dependência por um viés próprio. Perscrutou a realidade a partir do conhecimento empírico e bibliográfico acumulado, durante anos a fio, de pesquisa a fundo sobre o Brasil, saturando de conteúdo pensado o que ele chamava de “ordem social burguesa”, ao passo que os dependentistas, na vertente marxista, abordaram a mesma ordem a partir de questões postas por uma nova economia política, como a transferência de valor e a superexploração da força de trabalho. Gramsci cunhou a noção de ‘tradução’ e ‘tradutibilidade’ das linguagens científicas e sociais, ou seja, a possibilidade de uma linguagem científica encontrar uma tradução em outra (Gramsci, 1999, p. 185-190). Parece ser o caso das relações entre Florestan e a Teoria Marxista da Dependência.
O Brasil não é Uganda, Afeganistão, Haiti ou Porto Rico, mas também não é Estados Unidos (revolução clássica nos germens do capitalismo competitivo), Japão ou Alemanha (capitalismos tardios não coloniais). Nossa burguesia, na transição para o capitalismo monopolista, não é simplesmente uma “burguesia compradora”: “ao contrário do chavão corrente, as burguesias não são, sob o capitalismo dependente e subdesenvolvido, meras ‘burguesias compradoras’ (típicas de situações coloniais e neocoloniais, em sentido específico). Elas detêm um forte poder econômico, social e político, de base e alcance nacionais” (Fernandes, 1987, p. 296). Para compreender essa definição, temos que mergulhar na história do país.
Na contramão de muita literatura originária de São Paulo, que destacava mais a acumulação prévia do excedente da burguesia mercantil cafeeira no Império – ou seja a continuidade do processo de inserção do Brasil no capitalismo competitivo -, que o capitalismo de comando varguista rumo ao capitalismo monopolista, Florestan valorizou o processo originário de 1930 – verdade que numa embocadura muito particular, desalinhada das tradições dominantes na época entre trabalhistas e comunistas, afinal de contas o ISEB e o PCB são os dois principais objetos da crítica respeitosa do autor.
As primícias de uma lenta revolução burguesa no regime de capitalismo tardio vinham de antes de 1930. Contudo, a situação ali criada abriu uma brecha política: a possibilidade de apostar idealmente num projeto de desenvolvimento autônomo do capitalismo brasileiro. Tal projeto autonomista, revolucionário para uns, reformista para outros, tocou os derradeiros acordes sinfônicos, escusado repetir, em 1964. Depois, virou elegia. Segundo o nosso autor, “o antigo regime não entra em crise final quando desaparece a escravidão: isso só acontece em 1930 (…) Isso não significa, porém, o desaparecimento da oligarquia, com seu obscurantismo intelectual e sua propensão reacionária. Mas, de qualquer maneira, o antigo regime, que deveria sofrer um colapso com a abolição e a proclamação da República, entra finalmente em agonia e perde a base material de seu precário equilíbrio social e político” (Fernandes, 2006a, p. 26-27).
Sem dúvida, o Brasil conheceu, depois de 1930, certamente assentado no processo anterior de transição do trabalho escravo ao trabalho livre, um período de grande desenvolvimento econômico. Rigorosamente, tivemos um acendrando processo de mudança social; passamos de uma formação econômico-social agrário-exportadora e de dominância de variadas relações sociais pré-capitalistas (vinculadas ao contexto da divisão internacional do trabalho do chamado “imperialismo clássico”) para o capitalismo que Florestan, junto com muita mais gente boa, denominou de síntese de capitalismo dependente e subdesenvolvido. Vale dizer, um vigoroso processo interno de industrialização e modernização, mas em contexto de amálgama, formador de uma estrutura dual, entre o capital monopolista externo, as frações da burguesia brasileira e a persistência no território nacional, no campo, mas também nas cidades, de relações sociais pré e subcapitalistas.
Por tudo isso, não é possível fantasiar esse período. Houve, sem dúvida, um processo de desenvolvimento econômico, crescimento industrial, urbanização e fortalecimento da sociedade civil-ampliada, mas, não ao talante de saltar por cima das vicissitudes e das constrições do processo de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo mundial, em que o Brasil está situado na esfera dependente do globo. Esse o ponto frágil do nosso processo de modernização: não ocorreu entre os países latino-americanos mais viáveis (Brasil, México e Argentina), que saltaram da periferia para a semiperiferia do capitalismo durante a vigência da onda longa expansiva de 1945-1972, um processo de industrialização orgânico, uma autonomização da dependência. O motivo da industrialização atada e da reverberação da dependência guarda relação com a maneira sui-generis como ocorreu o processo de RBB. No Brasil, “a ‘revolução burguesa’ no Brasil não se deu pela burguesia nacional, mas pelo capital monopolista. É o imperialismo que tem o papel hegemônico e realiza os papéis dos prussianos ou então da dinastia Meiji” (Fernandes, 1989, p. 136).
Isso é muito importante. Para Florestan, houve, de fato, e não, como ausência, simulacro, ou nostalgia de um futuro do pretérito que não existiu, a materialidade de uma RBB. O título do livro não é uma graciosa metáfora. Nessa percepção, ele abre uma diferença com os estudos de modernização conservadora, de autores como Barrington Moore Jr. (1975), para quem a última revolução burguesa foi a estadunidense, e por isso sociedades que não fizeram a revolução agrária não conseguiram transitar para o regime político de liberalismo democrático. A questão é que a revolução burguesa, em vez de uma limitada “modernização conservadora”, é exatamente o processo que Florestan designa de “transformação capitalista” na época e pela via do capitalismo dependente sob a égide do capitalismo monopolista.
Assim, ao utilizar a expressão revolução burguesa para designar o processo de modernização das estruturas produtivas e sociais do Brasil, Florestan não está utilizando o conceito ao molde de identidade com as revoluções burguesas clássicas, como, principalmente, a francesa e a norte-americana. Tem-se aqui uma utilização heterodoxa do conceito de revolução burguesa, referente a um processo de longa duração: o lento processo brasileiro de transição ao capitalismo. A heterodoxia desse conceito de revolução burguesa visa apanhar não apenas as características revolucionárias de uma revolução, mas, também, paramenta as contrarrevolucionárias, em especial o reforço pelo capital monopolista forâneo das relações pré e subcapitalistas internas.
Observe-se que esse uso heterodoxo do conceito de revolução provocou objeções, entre elas, uma escrita por Jacob Gorender, para quem Florestan cunhou um conceito “seu”, individual, de revolução burguesa, desdobrado num largo lapso de tempo: “a revolução burguesa é um processo histórico concentrado em alguns anos ou alguns decênios, mediante o qual a burguesia se apossa do poder de Estado, torna-se classe dominante e transforma o regime político jurídico em favor da expansão desembaraçada das relações de produção capitalistas (…) [É] inaplicável ao Brasil o conceito de revolução burguesa. Em nosso país, a abolição e a República fizeram as vezes da revolução burguesa” (Gorender, 1987b, p. 250-259).
Existe um elemento importante de ‘história universal’ – no sentido hegeliano, filtrado por Marx de uma “humanidade universal” – no pensamento de Florestan, não detectado por Gorender, que legitima a utilização heterodoxa do conceito de revolução burguesa. Florestan tem em mira a realidade histórica de que as revoluções burguesas clássicas foram poucas e concentradas nos finais do Século XVIII e na primeira metade do Século XIX. Aquele veredicto exarado por Marx e Engels no balanço do fracasso das chamadas revoluções de 1848 na França e no resto da Europa, certamente, é levado em consideração por Fernandes. Daquela data em diante, a burguesia fez um giro histórico definitivo restaurador e conservador, continuou até recentemente progressista/progressiva (depois do processo de RBB como ‘história universal’, nem isso), no sentido de ser uma classe social interessada no desenvolvimento das forças produtivas, mas passou a ser radicalmente contrarrevolucionária. É desse elemento de história universal do processo de revolução burguesa, que um autor como Gramsci, em tour de force paralelo ao de Florestan, por exemplo, extrai o conceito de revolução passiva. Com nomenclatura e focos distintos – tema que Carlos Nelson Coutinho (2011, p. 221-240) aborda sugestivamente -, a revolução burguesa de Florestan tem mais afinidades eletivas com a temática da revolução passiva em Gramsci do que com as modernizações conservadoras à lá Barrington Moore Jr (1975).
Marx, fazendo um balanço do resultado de todas as revoluções burguesas, na obra-prima política e literária O 18 Brumário de Luís Bonaparte, afirmou: “todas as revoluções [burguesas] aperfeiçoaram essa máquina [o Estado] ao invés de destroçá-la” (Marx, 1979, p. 273). O que isso significa? Que a burguesia só logra desatar seu progressismo (o desenvolvimento das forças de produção) privilegiando a mudança social conduzida a partir do alto, isto é, do aparelho de Estado e que as formas democráticas das revoluções clássicas – ao talante do prisma burguês – estavam definitivamente enterradas ou reificadas. Em suma, o processo de RBB remete diretamente à problemática da objetivação não clássica, passiva, do capitalismo no Brasil.
A revolução burguesa prolongada germinou nessas terras uma burguesia incapaz de conduzir autonomamente a transformação capitalista – portanto, de conciliar internamente processos de hegemonia das revoluções clássicas. Em síntese, numa fórmula complexa: houve revolução burguesa, mas não revolução nacional, popular e democrática Precisou-se do capitalismo monopolista dos países centrais e das burguesias externas para levar à cabo a transformação. Mas, nem por isso, e talvez por causa disso, nossa burguesia jamais deixou, em todo o processo de transformação capitalista, de ocupar e controlar as rédeas a ferro e fogo, diretamente ou por meio de testas de ferro, o poder econômico, social e político da sociedade brasileira. Do ponto de vista da cultura, – essa questão merece estudos à parte -, em virtude de nossa RBB não conduzia a um processo histórico de hegemonia (ou uma hegemonia truncada, de autocracia burguesa), o domínio e o consenso das classes populares processaram-se pela via individual de integração através da indústria cultural, e não, pela via orgânica nacional-popular.
Ora, conquanto encetada com o objetivo de dar acesso interno ao capital monopolista estrangeiro, não houve uma ocupação direta do Estado brasileiro por títeres estrangeiros. O Brasil não mantinha as mesmas relações de forças neocoloniais de uma Cuba de antes da revolução. A RBB foi dirigida politicamente pela burguesia brasileira, da direção política ele não abriu mão e por muito tempo. Por outro lado, ao inverso da transformação capitalista não clássica dos capitalismos tardios, por exemplo, da Alemanha, o ponto de apoio brasileiro não veio tão somente dos estamentos aristocráticos da burocracia estatal civil e militar interna, fortemente nacionalistas. Essa deficiência nacional teve de ser substituída pela participação, no próprio bloco histórico interno, dos interesses das nações capitalistas hegemônicas.
A situação teve uma imediata reverberação política: mantendo-se o status quo das relações internacionais no pós-guerra, não se interditou ao Brasil o desenvolvimento econômico nem a industrialização, desde que seja um desenvolvimento dependente e uma industrialização tecnicamente subdesenvolvida. Essa foi a conclusão de Florestan ao avaliar, em plano geral, o capitalismo brasileiro, observando que, mesmo sem o rompimento dos laços histórico-estruturais de dependência, foi possível o desenvolvimento da periferia, “desde que esta se mantenha, o que tem lugar é um desenvolvimento capitalista dependente e, qualquer que seja o padrão para o qual ele tenda, incapaz de saturar todas as funções econômicas, socioculturais e políticas que ele deveria preencher no estádio correspondente do capitalismo. É claro que o crescimento capitalista se dá, acelerando a acumulação de capital ou a modernidade institucional, mas mantendo, sempre, a expropriação capitalista externa e o subdesenvolvimento relativo, como condições e efeitos inelutáveis” (Fernandes 1987, p. 291).
A promoção desse modelo de desenvolvimento, reprodutor do domínio externo e do subdesenvolvimento relativo, foi a que se propôs politicamente a burguesia brasileira, e a execução dessa tarefa foi o conteúdo da revolução burguesa à brasileira que codifica e condiciona o Brasil.
*Jaldes Meneses é professor titular Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPB.
Referências
ARANTES, Paulo. Um departamento francês de ultramar. Estudos sobre a formação da cultura filosófica uspiana (uma experiência nos anos 60). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A crise do Estado. Ensaios sobre a economia brasileira. São Paulo: Nobel, 1992.
_____________________________. A construção política do Brasil. Sociedade, economia e Estado desde a independência. São Paulo: Ed. 34 (2a ed.), 2015.
BUCI-GLUCKSMANN, Christinne. Gramsci e o Estado. Por uma teoria materialismo da filosofia. São Paulo: Paz e Terra (2a ed.), 1990.
CANDIDO, Antonio. Um militante incansável. In: MARTINEZ, Paulo Henrique (Org.). Florestan ou o sentido das coisas. São Paulo: Boitempo, 1998, p. 37-47.
CARDOSO, Fernando Henrique. Autoritarismo e democratização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
CARONE, Edgard. O PCB. 1943-1964 (Vol. 2). São Paulo: Difel, 1982.
_______________. O PCB. 1964-1982 (Vol. 3). São Paulo: Difel, 1982.
COGGIOLA, Osvaldo. Florestan Fernandes e o socialismo. In: FLORESTAN, Fernandes. Em busca do socialismo. Últimos escritos e outros textos. São Paulo: Xamã, 1995, p. 9-28.
COHN, Gabriel. Padrões e dilemas: o pensamento de Florestan Fernandes. In: MORAES, Reginaldo; ANTUNES, Ricardo; FERRANTE, Vera B. Inteligência brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 125-148.
____________. O ecletismo bem temperado. In: D’Incao, Maria Angela. O saber militante. Ensaios sobre Florestan Fernandes. São Paulo: Unesp/Paz e Terra, 1987, p. 48-53.
COUTINHO, Carlos Nelson. “Marxismo e ‘imagem do Brasil’ em Florestan Fernandes”. In: Cultura e sociedade no Brasil. Ensaios sobre ideias e formas. São Paulo: Expressão Popular (4a ed.), 2011.
D’ARAÚJO, Maria Celina & CASTRO, Célio. Ernesto Geisel. Rio de Janeiro: FGV (4a ed.), 1997.
FEIJÓ, Martin Cezar. “Painel do leitor”. In: Folha de S Paulo, 21/01/1999. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz21019911.htm≤. Acesso em: 10/09/2020.
FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, Zahar, 1968.
____________________. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
____________________. Brasil: em compasso de espera. São Paulo: Hucitec, 1980.
____________________. Florestan Fernandes, a pessoa e o político. Revista Ensaio, São Paulo n. 8, p. 9-39, 1980.
____________________. A ditadura em questão. São Paulo: T. A. Queiroz, 1982.
____________________. A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica.Rio de Janeiro: Guanabara (3a ed.), 1987.
____________________. Constituinte e Revolução (entrevista). Revista Ensaio, São Paulo n. 17-18, p. 123-172, 1989.
_____________________. Florestan Fernandes. Entrevista a Paulo de Tarso Venceslau. Teoria e Debate, São Paulo, no 13, 1991. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1QZxhSzzUYTemcFBFA42–SG2CBY_Y72T/view≥.. Acesso em 4 setembro 2020.
____________________. Florestan Fernandes, história e histórias. Depoimento a Alfredo Bosi, Carlos Guilherme Mota e Gabriel Cohn. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 42, p. 3-31, jul. 1995.
____________________. A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica. São Paulo: Globo (5a ed.), 2005.
_____________________. Florestan Fernandes. Entrevista. In: RUGAI BASTOS, Elide; ABRUCIO, Fernando; LOUREIRO, Rita; REGO, José Márcio. Conversas com sociólogos brasileiros. São Paulo: 34 Editora, 2006a, p. 13-48.
____________________. Pensamento e ação. O PT e os rumos do socialismo. Rio de Janeiro, Globo, 2006b.
FERNANDES, Heloísa. “Capitalismo selvagem, dominação autocrático-burguesa e revolução dentro da ordem”. Margem Esquerda, São Paulo, n. 8, 2006, p. 1-10. Disponível em: <https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2012/11/Heloisa-Fernandes-Capitalismo-selvagem-Rev-dentro-da-ordem.pdf≥. Acesso: 4 setembro 2020.
FIORI, José Luís. Em busca do dissenso perdido. Ensaios sobre a festejada crise do Estado. Rio de Janeiro: Insigth, 1995.
______________. O voo da coruja. Para reler o desenvolvimentismo brasileiro. Rio de Janeiro: Record (2a ed.), 2003.
GASPARI, Elio. A ditadura encurralada. O sacerdote e o feiticeiro. Rio de Janeiro: Intríseca (2a ed.), 2014.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere — v. 1. Introdução ao estudo da filosofia. A filosofia de Benedetto Croce. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
_________________. Cadernos do cárcere — v 5. Risorgimento. Notas sobre a história da Itália. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
GOETHE, Johann Wolfgang von. Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. São Paulo: 34 Editora, 2006.
GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. São Paulo: Àtica, 1987a.
__________________. A Revolução Burguesa e os Comunistas. In: D’INCAO, Maria Ângela. O Saber Militante. Ensaios sobre Florestan Fernandes. São Paulo: Paz e Terra/Unesp, 1987b, p. 250-259.
LÊNIN, Vladimir I. O programa agrário da socialdemocracia na primeira revolução russa de 1905-1907. São Paulo: Ciências Humanas, 1980.
________________. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. O processo de formação do mercado interno para a Grande Indústria. São Paulo: Abril Cultural, 1982a.
________________. O imperialismo, fase superior do capitalismo. In: Lenine, V. I. Obras escolhidas – V. 1. São Paulo: Alfa-Ômega (2a ed.), 1982b, p. 575-666.
LUXEMBURG, Rosa. A acumulação do capital. Contribuição ao estudo econômico do imperialismo. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
MARTINS, José de Souza. Prefácio à quinta edição. In: FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Ensaio de Interpretação sociológica. Rio de Janeiro, Globo (5a ed.), 2005, p. 9-24.
MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. In: MARX, Karl & ENGELS.Obras escolhidas – V. 1. São Paulo: Alfa-Omega, 1979, p. 199-285.
MAZZEO, Antonio Carlos. Estado e burguesia no Brasil. Origens da autocracia burguesa. São Paulo: Boitempo (3a ed.), 2015.
MOORE Jr., Barrigton. As origens sociais da ditadura e da democracia. São Paulo: Martins Fontes, 1975.
NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. São Paulo: Cortez, 1991.
NETTO, José Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das ideias marxistas. São Paulo: Cortez, 2004.
OLIVEIRA, Francisco de. A navegação venturosa. Ensaios sobre Celso Furtado. São Paulo: Boitempo, 2003a.
_____________________. Crítica à razão dualista/o ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003b.
PRESTES, Anita Leocádia. Luiz Carlos Prestes. O combate por um partido revolucionário (1958-1990). São Paulo: Expressão Popular, 2012.
PRESTES, Luiz Carlos. Brasil. In: VÁRIOS AUTORES. Socialismo em debate (1917-1987). São Paulo: Cajamar, 1988, p. 223-304.
SODRÉ, Nelson Werneck. História e materialismo histórico no Brasil. São Paulo: Global, 1985.
THOMPSON, E. P. La sociedad inglesa delsiglo XVIII: ¿Lucha de clasessinclases?. In: THOMPSON, E. P. Tradición, revuelta y consciencia de clase: estudios sobre lacrisis de lasociedadpreindustrial. Barcelona: Crítica, 1989, p. 13-61.
TROTSKY, Leon. Revolução e contrarrevolução na Alemanha. São Paulo: Ciências Humanas, 1979.
VÁRIOS AUTORES. A revolução burguesa no Brasil. Encontros com Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, n. 4, p. 175-207, 1978.
WEFFORT, Francisco. A segunda revolução democrática, 1994. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/10/04/caderno_especial/3.html>. Acesso em 4 setembro 2020.