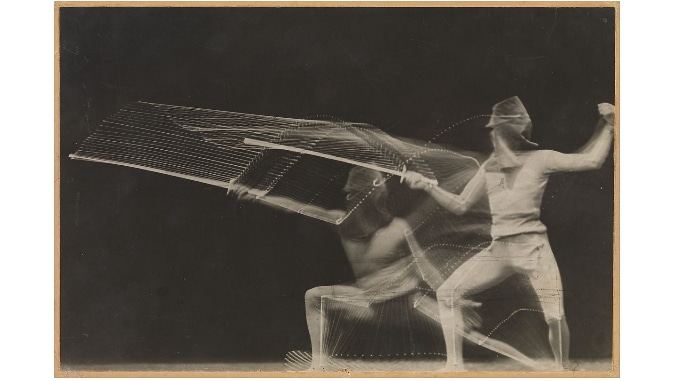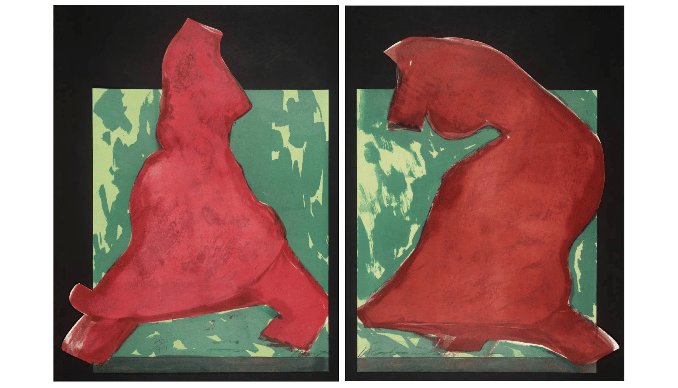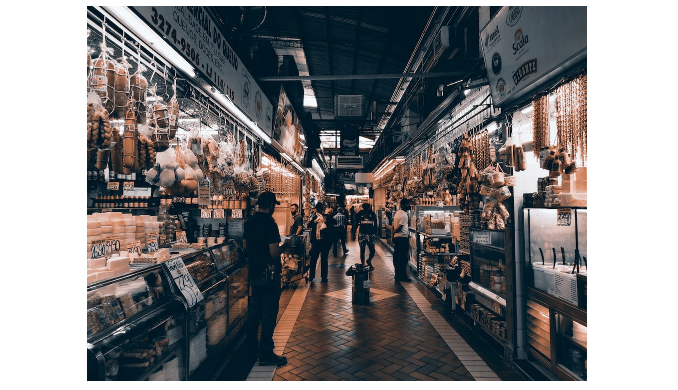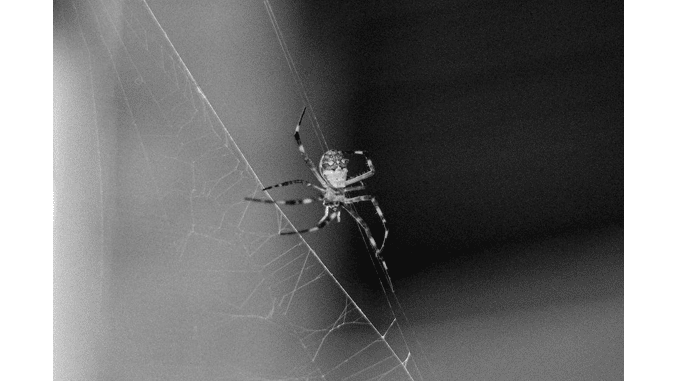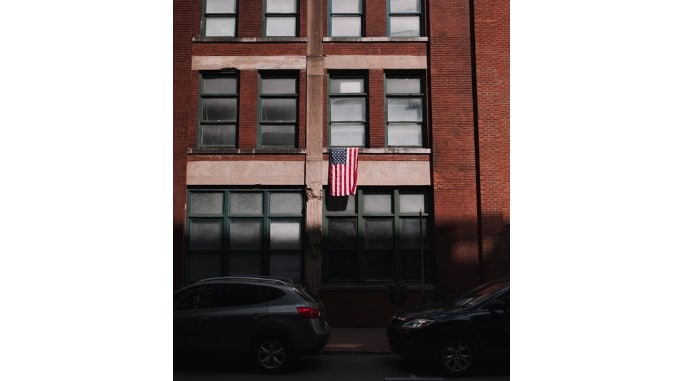Por YVES SMITH*
A soberba norte-americana em face à guerra na Ucrânia e sua crescente obsessão com a China não estão colando, na medida em que a propaganda começou a se dissipar muito rapidamente
Na época em que a pirataria financeira botava medo nos corações do mundo corporativo americano, os profissionais de fusões & aquisições eram as grandes estrelas da mídia de negócios. Uma das principais bancas de investimento e gestão da época, a Lazard Frères (hoje Lazard Asset Management), orgulhava-se de suas habilidades em psicologia da aberração, também conhecida como gerenciamento de CEOs. Um de seus conselhos mais importantes a eles era o perigo de acreditar na sua própria propaganda de relações públicas.
No mundo corporativo norte-americano, há um risco virtuoso de que a falsidade possa ser descoberta por concorrentes, por especuladores (“vendedores a descoberto”), denunciantes (“whistleblowers”) ou simplesmente pela leitura cuidadosa das auditorias financeiras. Dito isso, é notável que Jack Welch tenha mantido a realidade sob controle por muito e muito tempo, em prejuízo não apenas da General Eletric, mas também de seus muitos imitadores.
Em contraste, na política, evitar a realidade é usualmente a chave para uma carreira longa e com uma fachada bem-sucedida, como assim o testemunha, por exemplo, o apreço dos eurocratas por estratégias de “empurrar com a barriga”. Essa propensão torna-se particularmente perigosa quando certas elites políticas se mostram egoístas e imediatistas. De fato, houve um tempo em que muitas pessoas ingressavam no governo por conta de suas funções precípuas, e não por conta das portas giratórias[1] e das redes de influência. Houve também um tempo, antes da ascensão das elites globais, em que os poderosos tinham laços com comunidades físicas específicas, e alguns se interessavam pelo seu progresso. Em outras palavras, mesmo que houvesse muitos alpinistas sociais e medíocres no comando, muitas vezes havia suficientes pessoas na sala preocupadas com os riscos a longo prazo, a ponto de policiar os comportamentos predatórios.[2]
Atualmente, no entanto, o aprimoramento da eficácia da propaganda encorajou os políticos e seus amplificadores/aliados da mídia a despirocarem na venda de grandes mentiras. E o pior é que não há consequências para os meliantes. A revelação da forma como foi feito o primeiro uso sistemático da propaganda em larga escala, pelo Comitê Creel em 1917, durante o que era então chamada de Grande Guerra, escandalizou o público norte-americano. Em um lapso de tempo relativamente curto, essa campanha multicanal transformou a opinião americana de despreocupada em furiosamente antialemã, por meio de notícias forjadas sobre atrocidades como a de soldados alemães matando bebês a baioneta. Fez-se um largo exame de consciência, assim como análises de gente como Walter Lippmann, sobre a necessidade de especialistas interpretarem não apenas informações técnicas, mas também assuntos de interesse geral, para cidadãos intrinsecamente incapazes de perceber a realidade, por conta de preconceitos e informações truncadas.
Mais recentemente, no entanto, não apenas os contadores de histórias exageradas se tornaram excessivamente confiantes, como também tal atitude se viu perigosamente inflacionada na esteira de invenções abjetas como a das armas de destruição em massa do Iraque e a do Russiagate. Parece até que os americanos estão notavelmente ansiosos para se tornarem alunos da Rainha Branca, da Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll:
“Quantos anos você tem?” – perguntou a rainha.
“Tenho exatamente sete anos e meio”.
“Você não precisa dizer ‘exatamente’” – contestou a rainha. “Eu posso acreditar sem isso. Agora eu vou te dar algo para acreditar: tenho apenas cento e um anos, cinco meses e um dia”.
“Eu não posso acreditar nisso!” – disse Alice.
“Você não pode?” – disse a Rainha disse em tom de pena. “Tente de novo! Respire fundo e feche os olhos”.
Alice riu. “Não adianta tentar” – disse ela. “Não dá para acreditar em coisas impossíveis”.
“Eu ousaria dizer que você só não tem muita prática” – retrucou a Rainha. “Quando eu tinha a sua idade, eu sempre praticava meia hora por dia. Hoje eu chego a acreditar em até seis coisas impossíveis antes mesmo do café da manhã”.
A soberba norte-americana em face à guerra na Ucrânia e sua crescente obsessão com a China não estão colando, na medida em que a propaganda começou a se dissipar muito rapidamente no Sul Global, e está perdendo sua potência no próprio Ocidente. É difícil manter a pretensão de uma vitória inevitável e retumbante na Ucrânia após a queda de Bakhmut, uma vez que Volodymyr Zelensky fez da resistência da cidade a peça central da sua grande confraternização no Congresso Americano no último mês de dezembro. Ah! Mas a Ucrânia ainda tenta negar que a cidade tenha sido perdida, tal como fez com Mariupol e Soledar até bem depois dos fatos consumados.
Ou então: que tal a Ucrânia disparar 30 mísseis Patriot em cerca de dois minutos, o que representa cerca de 10% da produção anual destinada a todos os países, em um esforço malsucedido para parar um míssil hipersônico Kinzhal? ou que o comandante-em-chefe ucraniano, general Valerii Zaluzhny, em geral altamente visível, tenha estado perdido em combate por semanas, e que a Ucrânia, avalizando rumores sobre ele ter sido gravemente ferido em um bombardeio russo, apresente imagens antigas suas como se fossem atuais?
De forma análoga, tentar intimidar países que não tinham motivos para tomar partido para se que alinhem contra a Rússia e, em seguida, dobrar a intimidação, não seria outra coisa que confirmar o discurso do presidente Vladimir Putin sobre as velhas potências coloniais tentando reafirmar seu papel histórico de exploradores? Essa nova guerra fria acabou assistindo a muitos países preferirem se mover para o lado supostamente “antidemocrático” da Cortina de Ferro, para raiva impotente do Ocidente.
Os Estados Unidos e a OTAN precisam manter uma imagem de sucesso na Ucrânia, porque essa aventura rapidamente se transformou em uma bizarra demonstração pública das vísceras da coligação, salpicada por discussões entre os membros da OTAN sobre quem realmente deveria esvaziar seus estoques militares em favor da causa – sem falar na sombra que paira sobre discussões já não tão públicas a respeito dos refugiados ucranianos. Ainda que a imprensa nos países do “Ocidente coletivo” tenha se transformado em líder de torcida a favor da guerra – em que pesem as recentes (e cada vez mais insistentes) admissões de que essa bravata está fazendo água –, há um sentimento crescente nos Estados Unidos e até mesmo em certas partes da Europa (como a Alemanha), de que o entusiasmo belicoso do cidadão pedestre está minguando.
Outro problema é que a OTAN simplesmente não se adéqua a esse objetivo. Ela foi desenhada com propósito de defesa, com muitas nações configurando seu próprio armamento, coerentemente compatível com sua própria linha logística. (Não seria melhor consorciar as cotas de carne para depois dividir o assado, como a União Europeia fez com sucesso com a Airbus?). Brian Berletic, o coronel Douglas Macgregor e Scott Ritter explicaram exaustivamente por que a entrega de sistemas de armas díspares, principalmente novos, para a Ucrânia, é uma receita para o fracasso. Como se tudo isso não bastasse, na medida em que as forças da OTAN só experimentaram o combate em guerras menores e contra insurgentes, nada dessa experiência pode ajudar no caso da Ucrânia.
Sistemas de armas balcanizados são, na verdade, sintomáticos da falta de coesão da OTAN no nível do projeto institucional, que agora está sendo testado por este conflito até seu limite de destruição. O artigo 5º do seu estatuto é com frequência invocado, incorretamente, como a base de um pacto de defesa mútua, do tipo “um por todos e todos por um”. Na verdade, tudo o que o Artigo 5 obriga aos Estados membros fazer, em caso de agressão a um deles, é tomar as medidas que julgarem necessárias. Cada Estado decide por conta própria se deseja comprometer forças armadas ou… qualquer outra coisa que seja.
Da mesma forma, as autoridades norte-americanas podem ter contado para a si mesmas o conto de que a maior parte do mundo encararia a China com desconfiança, por conta de sua retórica muitas vezes superaquecida e sua hipersensibilidade ao desdém alheio. Mas essas crenças, confortáveis para si mesmos, a respeito da posição da China no cenário mundial receberam uma séria advertência quando a China intermediou a normalização das relações entre a Arábia Saudita e o Irã, e depois com a Síria. Agora a China está criando ainda mais problemas ao perambular pelos quintais dos Estados Unidos (como a Europa), propagandeando seu próprio plano de paz para a Ucrânia, tirado da cartola. Esse programa pode não ir a lugar nenhum, mas os movimentos chineses têm, por si só, o efeito de consignar o país como um apaziguador de conflitos (em contraposição aos Estados Unidos, que os tentam insuflar), intensificando as divisões já visíveis dentro da Aliança Atlântica.
Assim, os esforços dos Estados Unidos agora para fingir que tudo está indo bem já parecem um tanto quanto esfarrapados. Sem exagerar na analogia, os Estados Unidos parecem estar em uma fase estranha do paradigma de Kübler-Ross dos cinco estágios do luto, que são: negação, barganha da raiva, negociação, depressão e aceitação. Ainda há muita negação. Basta ver a expectativa em torno da grande contraofensiva ucraniana, que pretende algum dia mudar o jogo, após muitas entregas de armas revolucionárias, como drones Bayraktars, bazucas Javelins, mísseis HIMARS e tanques Leopard, além de outros esforços depositados em mensagens indevidamente otimistas, feitas em condições muito desfavoráveis no teatro de operações. Zelensky acabou de dar duas palestras de autossabotagem, para a Liga Árabe e para o G-7, cheias de ira sobre o quanto ele tem direito a mais apoio e em que inferno ele se encontra.
O mais intrigante, no entanto, é a estranha barganha, muito parecida com a barganha da morte, do modelo de Kübler-Ross, que é barganhar consigo mesmo. Por algum tempo, pelo menos desde o balão de teste rapidamente esvaziado do general Mark Milley em novembro passado, há cada vez mais comentários de especialistas, e até mesmo de autoridades governamentais, sobre como a Ucrânia deveria negociar com a Rússia, após alguma experiência de retomada de terreno, para melhorar a posição do país na negociação.
Evidentemente, a ideia de que a Rússia negociaria apenas pelo bem das aparências é ilusória. Como o ex-diplomata indiano M. K. Bhadrakumar lembrou aos leitores em seu último artigo, Vladimir Putin alertou a Ucrânia e seus apoiadores em julho passado que quanto mais tempo durasse o conflito, “mais difícil seria negociar conosco”. E isso foi antes de Angela Merkel e François Hollande se gabarem de seu jogo duplo na garantia dos Acordos de Minsk, o que levou Putin a fazer declarações amargas sobre o equívoco que foi tentar cooperar com o Ocidente.
Vladimir Putin tem um histórico de se esforçar para não repetir erros. A Rússia já estava descrevendo os Estados Unidos como “incapazes de sustentar acordos” mesmo antes das revelações sobre Minsk. E ainda que houvesse uma mudança de regime em Washington, Putin repetidamente viu presidentes assumirem compromissos com ele que depois renegaram. Ele – talvez caridosamente – atribuiu isso a uma burocracia permanente, que é quem realmente comanda.
Os Estados Unidos estão novamente negociando consigo mesmos a aprovação de fornecimento de caças F-16 para a Ucrânia por aliados. Tentam alegar que isso não é uma escalada porque eles não serão usados contra o território russo, ignorando a visão russa de que não apenas a Crimeia, mas também os quatro oblasts já anexados são agora, legalmente, território russo.
A resposta azeda da Rússia, via agência TASS foi: “Os países ocidentais continuam no caminho da escalada, e Moscou levará em consideração seus planos de enviar aeronaves F-16 para a Ucrânia, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, à TASS no sábado”.
“Podemos ver que os países ocidentais continuam presos a um cenário de escalada, o que acarreta enormes riscos para eles. De qualquer forma, levaremos isso em consideração ao fazer planos. Temos todos os meios necessários para atingir nossos objetivos”, disse ele à margem da 31ª Assembleia do Conselho de Política Externa e de Defesa, quando solicitado a comentar o possível fornecimento de aeronaves F-16 à Ucrânia”.
Um novo sabor do copium (antidepressivo/antifrustrante) ocidental é a mais recente ideia de um “conflito congelado”, lançada em um balão de ensaio na revista Politico: “As autoridades americanas estão considerando a possibilidade crescente de que a guerra Rússia-Ucrânia se transforme em um conflito congelado que dure muitos anos ― décadas talvez ― e se junte ao rol de confrontos prolongados semelhantes na península coreana, no sul da Ásia e além. As opções discutidas pelo governo Biden para um “congelamento” de longo prazo incluem onde estabelecer linhas potenciais que a Ucrânia e a Rússia concordariam em não cruzar, mas que não teriam que ser fronteiras oficiais. As discussões – ainda que provisórias – ocorreram em várias agências norte-americanas e na Casa Branca”.
De novo, isso é masturbação intelectual. Os Estados Unidos estão, obviamente, falando sozinhos. Tornou-se cada vez mais claro para o lado russo que é preciso continuar a guerra até que a Ucrânia seja derrotada de maneira decisiva. Isso significa que a Rússia dita os termos e instala um regime fantoche ou, de alguma forma, consegue efetivar o cenário sugerido por Dmitri Medvedev, em que Polônia, Hungria e Romênia comem pedaços da Ucrânia Ocidental e deixam para a “Ucrânia” algo como uma Grande Kiev, ou seja, pequena demais para servir de plataforma para qualquer coisa que seja.
É possível considerar que a Rússia posa criar uma zona desmilitarizada – o que não é o mesmo que concordar com o Ocidente a respeito de uma –, criando uma zona deseletrificada bastante grande, onde apenas alguma versão de sobrevivencialistas do Leste Europeu poderia habitar. E agora que o Ocidente decidiu implantar lançadores de mísseis Storm Shadows de longo alcance, essa zona teria que ter pelo menos 400 quilômetros de largura, para manter o território russo fora do alcance de qualquer ataque.
Sobre a China, a posição dos Estados Unidos também é internamente orientada e, portanto, incoerente. Como nós e outros já apontamos, os falcões norte-americanos que olham para a China têm brigado silenciosamente com os odiadores da Rússia há algum tempo. O compromisso implícito, de que a Rússia seria despachada rapidamente, para que os Estados Unidos pudessem se voltar contra a China, não está funcionando. Espera-se que o linha-dura do campo antichinês, Charles Brown, substitua o general Mark Milley no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, mas isso pode não ser suficiente para mudar o foco dos Estados Unidos decisivamente para a China e permitir que a Ucrânia seja silenciosamente abandonada. Joe Biden, Anthony Blinken e Victoria Nuland estão fortemente engajados no projeto “ganhar de Putin” e provavelmente serão incapazes de abandoná-lo. Ademais, com cerca de 100 bilhões de dólares já investidos, alguns congressistas provavelmente exigirão resultados ou uma explicação.
A última exibição da frente anti-China foi a reunião do G-7, que deu sinais resolutos de hostilidade a esse país. Reconhecidamente, a declaração oficial foi feita em linguagem flácida de ONG, começando com um aceno sobre os princípios da ONU e a adesão à Ucrânia “pelo tempo que for necessário”.
Mas aí já afloram as farpas contra a China. Por exemplo: “Defenderemos princípios internacionais e valores compartilhados: (…) à forte oposição a qualquer tentativa unilateral de mudar o status estabelecido pacificamente de territórios pela força ou pela coerção, em qualquer lugar do mundo, reafirmando que a aquisição de território pela força é proibida. (…) Permanecemos juntos como parceiros do G7 nos seguintes elementos, que sustentam nossas respectivas relações com a China:Estamos preparados para construir relações construtivas e estáveis com a China, reconhecendo a importância de nos envolvermos abertamente e expressarmos nossas preocupações diretamente a ela. Agimos em nosso interesse nacional. É necessário cooperar com a China, dado o seu papel na comunidade internacional e a dimensão da sua economia, tanto nos desafios globais como nas áreas de interesse comum”.
“Apelamos à China para se envolver conosco, inclusive em fóruns internacionais, em áreas como a crise climática e da biodiversidade e a conservação dos recursos naturais no âmbito dos Acordos de Paris e Kunming-Montreal, abordando a sustentabilidade da dívida dos países vulneráveis e as necessidades de financiamento , saúde global e estabilidade macroeconômica”.
“Nossas abordagens políticas não são projetadas para prejudicar a China nem procuramos impedir o progresso e o desenvolvimento econômico desse país. Uma China em crescimento que obedeça às regras internacionais seria de interesse global. Não estamos dissociando ou nos voltando para dentro. Ao mesmo tempo, reconhecemos que a resiliência econômica requer redução de riscos e diversificação. Tomaremos medidas, individual e coletivamente, para investir em nossa própria vitalidade econômica. Reduziremos as dependências excessivas em nossas cadeias de suprimentos críticas”.
“Com o objetivo de possibilitar relações econômicas sustentáveis com a China e fortalecer o sistema de comércio internacional, buscaremos condições equitativas para nossos trabalhadores e empresas. Procuraremos enfrentar os desafios colocados pelas políticas e práticas não comerciais da China, que distorçam a economia global. Combateremos práticas malignas, como transferência ilegítima de tecnologia ou divulgação de dados. Promoveremos a resiliência à coerção econômica. Também reconhecemos a necessidade de proteger certas tecnologias avançadas que podem ser usadas para ameaçar nossa segurança nacional sem limitar indevidamente o comércio e o investimento”.
Há muito mais, mas pelo trecho reproduzido já se entende a sua essência. Há muito o que criticar, mas parecem particularmente sugestivas as menções a “não tentar prejudicar a China” e “não dissociar, mas reduzir o risco”.
A interpretação do Financial Times da declaração do G-7, na forma de matéria de destaque foi: o G7 emite a mais forte condenação da China ao intensificar a resposta a Pequim.
Não obstante, de alguma forma, Joe Biden acha que toda essa maledicência resultará em melhores relações, como se a China fosse uma espécie de esposa espancada que aceita humildemente o abuso como algo melhor do que a negligência. Outra matéria do jornal cor-de-rosa, sugere que Joe Biden espera um “degelo” iminente nas relações com a China: “Joe Biden disse que espera ver um “descongelamento” nas relações dos Estados Unidos com Pequim, mesmo depois de concluir uma cúpula do G7 no Japão que fez um esforço conjunto para combater as ameaças à segurança militar e econômica da China. O presidente norte-americano disse em entrevista coletiva ao final da cúpula de três dias que as negociações entre os dois países foram interrompidas depois que um “balão tolo” carregando equipamento de espionagem sobrevoou a América do Norte em fevereiro, antes de ser abatido pelos militares norte-americanos”.
Sim, o fato de os Estados Unidos e a China estarem conversando agora poderia ser tecnicamente considerado uma melhora de relações, mas isso não quer dizer muito. A observação do “balão tolo” entra em cena quando Joe Biden busca transferir a culpa para a China e minimizar a reação histérica dos Estados Unidos. E isso não vai melhorar as coisas. Além do mais, a atitude do G-7 é ofensiva, como se fosse ele o defensor da integridade territorial, quando são os Estados Unidos que estão promovendo e financiando de forma persistente o separatismo em Taiwan.
Confirmando a ideia de que qualquer melhoria é não mais que marginal, a coletiva de imprensa de 12 de maio (como no pré-G-7) com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, a Agência France-Press questionou-o por que uma reunião de oito horas entre o Diretor do Escritório para Negócios Estrangeiros do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, Wang Yi, e Jake Sullivan produziu não mais que pequenas notas. A resposta foi concisa e agasalhava uma pepita: “Os dois lados mantiveram discussões francas, profundas, substanciais e construtivas sobre maneiras de (…) estabilizar o relacionamento em deterioração”. Isso aponta para expectativas extremamente baixas por parte do lado chinês.
A entrevista também incluiu uma reclamação detalhada sobre o ato do Congresso americano que deixa de considerar a China um país em desenvolvimento, e que instrui o Departamento de Estado a pressionar a Organização Mundial do Comércio, bem como outras organizações internacionais, a revogar o status de nação em desenvolvimento da China. Wang Wenbin citou os principais critérios pelos quais a China ainda pode ser considerada como uma nação em desenvolvimento, e argumentou que os Estados Unidos não têm autoridade para alterar internacionalmente esse status.
As respostas chinesas foram comedidas até que um repórter perguntou sobre a expectativa de que o G-7, como de fato aconteceu, acusasse a China de praticar coerção econômica. Da tradução oficial:
“Se algum país deve ser criticado por coerção econômica, deve ser os Estados Unidos, que têm estendido demais o conceito de segurança nacional, abusando do controle de exportação e tomando medidas discriminatórias e injustas contra empresas estrangeiras. Isso viola gravemente os princípios da economia de mercado e da concorrência leal”.
“De acordo com relatos da mídia, o estabelecimento de sanções pelo governo dos Estados Unidos aumentou 933% entre 2000 e 2021. Somente o governo Trump impôs mais de 3.900 sanções, ou três por dia, em média, em quatro anos. Mais de 9.400 sanções entraram em vigor nos Estados Unidos até o ano fiscal de 2021. Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas unilaterais a quase 40 países, afetando quase metade da população mundial”.
“Nem mesmo os membros do G7 foram poupados da coerção econômica e do bullying dos Estados Unidos. Empresas como a Toshiba, do Japão, a Siemens, da Alemanha e a Alstom, da França, foram todas vítimas da repressão norte-americana. Se a Cúpula do G7 for discutir a resposta à coerção econômica, talvez deva primeiro discutir o que os Estados Unidos fizeram. Como anfitrião do G7, o Japão expressaria algumas dessas preocupações aos Estados Unidos, em nome do resto do grupo, que foi intimidado pelos norte-americanos? Ou pelo menos esboçaria algumas palavras de verdade?”
“Em vez de perpetrador, a China é vítima da coerção econômica norte-americana. Temos nos oposto firmemente à coerção econômica de qualquer país do mundo, e instamos o G7 a abraçar a tendência de abertura e inclusão no mundo, parar de formar blocos exclusivos e não se tornar cúmplice de qualquer coerção econômica”.
Como esta matéria já está extensa, abstenho-me de relatar mais reações chinesas aos leitores, mas o Global Times, canal em língua inglesa do governo chinês, insiste em que o G7 se transformou em um “workshop anti-China” e que, contrariando as tendências mundiais, um G7 manipulador é, sim, criticável pelo seu exclusivismo.
A rede Bloomberg sinalizou o quanto esse G-7 não chegou a ser nenhum grande sucesso: “Relações Estados Unidos-China devem melhorar “muito em breve”, diz Biden/ G-7 luta para conquistar nações indecisas cortejadas por China e Rússia/ Planos do líder ucraniano de se encontrar com Lula no G-7 fracassam/ O foco de Biden no G-7 do Japão é perturbado pela disputa em Washington em torno da dívida pública”.
Esse tipo de coisa normalmente seria apenas assustador, como assistir a uma transmissão do Britain’s Got Talent (show de talentos da TV britânica) onde um artista realiza entusiasmadamente um péssimo número, desprovido de qualquer autoconsciência que o permita se dar conta do quão ruim foi. Mas aqui as apostas são bem mais altas, e teremos todos que arcar com as consequências.
*Yves Smith é o pseudônimo de Susan Webber, economista especializada em consultoria de gestão, fundadora do site de mídia alternativa econômica Naked Capitalism.
Tradução: Ricardo Cavalcanti-Schiel.
Publicado originalmente em Naked Capitalism.
Notas do tradutor
[1] Nos Estados Unidos, esse termo é usado para expressar o trânsito de ida e volta entre cargos do governo e direção/assessoria de empresas, think tanks e outras instituições, o que proporciona carreiras social e financeiramente bem-sucedidas.
[2] Não estou dizendo que o antigo sistema era maravilhoso. Ele nos legou, por exemplo, o Vietnã e um suspeito apreço por operações de mudança de regime. Mas havia muito menos corrupção aberta.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA