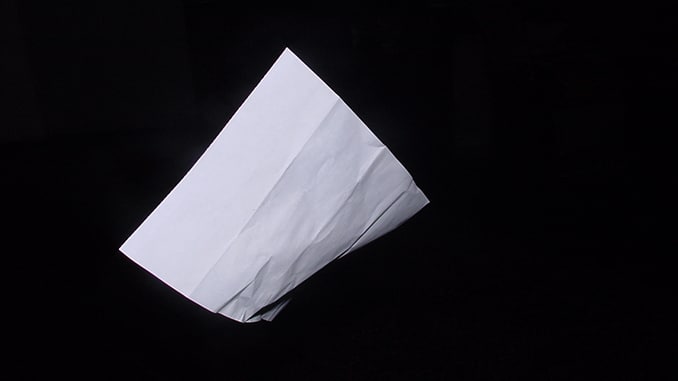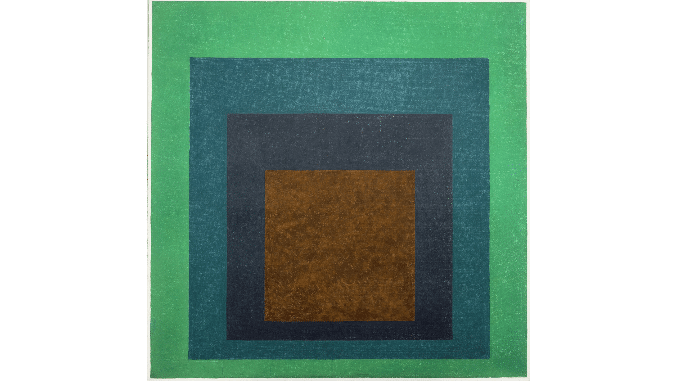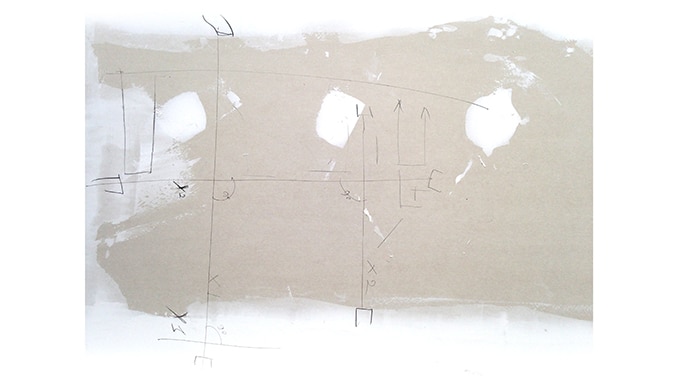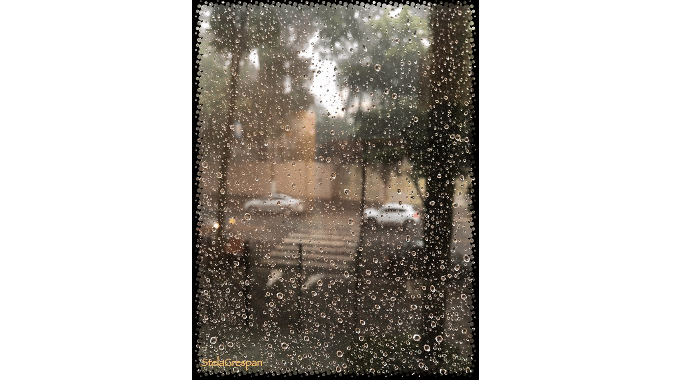Por Artur Kon*
Comentário sobre a obra teatral, do escritor austríaco, vencedor do Nobel de literatura em 2019
Enquanto urgências se acumulam, se sobrepõem e se potencializam mutuamente, parecetolo seguir com a análise de textos literários que nada têm a dizer diretamente sobre a situação. Mesmo assim, podemos observar que neste contexto – e na verdade a partir dele – não pouco é falado sobre o papel que a arte, contradizendo seus censores e detratores (os atuais detentores do poder), pode ou deve ter no enfrentamento das adversidades crescentes.
Em meio à pandemia, a arte se torna um modo de lidar com o isolamento, seja como valioso passatempo (elevado ao status de item indispensável para a manutenção da saúde mental: a “arte como respiro”, como colocou o Instituto Cultural do Banco Itaú), seja como elemento de formação cultural, capaz de tornar rico e produtivo o tempo morto da quarentena para quem souber aproveitá-lo (somos instados a parar, mas sem deixar de produzir).
Num momento anterior, quando enfrentávamos “apenas” o avanço violento da extrema direita, manifestações artísticas eram apontadas como espaços para a sobrevivência de sujeitos dissidentes ou discursos antifascistas.
Entre entretenimento e artivismo, patrimônio civilizacional e oposição crítica, abundam modos de ver as artes com bons olhos, contra aqueles que ainda insistem em acusá-las como exercícios narcísicos inúteis, portanto indignos de tempo, atenção e (sobretudo) de investimentos públicos.
Resta saber se, em meio a tantos modos de justificar a existência da atividade artística, atribuindo-lhe funções e capacidades que fazem com que a arte não seja apenas arte, sobra espaço para alguma compreensão de qual seria o sentido e a potência da arte enquanto arte, para além da sua instrumentalização – ou seja, dominação – por práticas e discursos políticos que lhe são externos.
A discussão não é nova; os eventos recentes mostram que nem por isso está ultrapassada. Vejo uma oportunidade para retomá-la no Prêmio Nobel de Literatura outorgado em outubro passado ao austríaco Peter Handke, que desde o início de sua atividade literária nos anos 60 foi lançado (e também se colocou a si mesmo) no centro desse campo de batalha.
Contra a arte engajada
As obras de Peter Handke foram escritas sob o signo de uma controversa recusa da arte engajada, que, segundo o escritor, “não entende que a literatura é feita com a linguagem, e não com as coisas descritas com a linguagem”, negligenciando “o quanto a linguagem é manipulável para fins sociais e individuais”, como se os escritores de obras políticas acreditassem “ingenuamente poder olhar através da linguagem para os objetos como através de um vidro”.
Para Handke, no campo da práxis social é necessário o engajamento, e especificamente o marxismo, que ele nomeia como “única solução possível para as contradições dominantes”. Mas esse engajamento “não pode permanecer inalterado pela forma literária”, na qual ele “perde em todo caso seu caráter sério, direto, inequívoco”, uma vez que “aquele a quem a mensagem deve ser transmitida não recebe primariamente a mensagem, mas a forma”.
Assim como “uma cadeira em cena é uma cadeira de teatro” necessariamente, o engajamento da cena será sempre um engajamento encenado, representado, meras palavras que “não apontam mais para as coisas, mas para si mesmas”, e com isso “perdem sua inocência”. Em seu gosto pela polêmica, Handke não hesita em afirmar sua posição supostamente antipolítica: “Então é de bom grado que eu me deixo ser chamado de habitante da torre de marfim”.[1]
Uma das características mais marcantes das suas peças é a redução da linguagem cênica a seu vocabulário mais básico, desmontando a complexa composição de texto, diálogo, situação, figuras e ações que constitui o drama a que o teatro foi tradicionalmente igualado e reduzido. Assim, como eu resumia naquele primeiro texto, Handke criou tanto “peças faladas” (seus primeiros trabalhos, da década de 1960, mas só muito recentemente publicados no Brasil) quanto “peças mudas”.
As primeiras negavam qualquer drama, apresentando discursos desprovidos de ação ou personagens, próximos à prosa ou à poesia. Já criações posteriores ofereciam apenas rubricas com descrições de figuras e ações que ocupariam a cena, sem dizer nada (o que aproximava a experiência do espectador de teatro com a que se tem no cinema). Vale ainda citar peças radiofônicas igualmente sem diálogos, só restando sons e ruídos para pintar paisagens na imaginação do ouvinte. Procedimentos distintos com idêntico efeito antidramático: assim Handke se tornou um dos primeiros representantes das tendências hoje reconhecidas e teorizadas de um teatro contemporâneo.
Era, argumentava eu, um modo de dar continuidade à tradição literária austríaca que, diferentemente da alemã [de Brecht, por exemplo, alvo frequente das polêmicas de Handke] com que divide o idioma, coloca no centro da atividade do escritor um corpo a corpo com o campo linguístico, trabalhando antes de mais nada com as palavras em sua materialidade, linhagem que se desenvolvera sob o signo de um célebre compatriota, o filósofo Ludwig Wittgenstein, para quem “o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo”. Na ocasião concluí que Handke fez da exploração dessa dupla fronteira o mote de sua obra. Com um pouco mais de calma, permito-me retornar a cada um desses três caminhos de experimentação dramatúrgica empreendidos pelo autor.
Saber falar
Para seus quatro primeiros textos teatrais, Handke inventou o termo Sprechstücke: “peças faladas”, como têm sido traduzidas em diversos países, mas mais ainda “peças de fala”: não apenas obras de teatro, mas pedaços de linguagem, nacos de discurso tomados da realidade e enxertados na cena, um pouco como ready-mades literários.[2]
Afrontando o público estreou em 1966. Num único longo discurso, quatro oradores sobre um palco vazio comentam a situação teatral em que se encontram, recusando o drama habitual: aqui não há “objetos que aparentam ser outros objetos” ou “um tempo que aparenta ser outro tempo”, mas o tempo e o espaço reais, atuais. Ao menos é o que diz o texto – escrito em outro tempo e outro espaço, o qual não deixa de contaminar e complicar a pura presença que os oradores dizem habitar.
Handke quer “tornar as pessoas cientes do mundo do teatro – não do mundo exterior”, ressaltando que, no teatro, “há uma realidade teatral acontecendo a cada momento”, onde “os objetos são privados de sua função normal”, adquirindo “uma função artificial no jogo que eu as forço a jogar”.[3] Do mesmo modo, são desfuncionalizados os insultos prometidos no título e proferidos ao fim da peça. Afinal uma ofensa anunciada, para a qual se comprou ingresso, é ainda ofensiva? Os oradores anunciam: “não insultaremos vocês, apenas usaremos palavras ofensivas, que vocês mesmos usam”, portanto “vocês não terão que se sentir insultados”. Depois, se despedem educadamente: “Vocês foram bem-vindos. Nós lhes agradecemos. Boa noite”.
Desde o título, Acusando a si mesmo continua e inverte a forma da peça anterior. Dois oradores listam os eventos de uma vida, do nascimento ao desenvolvimento da consciência, da linguagem, do conhecimento e da civilidade, da responsabilidade e da obrigação. A série exaustiva inclui contradições: não se trata da narrativa de um eu ficcional consistente, mas de “um tipo de autobiografia abstrata”, “um mosaico da existência de todo mundo”, segundo Nicholas Hern.[4] Por que o rol de todos os eventos das vidas de todo mundo é uma acusação?
A peça oscila entre a banalidade cômica das declarações (como “quis abrir as portas puxando-as quando eu deveria empurrá-las”) e a gravidade dos modelos desse mecanismo moral: a autocrítica stalinista e a confissão cristã.[5] Como se qualquer ação fosse desde sempre uma infração, e o sujeito desde sempre preso num círculo vicioso de culpa e remissão: “Eu me tornei. Eu me tornei responsável. Eu me tornei culpado. Eu me tornei perdoável. Eu devia expiar. Expiar o crime de ser o que sou”. A listagem termina incluindo a si mesma como última e maior infração: “Eu fui ao teatro. Eu escutei esta peça. Eu falei esta peça. Eu escrevi esta peça”.
Predizendo o futuro foi na verdade a primeira peça escrita por Handke, ainda em 1965, mas só veio a público graças ao sucesso de seu autor. De uma estafa com comparações e metáforas[6] nasce todo o texto: uma lista de frases tautológicas, criadas sobretudo a partir de lugares-comuns, em que uma coisa só é comparada a si mesma: “as moscas morrerão como moscas” ou “o castelo de cartas desmoronará como um castelo de cartas”. Com o tempo futuro, as frases sugerem a profecia prometida no título. Mas, segundo Handke, “é uma predição que não leva a nada”.[7]
Johannes Vanderath lê no texto “a imagem de um mundo em que catástrofes ocorrerão (…) mas no qual a vida banal e cotidiana seguirá”.[8] Já Nicholas Hern vê ali o “esforço de restaurar os poderes da simples percepção”, pondo “a ênfase de volta na individualidade, na realidade do próprio fenômeno”.[9] Proponho a indecidibilidade das duas leituras: o futuro previsto é tanto a catástrofe, que para Walter Benjamin seria justamente a manutenção do status quo, quanto a redenção, estado no qual, diz Theodor Adorno, “tudo é como é e, ao mesmo tempo, inteiramente outro”.[10]
Chamando por socorro é a última e menor das “peças de fala”, estreando e sendo publicada em 1967. As instruções incluídas na versão impressa resumem bem a proposta: “o papel dos oradores é de descobrir a palavra socorro através do labirinto de um grande número de frases e palavras” que “não são empregadas no seu sentido próprio”, mas “exprimem apenas a urgência de socorro”; sendo que “enquanto os oradores procuram a palavra ‘socorro’ eles têm necessidade de socorro; quando enfim acham a palavra, não têm mais necessidade da palavra ‘socorro’”.
Aqui também é onde mais se radicaliza o procedimento de ready-made linguístico: temos uma colagem de frases colhidas da realidade, somando ao final das citações apenas, como resposta, um “não”, negando que se tenha achado o pedaço de fala buscado. São diversas fórmulas do dia a dia, de espaços públicos, jornais etc.: “o general conduziu à vitória as tropas corajosas: NÃO; os talheres foram esterilizados: NÃO.”; ou “o café da manhã está incluído no preço: NÃO.” As tentativas são cada vez mais curtas, aumentando o ritmo e a sensação de urgência. Até que enfim se encontra: “socorro?: SIM! socorro?: SIM! (…) socorro”.
Não parece ser mera coincidência o fato de que, enquanto surgiam as “peças de fala”, na filosofia tenha ganhado espaço a ideia de um novo foco para o pensamento, que a partir do século XX passaria a se centrar na linguagem. Essa “virada linguística” abarcava tanto a tradição analítica anglo-saxã (desde Frege, Russell e Wittgenstein) quanto a continental, sobretudo na versão francesa estruturalista e pós-estruturalista (de Saussure a Deleuze e Derrida, chegando ainda a americanos como Judith Butler).[11]
Tal tendência foi alvo de diversas críticas por parte de pensadores marxistas, que viram ali um idealismo linguístico pós-moderno que usaria a ideia da “construção da realidade” para nos apartar do real, numa correspondência em relação a um capitalismo tardio que produz um mundo desmaterializado, impalpável, saturado de informações.[12]
Não ficaram isentos da crítica projetos artísticos como os de Handke, que não figuravam o mundo fora do teatro, mas encenavam o próprio teatro como espaço hermeticamente fechado onde a linguagem voltava-se sobre si. Para essas obras, muitas vezes aproveitou-se o termo “pós-moderno”, que com isso deixa de lado sua complexidade analítica para se ver reduzido a pouco mais do que mero xingamento.[13]
Ora, se há que levar a sério a crítica de certos pensadores marxistas a pensamentos centrados na linguagem, acredito que um teatro que se queira verdadeiramente político também precisa estar à altura do desafio colocado nas “peças de fala” do escritor austríaco, encontrando ali elementos para uma crítica da ideologia da linguagem, ideologia frequentemente replicada pelo teatro engajado.[14]
Essa crítica, note-se, é estética e não teórica. Por exemplo, em Afrontando o público, não é difícil perceber que aparentes constatações objetivas como “vocês não pensam em nada” ou “nós pensamos por vocês” implicam as sugestões mais ou menos forçosas: “não pensem”, “deixem que pensemos por vocês”. Mas também “vocês não aceitam que nós pensemos por vocês” e “seus pensamentos são livres” escondem ordens: “não aceitem que pensemos por vocês” e “libertem seus pensamentos”. Transcritos, os imperativos revelam uma equivalência por trás da aparente oposição: “deixe que eu pense por você” e “pense por si mesmo”; como ordens, são praticamente iguais, pois em ambos os casos é o enunciador que determina o ato do pensamento, tanto faz seu conteúdo.
Ora, essa paradoxal equivalência está na base do teatro político tão criticado por Handke. Oferecendo palavras de ordem e doutrinas ou pretendendo apenas colocar questões para que o espectador responda por si, aprendendo assim a pensar criticamente, essa cena determina seu efeito político numa via de mão única, em que cabe ao receptor seguir aquilo que foi determinado pelo artista, inclusive sua suposta emancipação. O intuito de despertar no público um senso crítico ativo pressupõe sua ausência na situação inicial, no limite implica apontá-lo como passivo, ignaro, alheado. Assim, constatações viram ordens, e as ordens insultos – aí, mais que na paródia de xingamento com que a peça termina, está a verdadeira afronta ao público.
Em Acusando a si mesmo, a acumulação de frases simples relatando ações objetivamente, somada ao próprio título da peça, tinge todo o texto de uma certa culpa, explicitando que alguma regra ou expectativa foi quebrada. Mas essa culpa é um efeito da linguagem, resultado de se falar em primeira pessoa, tanto faz se ela é “realmente sentida”: importa apenas que ele cumpra com o ritual da expiação, como nos modelos da autocrítica e da confissão citados por Handke.
Na verdade, o próprio eu é efeito da repetição da palavra “eu” (lembremos que os enunciados são contraditórios e não se referem a uma personagem coesa), e tudo o que ele faz ou diz soa como expressão dessa subjetividade que, pelo contrário, é construída pelos gestos e falas. Assim, “eu me expressei através dos movimentos” e “dos meus atos”, bem como “da minha inatividade”, e finalmente “eu me desmascarei em cada um dos meus atos”, isto é, “eu demonstrei em cada um dos meus atos o respeito ou desprezo às regras”.
Apresentada no teatro, essa lógica ganha mais uma camada de leitura possível. Assim como em Afrontando o público todo direcionamento ao espectador revela um juízo sobre ele, em Acusando a si mesmo toda construção cênica de um Eu enunciador impõe a ele o lugar de réu, de infrator, ao menos em potencial. Num palco-tribunal (imagem recorrente do teatro político) não pode haver inocentes.
Predizendo o futuro reduz a função comunicativa da linguagem à pura tautologia. O que é comunicado em “o amanhã virá tão certo como o amanhã”? A rigor, nada além daquilo que a própria forma diz: que uma coisa é e será essa coisa, que A = A, que o mundo é como ele é. O que parece nos confinar a um princípio de imobilismo e conformidade. E não seria esse outro contratempo de um teatro político preocupado demais em retratar o funcionamento do mundo? O princípio realista a que a maior parte das obras engajadas obedece não corre o risco de apenas reafirmar e repetir o que todos (espectadores e artistas) já sabem sobre o terrível estado de coisas, servindo mais para prender-nos a ele do que para nos libertar de suas amarras?
Quando, porém, lemos em Handke frases como “a realidade se tornará realidade” e “a verdade se tornará verdade”, podemos ouvir ressoar em seu tom poético e profético justamente o oposto dessa pura identidade que elas pareciam querer comunicar: se a realidade se tornará realidade, é porque ela ainda não é de fato real; se a verdade se tornará verdade, é porque a verdade hoje é mentira. Como no verdadeiro pensamento dialético, é a contradição que move. Mas sem uma linguagem capaz de exprimir essa contradição no que ela tem de menos evidente, ou seja, sem uma enunciação estética que torne sensível a contradição como contradição, ela pode ser facilmente reduzida ao hábito do conhecimento estéril, ainda que correto.
Chamando por socorro tira o conteúdo de pedaços de falas cotidianas, tornadas meros meios sonoros para um tentar dizer. Não dizer outro conteúdo, e sim estabelecer uma relação, uma forma de contato: socorro ou ajuda. Mais uma vez proponho ler a peça também como comentário sobre o próprio teatro, e sobretudo o teatro político: toda sua pretensão – de representar, compreender, julgar, criticar, ensinar, libertar, despertar, enfim, de operar – talvez esconda o mero desejo de encontro, e portanto também a falta real desse encontro.
Falta que sua operação crítica só faz reforçar: não há contato real possível num teatro que se coloca como um tribunal onde todos são julgados e como uma escola onde o artista deve ensinar algo para o espectador. Mas quando os oradores encontram a palavra “socorro”, já não precisam dela. A busca por ajuda era idêntica à busca pela linguagem que permite exprimir a busca por ajuda. Quando as “peças de fala” encenam o funcionamento habitual da linguagem, ele é suspenso, torna-se inoperante.
Saber calar
O que acontece quando os procedimentos dramatúrgicos de Handke, fundamentados na reflexão crítica sobre a linguagem, são transpostos para a criação de duas peças sem nenhuma fala? “Não contes a ninguém o que viste; fica-te pela imagem”, diz a epígrafe da segunda delas, atribuída às “palavras do oráculo de Dodona” (provavelmente inventadas por ele mesmo).[15]
Pode parecer que o autor, tendo enfrentado o efeito coercitivo da linguagem nas “peças de fala”, encontraria uma solução na mudez, na “certeza sensível” sem mediações (para falar com Hegel). Ou que ele seguisse outra célebre fórmula de Wittgenstein: “Daquilo que não se pode falar deve-se calar” (contrariada por Adorno, que via antes a necessidade de “dizer o que não pode ser dito”[16]). As imagens propostas nos oferecem, porém, mais do que isso.
Para Jean-Pierre Sarrazac, a forma estética do drama clássico consistiria basicamente em “variações necessárias sobre um único tema: o confronto entre o mestre e o escravo”, uma “retórica do diálogo destinada a fazer com que o adversário se renda – ou melhor: obrigá-lo a conformar-se, a aprovar o seu próprio destino e, se necessário for, a aprovar a sua própria destruição”; o teatrólogo – analisando o “drama moderno e contemporâneo” (posteriormente contra o “pós-dramático”) – sugere o abandono dessa dialética pelas obras recentes.[17]
Ora, O pupilo quer ser tutor, escrita por Handke ainda no final dos anos 60, parece fazer o inverso: abandonar o drama e o diálogo para manter a dialética. O texto da peça traz apenas minuciosas descrições de cena, construindo a relação entre duas figuras que habitam uma fazenda, as duas personagens referidas no título (uma citação de A Tempestade de Shakespeare). É notável que, reduzida às rubricas, a peça acabe dando a essas um papel mais do que meramente indicativo, criando comentários cuja transposição para uma cena muda não seria óbvia: “O Pupilo come a maçã como se ninguém olhasse (quando se observa, as maçãs são comidas de modo bastante afetado)”, ou: “Pode-se distinguir na forma de comer do Pupilo que ele é um subordinado? De fato não”.[18]
Na verdade, as didascálias aqui descrevem menos o que se passa em cena do que o percurso (imaginado) do olhar do espectador, transformado em câmera: “Como olhávamos com tanta atenção, quase não vimos que a figura já terminou de comer a maçã”. A entrada do Tutor (cuja função se vê pela aparência descrita) interrompe a naturalidade da ação do Pupilo, sem que nada seja dito: apenas o olhar fixo e demorado do primeiro é suficiente para desacelerar e em seguida interromper o ato de comer. E então a luz se apaga e termina a primeira cena. Serão dez no total, sempre seguindo essa revelação gestual dos desdobramentos da relação, sejam eles atos de submissão ou de revolta. Mesmo sem palavras, um olhar ou um modo de segurar um jornal é suficiente para estabelecer uma linguagem, isto é, a coerção dos códigos (e os códigos da coerção).
Nem sempre, porém, esse idioma se faz legível para o espectador, gerando uma atmosfera enigmática: sabemos que há uma relação hierárquica, mas não qual sua natureza exata (chefe e empregado, professor e aluno, talvez pai e filho?) e nem tudo o que ela permite e o que ela proíbe, o que ela exige e o que ela deixa passar. Por isso, também não podemos diferenciar inequivocamente submissão e revolta.
Ainda por cima, nossa dificuldade de ler pode se transformar no impulso de ler ainda mais, de encarar cada pequeno elemento da cena como simbólico, como nota Hern: “Será que a maçã, digamos, tem algum significado extra além de sua maçãzice? Talvez ela represente a comida em geral”, e então o olhar do Tutor designaria uma “sanção moral” que diz: “Não comerás até que tiveres trabalhado”; ou então, “mais genericamente, ao comer a maçã, sentado sob o sol, fazendo nada, o inferior pode esquecer seu status de inferior até ser grosseiramente lembrado dele pela chegada de seu superior”.[19]
No entanto, a abstração e a ausência de uma chave que esclareça de uma vez por todas a ação são inevitáveis. No penúltimo quadro, o Tutor ensina o Pupilo a operar uma máquina de cortar beterrabas. No último, vemos apenas o Pupilo despejando areia em uma banheira com água. Entre as duas, o palco escuro e o barulho da máquina, em seguida o som de uma respiração e o silêncio. O que aconteceu? Sem o auxílio da linguagem verbal, a peça devolve a estranheza para a dialética hegeliana do senhor e do escravo, permitindo-nos voltar a ter a experiência, naquilo que ela tem de necessariamente desconcertante, de algo que julgávamos já conhecer.
Esse procedimento de apresentar na peça apenas uma longa rubrica será repetido e radicalizado vários anos depois em A hora em que não sabíamos nada uns dos outros, de 1992. A indicação inicial pede “uma dúzia de atores e amadores”, mas eles se multiplicarão em inúmeras figuras que habitarão a cena, a qual representa (ou é, como na montagem paulistana no Parque da Luz pela Cia. Elevador de Teatro Panorâmico) “uma praça aberta, numa luz clara”.
Os primeiros eventos já dão o tom de tudo o que virá: “A ação começa com alguém que atravessa a praça a correr. Depois, vinda do lado oposto, mais uma pessoa, igualmente apressada. Depois, cruzam-se duas pessoas, também em passo rápido, cada uma delas seguida, na diagonal e a uma pequena distância que se mantém, por uma terceira e uma quarta. Pausa”.
Todo o resto serão variações: esses passantes têm seus movimentos e gestos detalhados, ganham gênero, traços e caracteres, figurinos e objetos, atitudes e intenções. Suas entradas são entremeadas por acontecimentos independentes deles: “Um avião passa por cima, durante um, dois segundos; a sombra do avião?” e logo vemos “uma nuvem de pó; fumarada” ou ouvimos sons de pássaros. Klaus Kastberger observa que, sem uma narrativa que organize pessoas e ações, todos os elementos e acontecimentos da peça passam a ter igual valor, numa democracia absoluta.[20]
A partir dessa ideia, podemos ler a peça como uma exploração crítica da própria ideia de personagem, central no teatro dramático tradicional, onde aparece sempre a partir de uma organização hierárquica: há protagonistas e antagonistas, coadjuvantes e figurantes, e eventualmente algumas categorias intermediárias. Mas não aqui. Mesmo que entrem também figuras nomeadas e reconhecíveis, como o Papagueno (da Flauta mágica de Mozart), o Gato de Botas ou mesmo Chaplin, nem por isso elas têm mais relevo: “com o passar do tempo cada uma das figuras mais não é do que um simples passante, a caminho de algum lugar, balançando os braços, representando de uma maneira ou de outra este papel de transeunte”.
Sem hierarquia entre os sujeitos, e mesmo entre sujeitos e objetos, formas humanas e formas não-humanas, a própria ideia de personagem – cuja multiplicação a princípio poderia fazer parecer o elemento central de toda a peça – desmorona, sobrando apenas figuras.
Por vezes algo ameaça se estabelecer, algum evento, alguma cena, mas logo se dispersa. Um curioso momento parece se contrapor à igualdade geral: “Uma beldade que, a princípio só visível de costas, subitamente se volta para… mim!” Quem é esse “eu” que de repente fala, transformando toda a rubrica da peça em uma narrativa, (e, como nota um leitor atento, potencialmente até uma em primeira pessoa![21]), apenas para voltar a desaparecer? Também ele é qualquer um.
Mas o trecho demonstra perfeitamente como a democracia estabelecida na peça não se transmuta em indiferença: cada momento, ainda que igual a todos os demais, ou justamente por ser tão extraordinário quanto qualquer outro, pode trazer uma surpresa, uma singularidade (assim como para Benjamin cada segundo é a porta estreita por onde pode entrar o messias).[22]
De modo semelhante, uma só figura se destaca das outras: “o idiota da praça”. Ele imita os demais passantes, “beija o rastro dos seus pés”, sai rastejando de cena e volta a entrar “de forma fulminante”, para novamente observar e imitar os outros. Talvez ele nem seja um indivíduo, mas uma função desempenhada por vários: em dado momento entra “o idiota da praça de há pouco, ou outro”.
Ele integra grupos de passantes e no momento seguinte “já está outra vez sozinho e sai meio perdido”. Por fim, em sua última entrada, ele é renomeado: “o idiota, aliás chefe, aliás senhor da praça”; se pode sê-lo, mesmo dentro dessa democracia de sujeitos, objetos e acontecimentos, é porque ele traz em si mesmo essa indiferenciação, que agora não é mais vista como defeito, mas força, potência de se desprender de toda compreensão por demais fixa e encontrar o acontecimento singular.
Isso também pode esclarecer por que Hans-Thies Lehmann vê nessa obra o teatro como “uma busca por um espaço de inocência (…) o que não significa negar a culpa real, mas tornar reconhecível na arte uma possível esfera alternativa para além do encadeamento de culpa, punição e pecado”.[23] Desse modo, poderíamos ver na peça a contraimagem daquilo que líamos em Acusando a si mesmo: uma possibilidade de suspender ainda que por um instante a operação regular do entendimento, do juízo e da linguagem, colocando a experiência concreta no lugar dos esquemas abstratos e repetidos.
Sobre as duas peças supostamente mudas, Lehmann insiste que são “textos poéticos, de modo algum simplesmente indicações técnicas de encenação, elas são antes, mesmo que nada seja dito, ‘teatro da linguagem’ tanto quanto as outras”. O que significa que, se há uma revalorização da sensação, não se trata de experiência “imediata”, mas alcançada pelo trabalho exaustivo das palavras: é uma “inocência” depois e não antes da culpa, é sua negação determinada. Retornando a Wittgenstein e Adorno, talvez seja justamente sobre aquilo que já se pode falar que é preciso silenciar, sem virar as costas, para quem sabe encontrar e dizer aquilo que não se deixa dizer.
Saber ressoar
Para terminar, volto rapidamente ao fim dos anos 60, quando Handke escreveu quatro peças radiofônicas seguindo cada vez mais o impulso experimental de sua obra nos outros gêneros.[24] Vale lembrar que nos países de língua germânica e sobretudo na Alemanha o gênero da Hörspiel não é mero resquício da Era do Rádio, na qual surgiu e já passou definitivamente, como parece ser para nós. Lá, talvez mais que em qualquer outro lugar, produzem-se e consomem-se até hoje essas gravações sonoras, desde seriados de entretenimento até versões com maiores pretensões artísticas.
A primeira, chamada apenas Peça radiofônica, traz uma situação a princípio localizável: um interrogatório policial – tematizando de novo culpa e julgamento. Um “Questionador” (ao qual depois se somam outros) interroga o “Questionado”, que foi vítima de alguma violência. Mas aquilo que de início parece um diálogo logo revela sua inconsistência: as falas das duas partes nunca se encaixam. Sobretudo o Questionado passa a impressão de sempre desviar da tentativa do Questionador de obter uma resposta objetiva, seja sobre o acontecido, seja sobre algo muito mais banal (como se ele está sentado confortável ou se ele adoça o chá).
Aos poucos, vamos ganhando uma ideia do que pode ter acontecido: “O primeiro meio de me botar medo foram jogos de palavra”. O caráter linguístico do suposto crime vai ficando mais explícito: “Me perseguiram com palavras de tal modo que até no sono não encontrava a mim, mas às palavras: me perseguiram até dentro do sono com suas palavras”. Que o pronome “sie” usado para falar dos supostos criminosos soe, numa peça radiofônica, exatamente como “Sie”, usado para se referir formalmente ao receptor (o que tentei traduzir com o sujeito indeterminado), faz com que todas as agressões sejam lançadas ao mesmo tempo a terceiros indeterminados e aos próprios questionadores. Eventualmente essa identidade é reforçada com a pergunta: “Você olhou para os questionadores?” Entramos em um loop temporal: o interrogatório é a própria agressão que visa (sem sucesso, graças à resistência do Questionado) elucidar.
Já Peça radiofônica n.º 2 dilui mais a situação: ouvimos o canal de rádio de uma empresa de táxi (o que já propõe uma interessante reflexão sobre a situação da peça radiofônica), mas não surge daí nenhuma narrativa coesa. Pablo Gonçalo vê no texto as “imagens rápidas de uma flânerie metropolitana que ocorre entre o carro, o motorista, os passageiros, a rua e os transeuntes e captam o movimento de pessoas, os momentos e as sensações que reverberam entre a metrópole e seus habitantes”.[25]
Mas nas indicações de abertura do texto Handke insiste: “tentou-se não oferecer nenhuma topografia de uma cidade”; e, mais ainda, que “a intenção da peça é evitar tudo aquilo de que deveria tratar de acordo com seu modelo, o canal de rádio do táxi”. Por isso, ouvimos cenas em que os taxistas começam, sem motivo, a cantar em coro; ouvimos citações de filmes em inglês e monólogos “em tom de [teatro de] boulevard”.
O terceiro texto, Ruído de um ruído, apresenta simplesmente uma lista de barulhos entremeados pela palavra “pausa” repetida algumas vezes (entre uma e sete, sugerindo intervalos mais curtos ou longos, e às vezes até aparecendo uma vez e meia, isto é, uma vez inteira e em seguida apenas a primeira sílaba). O que mais chama a atenção na leitura da peça, porém, é que todos os sons descritos seriam com certeza dificílimos de distinguir numa gravação: “um pedaço de fígado cru cai no chão de pedra” ou “alguém passa a unha lentamente sobre uma folha de papel”.
Handke diz ser essa a sua favorita das quatro, porque leva às últimas consequências a redução do texto a indicações de sons sem encadeamento lógico, abrindo mão de oferecer qualquer significado ao ouvinte; o próprio diretor da gravação, Heinz von Cramer, relata sua perplexidade: “Fiz exatamente como estava escrito, mas para mim não surgiu nada de novo, nenhum novo campo de tensão”.[26]
Finalmente, Vento e mar (que também empresta o título para o conjunto publicado das quatro peças radiofônicas) resume a passagem da linguagem ao puro ruído, ao indicar o que deve ser ouvido minuto a minuto, num total de apenas onze. No início, duas crianças falam, mas sem relação uma com a outra. Em seguida, reforçando que não se trata de um diálogo, cada uma repete o que acabara de dizer. Depois disso ouviremos apenas vozes distantes, sobrepostas e entrecortadas, sem falas definidas ou apenas palavras soltas.
Os efeitos sonoros, aparecendo esparsamente no começo, vão ganhando protagonismo: do bater de asas de um pássaro (minuto 1), passamos a ouvir uma respiração (minutos 2 a 5), e finalmente o vento (a partir do minuto 5, somando-se à respiração a princípio, depois cada vez mais alto, uivando). Surge um escorrer (minuto 6), um rumorejar e um rebentar (minuto 7), enquanto um alto-falante anuncia: “Atenção! Atenção! A Estação de Rennes está fechada” (o anúncio vai ficando mais baixo até desaparecer). No minuto 8, “é como se tivéssemos parado diante desses ruídos. Ouvimos os ruídos de vento e mar. Os ruídos ficam mais fortes.” No minuto 9, lê-se apenas “Vento e mar.” No minuto 10, novamente as mesmas palavras, em caixa alta: “VENTO E MAR.”. Por fim, no minuto 11, as palavras em caixa alta e numa letra bem maior do que tudo até então.
Gonçalo chama a atenção para como o conjunto de peças radiofônicas “despertam um gesto de escrita mais próximo da composição musical para sublimar, pelos sons, uma tradição dramatúrgica centrada prioritariamente nas palavras”. Essa ideia é reforçada pela última indicação de Peça radiofônica n.º 2, em que se ouviria (“na gravação original!”) o grito de John Lennon ao final de “Helter Skelter”: “I’ve got blisters on my fingers!”[“tenho bolhas nos meus dedos”], lembrando que acabamos de ouvir um show e não uma história. Por outro lado, lembro que essa partitura não dispõe de um código fixo e rigoroso como a música, abrindo espaço para notações que ganham valor poético e humor, como vimos.
Esses dois aspectos simultâneos, sonoro e verbal, são trabalhados não apenas numa busca por “reacender a química da imaginação no espectador, essencial para que ele consiga ver e colocar os fatos de uma história diante dos seus olhos”, como quer Gonçalo, mas numa constante perturbação dessa visualização, num nunca conseguir perfeitamente. Volta-se sempre para o ruído, que o senso comum entende apenas como som desagradável ou como aquilo que atrapalha a comunicação.
Mas o filósofo Martin Seel bem nos recorda que o ruído pode ser, muito mais, “um fenômeno fundamental de suspensão estética”, abrindo “o processo sensório perceptível de algo acontecendo sem um sentido claramente identificável do que está acontecendo”. Como diz Seel (sobre a escrita da também austríaca Elfriede Jelinek, grande admiradora e defensora de Handke), “o texto deriva em ruído”, tornando-se “uma imprecação contra o poder fatal de uma fala que enterra qualquer objeto concebível debaixo de si”.[27]
Apesar de sua polêmica contra a arte engajada, Handke sempre acreditou na potência do teatro e da literatura: já nos anos 60 ele dizia estar “convencido de poder transformar os outros através da minha literatura”, e isso “porque eu reconheci que eu podia transformar a mim mesmo através da literatura”, porque a “realidade da literatura” o tinha tornado mais “atento e crítico para a realidade real” (a começar por ele mesmo e suas imediações), e “porque eu não me considero já definitivo”. A literatura possibilitaria justamente “um quebrar de todas as imagens de mundo aparentemente definitivas”.
Mais recentemente, em conversas de 2012 e 2013 com o também dramaturgo Thomas Oberender, o autor retomou sua crítica a “certa linguagem” diante da qual ele pensaria: “agora eu morro de tanto horror”, na medida em que nela “sabem exatamente onde acontece algo, cheios de ódio”, isto é, “sabem exatamente onde estão os bons e onde estão os maus”. Talvez fosse antes, então, o caso de valorizar aquele momento em que não se sabe, como sugere o título de sua segunda peça muda. Tentar abrir mão do conhecimento habitual, que sustenta as atividades habituais.
Essa poderia ser uma potência política do estético, sem colocá-lo a serviço da política. Handke afirmou ter até mesmo um “credo”, que poderia ser “um programa político de hoje”: “que sejam feitas muito mais atividades inúteis”, pois “todas essas atividades úteis estão acabando com o mundo”.[28]
*Artur Kon, doutorando em Filosofia na USP, é autor de Da Teatrocracia: estética e política do teatro paulistano contemporâneo (Annablume).
Notas
[1]. Peter Handke. Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. In: Aufsätze I. Berlim: Suhrkamp, 2018. (Sempre que não indicado diferentemente, a tradução é nossa.)
[2]. Samir Signeu (org. e trad.). Peter Handke: Peças faladas. São Paulo: Perspectiva, 2015. Citarei as peças sempre a partir dessa tradução, mas modifico e corrijo onde necessário (mormente nos títulos das quatro peças), pois graves problemas tradutórios infelizmente prejudicam – sem inutilizar por completo, é claro – o importante trabalho de tornar essas obras disponíveis para o público brasileiro.
[3]. Peter Handke e Artur Joseph. Nauseated by Language: From an Interview with Peter Handke. In: The Drama Review, Vol. 15, No. 1, 1970.
[4]. Hern, Nicholas. Peter Handke: Theatre and Anti-theatre. Londres: Oswald Wolff, 1971. Tradução nossa.
[5]. Peter Handke e Thomas Oberender. Nebeneingang oder Haupteingang? Gespräche über 50 Jahre Schreiben fürs Theater. Berlim: Suhrkamp, 2014.
[6]. Explicitada na epígrafe de Ossip Mandelstam: “Onde começar?/ Tudo estala, se desloca e cambaleia/ O ar vibra de comparações/ Uma palavra não convém mais do que uma outra./ A terra zumbe de metáforas…”
[7]. Handke e Oberender, Nebeneingang…,op. cit.
[8]. Johannes Vanderath, Peter Handkes Publikumsbeschimpfung: Ende des aristotelischen Theaters? In: The German Quarterly, Vol. 43, No. 2, 1970.
[9]. Hern, Peter Handke…, op. cit.
[10]. Walter Benjamin. Passagens. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. Theodor W. Adorno, Teoria Estética. Tradução Artur Morão. São Paulo: Martins Fontes, 1982.
[11] Foi publicado em 1967 o volume A virada linguística (The linguistic turn), organizado por Richard Rorty, antologia de textos da tradição analítica parcialmente responsável pela popularização do termo.
[12]. Ver Terry Eagleton. Materialism. New Haven: Yale University Press, 2016 e Fredric Jameson. The prison-house of language: A critical account of Structuralism and Russian Formalism. Princeton: Princeton University Press, 1972.
[13]. Frequentemente citado a partir das análises de Jameson, mas sem sua perspicácia dialética, que jamais se deixa reduzir a uma censura unívoca dos fenômenos culturais contemporâneos.
[14]. Defendida e empreendida, por exemplo, por Jean-Jacques Lecercle em A Marxist Philosophy of Language. Leiden: Brill, 2006. A importância que ele confere ao projeto é visível na avaliação de que “as recentes e espetaculares derrotas do movimento dos trabalhadores em escala mundial se deveram em não pouca medida ao fato de que a classe inimiga sempre venceu a batalha da linguagem e o movimento dos trabalhadores sempre negligenciou esse terreno”.
[15]. Peter Handke. A hora em que não sabíamos nada uns dos outros. Tradução e introdução de João Barrento. Disponível em: http://cinfo.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C26/D3F3.pdf.
[16] Theodor Adorno. Dialética negativa. Tradução Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
[17]. Jean-Pierre Sarrazac. O futuro do drama: Escritas dramáticas contemporâneas. Tradução de Alexandra Moreira da Silva.Lisboa: Campo das Letras, 2002. É claro que um rápido olhar por alguns dos dramaturgos centrais do século XX e XXI – de Brecht e Beckett a Heiner Müller e Elfriede Jelinek, passando por Arrabal e Harold Pinter – bastará para refutar essa ideia do francês.
[18]. Peter Handke. Der Mündel will Vormund sein. In: Theaterstücke I. Berlim: Suhrkamp, 2018.
[19]. Hern, Peter Handke…,op. cit.
[20]. Klaus Kastberger. Lesen und Schreiben: Peter Handkes Theater als Text. In: Kastberger e Katharina Pektor (org.). Die Arbeit des Zuschauers: Peter Handke und das Theater. Viena: Jung und Jung, 2012.
[21]. Karl Katschthaler. Zum Schweigen bringen: Peter Handkes Die Stunde, da wir nichts voneinander wußten im Kontext von Ästhetiken der Abwesenheit. In: Attila Bombitz e Katharina Pektor. „Das Wort sei gewagt“: ein Symposium zum Werk von Peter Handke. Viena: Praesens, 2019.
[22]. Walter Benjamin. Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987.
[23]. Hans-Thies Lehmann. Peter Handkes postdramatische Poetiken. In: Kastberger e Pektor, op. cit..
[24]. Peter Handke. Wind und Meer: Vier Hörspiele. In: Theaterstücke I. Berlim: Suhrkamp, 2018.
[25]. Pablo Gonçalo Pires de Campos Martins. Estilhaços da Frase Fílmica: a dramaturgia intermedial de Peter Handke. Revista Brasileira de Estudos da Presença, v. 7, n. 2, Porto Alegre, maio/agosto de 2017.
[26]. Ambos citados em http://handkeonline.onb.ac.at/node/1547.
[27]. Martin Seel. “Standstills in Motion: Cinema and Elsewhere”. In: Reinhold Görling, Barbara Gronau e Ludger Schwarte (eds.) Aesthetics of Standstill. Berlim: Sternberg Press, 2019, e id. Estética del aparecer. Tradução Sebastián Pereira Restrepo. Madri: Katz, 2010.
[28]. Peter Handke. Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, op. cit. e Peter Handke e Thomas Oberender. Nebeneingang oder Haupteingang?, op. cit.