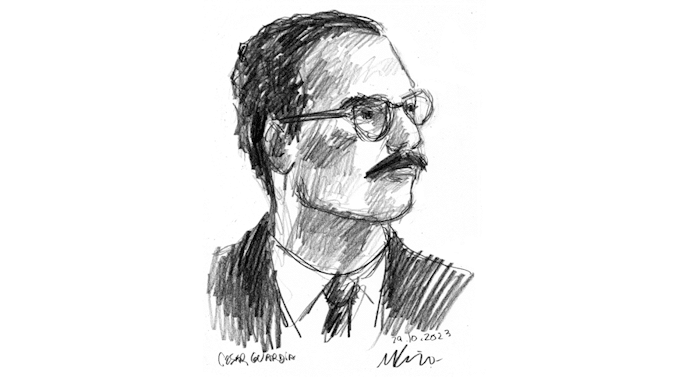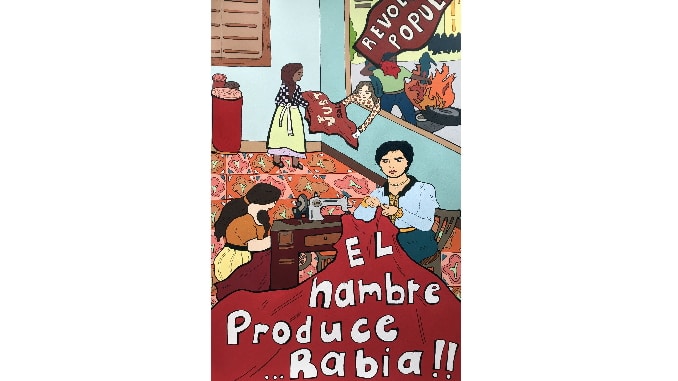Por FABIO LUIS BARBOSA DOS SANTOS*
É preciso exercitar a imaginação teórica e prática para além das fronteiras da crise, para que voltemos a enxergar o fim do capitalismo, antes do fim do mundo
“Não é porque você não enxerga o que acontece na sua frente, que não está acontecendo”
(minha vó)
Como muitos, entendo que a pandemia exacerba o existente. E assim, coloca uma oportunidade para ver e pensar sobre onde estamos, como chegamos aqui, e para onde vamos.
Entendo que vivemos uma espécie de ensaio geral do fim do mundo: um fim do mundo no sentido biológico do termo; ou um fim do mundo, tal como o conhecemos.
Analisarei alguns aspectos do que fica evidente aos nossos olhos. Inicialmente, discutirei porque Bolsonaro é um criminoso perfeito, no sentido de que tem assegurada sua impunidade. Em seguida, explorarei o sentido fundamental dos bolsonarismos que proliferam mundo afora. Por fim, comentarei o cálculo bolsonarista e as perspectivas abertas e fechadas para o futuro próximo.
1.
Quem define o que é crime e o que não é crime? E quem define a hierarquia entre os crimes? Leio Pinoquio para as minhas filhas na pandemia. Na história, ele é preso por roubar dois cachos de uva porque estava com fome – e se arrepende. Porque na Itália do final do XIX, em que pessoas passavam fome, a propriedade privada está na frente da vida.
Em outra passagem, quando o pai Gepeto está morrendo e precisa de um copo de leite, o fazendeiro diz a Pinoquio: cadê as moedas? Como o boneco não tem, tem que tirar cem baldes de água de um poço, para ter um copo de leite. Vemos um mundo de “sujeitos monetários sem dinheiro”: é preciso dinheiro, para conseguir qualquer coisa.
Na Itália do Pinóquio, há uma clara hierarquia no direito: a propriedade privada antes da fome; o dinheiro antes da vida. Esta hierarquia é reafirmada em uma história publicada em capítulos em jornais da época – eram as nossas “séries” de hoje
Quem define esta hierarquia? Uma hierarquia tem a ver com valores, que expressam relações de poder. Esses valores são parte de uma ideologia, no sentido de que expressam uma determinada visão de classe, ou seja: o interesse de uma parte (da classe que tem o poder), é tomada como o interesse do todo. O modo como estes interesses se impõem, é a chamada luta de classes.
Vejam: o que define Hitler como um criminoso e não um herói, é o fato de que ele perdeu a guerra. A história não é só escrita, mas é moldada pelos vencedores. No documentário “Sob a névoa da guerra” com Robert McNamara, este alto funcionário do Estado americano reconhece que as bombas incendiárias jogadas no Japão sobre casas de madeira incinerando cidades inteiras, foram crimes contra a humanidade. Se tivesse perdido, teria sentado em Nuremberg.
O ponto ao qual quero chegar, é que Bolsonaro é um Hitler periférico, sem indústria e sem exército. É um Hitler no sentido de que pratica uma política potencialmente genocida e suicida: ele é o nazismo, com outros meios – com meios periféricos.
Falo em genocídio e suicídio, porque é esse o sentido fundamental da sua política na pandemia, noves fora a perversão, sobre a qual falarei adiante. É uma política que mergulha o país de cabeça na peste, em lugar de tentar construir alguma espécie de arca diante do dilúvio social e econômico. E faz isso deliberadamente, como resultante de um cálculo político.
E no entanto, Bolsonaro e seu governo não são percebidos como tal: ele não vai para Nuremberg. Por que? Porque ele mata, mas com outros meios. E na nossa sociedade, matar com armas é ilegal (se você não é militar), mas matar economicamente, não é.
Pensemos no Pinóquio, no século XXI: quem define que a coca-cola é legal e a cannabis não é? Quem define que fazer sexo com menor não pode, mas publicidade infantil pode? Por que receber juros sobre dinheiro emprestado, é legal? Mas receber dinheiro do outro apontando um revólver, não é? Vocês dirão que empréstimo é uma escolha, mas eu pergunto se, de fato, vocês acham que quem pega empréstimo, escolhe?
Esclareço que não defendo o assalto à mão armada. O meu ponto é que a definição do que é violência, do que é crime e do que é justo, é socialmente construída. E a arquitetura do que é violento, legal e justo no capitalismo contemporâneo contradiz a vida, o que tem três expressões globais dramáticas na atualidade: as bombas atômicas, a questão ecológica e as pandemias.
Bolsonaro é a caricatura dessa contradição entre capitalismo e vida: uma caricatura porque nele, estes traços ficam mais evidentes, pois estão mais exagerados. Entretanto, estão dentro do jogo. O presidente é a versão radical da necropolítica, um poder de morte exercido, mas por meios indiretos. Se no feudalismo a coerção econômica era indireta e o castigo com a morte era visível (a forca), no capitalismo a coerção econômica é direta, e a morte é invisível. Em Bolsonaro, a morte econômica, a indiferença social, a perversão política e o obscurantismo ideológico, são levados ao paroxismo: mas ele não vai para Nuremberg, porque é uma versão exagerada, do normal. Mais do que matar, ele deixa morrer. E daí? Afinal, não tem crime aí.
Ou dizendo com mais precisão: se entendermos o atentado deliberado à vida como um crime, então tem muito crime aí, mas não são percebidos como tal. Hitler confinou os judeus em campos de concentração, um crime. Bolsonaro incita o seu país a se desconfinar, o que na prática, os expõem à morte. Por que isso não é um crime?
Os de cima no Brasil, só não morrem por desobediência civil. Mas também porque tem os meios para a desobediência civil. Então se morrem, é por recalcitrância. Como disse Paulo Guedes: “Deixa cada um se foder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário”.
Que este escandaloso fosso tenha a complacência dos de cima e dos de baixo, é um termômetro da corrosão do nosso tecido social: os de cima se lixam com os de baixo, e os de baixo, não esperam outra coisa dos de cima.
Eu diria que o sentido mais profundo dos bolsonarismos mundo afora é este: aprofundar esta violência invisível, ou esta normalização da violência por outros meios. O que eu chamarei de naturalizar a barbárie.
Voltemos um passo: quem define o que é violência? Quem define o que é crime? Por que despedir um pai ou uma mãe e condenar suas famílias à fome, não é visto como uma violência? Ou por que esta violência, é consentida? Mas se essa mesma família ocupar uma terra ou uma casa vazia, serão criminosos? Porque despejar pode, mas ocupar não pode, se o direito à vida vem primeiro?
Por que a mais-valia, que significa simplesmente se apropriar do trabalho do outro sem pagar, não é crime? Mas usurpar propriedade privada, é? Por que pode matar de um jeito, mas não de outro? Roubar de um jeito, mas não de outro? Mentir de um jeito, mas não de outro?
2.
O meu segundo ponto é que a contemporaneidade é marcada por uma contradição fundamental objetiva e outra subjetiva. Ambas têm raiz no mundo projetado pelo iluminismo, que tinha como ideal uma cidadania salarial.
A contradição objetiva é um mundo em que a capacidade produtiva é maior do que nunca, portanto é preciso cada vez menos trabalho para prover as condições de vida. E no entanto, o trabalho é cada vez mais escasso e aqueles que trabalham, o fazem com intensidade cada vez maior. Do ponto de vista popular, esta contradição se expressa em uma esquerda que se organiza para lutar em torno do trabalho, em uma realidade em que o trabalho pode (e deve) ser superado.
Não detalharei esta contradição, que está na raiz da crise estrutural do capitalismo desde os anos 1970. Ao invés, examinarei a contradição subjetiva, que também vem do iluminismo: ao mesmo tempo em que se avançou no sentido de reconhecer a igualdade entre as pessoas e o direito à vida como valores universais, somos todos confrontados com um cotidiano que contradiz estes preceitos. Nesse sentido, me parece um ato falho feliz quando o PCC leu um comunicado na TV lá no começo da sua existência, e a pessoa que o fez, leu “iluminismo” como “ilusionismo”: no cotidiano dos brasileiros, os valores universais do iluminismo são uma “ilusão real”, ou uma ideologia.
Concretamente, isso quer dizer que se perguntarmos a qualquer um o que vem antes, o dinheiro ou a vida, a resposta será a vida. A vida se afirmou como um valor universal. Mas a prática não é essa. Assim, vive-se uma cisão seminal entre valores e prática.
Esta realidade tem muitos efeitos psicossociais. Por exemplo, as pessoas erguem diversos tipos de “defesa” (no sentido psicológico do termo) contra o que lhes machuca a humanidade, para sobreviverem. Estas defesas formam uma camada de indiferença necessária para navegar na cidade e no trabalho. Senão, como faço eu para dormir 3ª feira no maior frio, tendo encontrado um homem machucado enrolado em panos dormindo na minha rua?
Todo dia, nós encontramos seres enrolados em panos nas ruas frias das nossas vidas. E somos compelidos a seguir em frente, formando defesas.
O paradoxo é que há um elemento de saúde nessas defesas: enquanto precisamos delas, é porque há pulsão de vida contrária à indiferença. Nós sobrevivemos aos seres nas ruas frias, mas o desconforto e a inquietação estão lá. A barbárie não está naturalizada
Um dos dramas da política atual é a pretensão dos interesses representados pelos Bolsonaros deste mundo, de mexer nos valores. O xis da questão não é proibir sindicato, partido e manifestação (embora isso possa eventualmente acontecer), mas modificar as condições em que as pessoas consideram legítimo se manifestar, e se rebelar: em outras palavras, gerar um novo normal
Nesse percurso, Bolsonaro tem um método. Ele testa, e se não tiver reação, avança; se a reação é forte, desmente. Como o personagem Bolsonaro é uma glosa entre o político que é, e o tio de boteco que também é, não há compromisso com a verdade. Como político, as pessoas dão desconto quando falta com a verdade, e como tio do boteco, pode dizer qualquer bobagem. Ainda assim, se comunica com o povo que desconfia da TV e de Brasília, com toda razão. Como não ter compromisso com a verdade faz parte da sua política de tio do boteco, ele recua sem remorso e sem prejuízo entre os fiéis. Isso ainda lhe dá uma aura de autenticidade, enquanto os que lhe enfrentam são associados à política convencional, percebida acertadamente como mentirosa.
Neste sentido, entendo que Bolsonaro é literalmente um bandeirante do século XXI: é o capitão do mato abrindo à facão, as picadas por onde passará o progresso dos paulistas. Daí o apoio complacente dos de cima. É uma complacência análoga à de um Churchill diante de um Hitler que prometia extirpar a União Soviética e o comunismo. Deixaram o nazismo seguir sua picada, até que ficou claro que a carta do “War” que os alemães tinham, era dominar o mundo. Então, negociaram com os soviéticos uma partilha mais razoável, como base de uma coexistência pacífica em um mundo em que a violência se deslocou para a periferia – “Guerra Fria” só pode ser um termo eurocêntrico.
O que o nosso bandeirante nazista do século XXI faz, ainda que de modo imprevisível, porque largamente intuitivo (daí que Juca Kfouri o compare a Garrincha, pedindo desculpas pela ofensa), é expandir o horizonte aspiracional da sua base. Ele vai queimando a fina camada de sociedade civil brasileira, aprofundando a dinâmica autofágica dos negócios.
Para dar um exemplo. A nomeação de Sergio Moro como ministro foi um escândalo, segundo qualquer parâmetro republicano – algo que pessoas fora do Brasil, não compreendem. Pouco depois, vieram à tona provas irrefutáveis do conluio de Moro com os que acusavam Lula. Quando Bolsonaro se deu conta de que seu governo atravessava mais esse escândalo incólume, ficou claro que jamais cairá por questões éticas. O presidente continua queimando nossa fina camada de civilidade, e avançou mais uma casinha, reivindicando o fechamento do congresso.
Faço um parêntesis para propor um exercício. Imaginem por um instante que o PT no poder, nomeasse como ministro um juiz que prendeu seu rival; mantivesse esse juiz, apesar das provas de que fez isso; colocasse um lunático como chanceler e interferisse nas nomeações do Itamaraty, desrespeitando hierarquias; ensaiasse nomear o filho como embaixador nos EUA; tivesse filhos envolvidos com milicianos e admitisse publicamente que precisa defendê-los da Polícia Federal; imaginem Lula comprando briga com toda a imprensa; ameaçando fechar o STF; aparelhando a polícia federal; dizendo que fechará o congresso; ou simplesmente, imaginem o presidente falando as ignorâncias que Bolsonaro diz, de modo chulo, violento e cheio de palavrões.
Estes dois pesos e duas medidas, que todo brasileiro intuitivamente sabe que existem, significam que Bolsonaro tem o aval dos de cima, enquanto sua sandice se harmonizar com a agenda econômica da burguesia. Ele tem sinal verde para queimar mato e abrir picada, porque está abrindo picada na direção correta.
O que a pandemia também evidencia é que os sujeitos monetários com dinheiro (a nossa burguesia), consideram Bolsonaro no máximo, desagradável, como disse Marine Le Pen. Isso porque a violência do militar é no fundo, apenas uma outra face da sua violência de classe.
O raciocínio dos ricos foi explicado por Paulo Guedes, quando justificou sua adesão na campanha eleitoral: “Todo mundo aí trabalhou para o Aécio, ladrão, maconheiro. Trabalhou para o Temer, ladrão. Trabalhou pro Sarney, ladrão e mau-caráter que aparelhou o Brasil inteiro. Aí chega um sujeito completamente tosco, bruto, e consegue voto como o Lula conseguiu. A elite brasileira, em vez de entender e falar assim, pô, nós temos a oportunidade de mudar a política brasileira para melhor […]. Ah, mas ele xinga isso, xinga aquilo… Amansa o cara!”. Perguntado se era possível amansar Bolsonaro, sentenciou: “Acho que sim, já é outro animal”. Domesticar a fera em prol de seus interesses de classe, eis a aposta dos de cima.
No governo Bolsonaro, configurou-se uma espécie de divisão do trabalho. O militar oferece a moldura do novo neoliberalismo, em que as violências política e econômica se agudizam: esta moldura é o estado policial. A economia, ele terceiriza para Paulo Guedes, para o agronegócio, para a saúde privada e assim por diante.
Então qual a diferença fundamental entre o governo Bolsonaro e o anterior? Críticos dos governos petistas como eu, dizemos que o progressismo sul-americano fez a gestão da crise. Uma coisa que a reunião ministerial de abril revelada em vídeo mostrou, é que Bolsonaro não está aí para fazer gestão alguma: ele governa por meio da crise.
Constata-se no vídeo que há dois tipos de quadros no governo. Aqueles que se aproveitam da fera para avançar sua agenda, como é o caso de Guedes, quem se vê como Mefisto, acreditando que manipula Bolsonaro para objetivos próprios. E os quadros ideológicos que estão lá, como disse meu colega Abraham Weintraub, “para lutar”.
Assistindo aquela reunião, observa-se não apenas que a pandemia não apareceu – ou apareceu somente como oportunidade para fazer a boiada passar na Amazônia, como disse o ministro Salles. Mas em uma reunião de alto escalão para apresentar um plano socioeconômico, o presidente só abriu a boca para cobrar militância incondicional e ação política dos seus subordinados. Ou seja, ele preside o país no mesmo modo de operar como se construiu na política: jogando gasolina no incêndio, aos berros.
Imaginem se o PT governasse assim: nenhuma gestão, só ideologia?
O que Bolsonaro faz, na forma como no conteúdo, é dilatar os limites do aceitável. É tornar possível, o impossível – o que paradoxalmente, sempre foi um lema da esquerda. Daí o mundo de cabeça para baixo que vivemos: a subversão da ordem virou uma política da direita, enquanto a esquerda, defende esta ordem.
3.
Disso decorre uma terceira constatação na pandemia: a esquerda institucional não é uma alternativa de mudança, na medida em que não raciocina e nem age segundo uma lógica fundamentalmente diferente.
O que eu quero dizer como isso? Para ficarmos no caso brasileiro: assim como Bolsonaro, o PT aborda a crise da pandemia como uma oportunidade, e calcula a melhor maneira de aproveitá-la. É claro que aquilo que o PT identifica como oportunidade, é muito diferente do que Bolsonaro. Mas a racionalidade é idêntica: é a lógica do cálculo político. Todos calculam, embora se tratem de cálculos envolvendo variáveis diferentes.
Qual é o cálculo de Bolsonaro? O presidente assume que a crise tem duas dimensões, sanitária e econômica. Sua aposta é que os efeitos da crise econômica serão mais sentidos pelo povo. O discurso contra o isolamento horizontal dialoga com quem morre de fome, não de covid. Bolsonaro presume, corretamente, que os trabalhadores querem trabalhar: falei com pouca gente ultimamente, mas entre os trabalhadores com quem conversei, ouvi várias críticas ao governador, que defende o isolamento, em defesa de Bolsonaro.
Evidentemente, o outro lado desta política é a certeza de que o estado brasileiro jamais assistirá os trabalhadores como na Europa: ao contrário, medidas provisórias facilitaram reduções salariais e demissões. O fundamentalismo neoliberal do ministro Paulo Guedes, é o ponto de apoio do cálculo político de Bolsonaro.
Fundamentalismo aqui, não é figura de imagem. Observem que na reunião de abril, o próprio diretor do Banco Central desancou a fala de Guedes, que propõe atrair um investimento privado que não virá, para tirar o país da crise. A orientação do governo desafia a própria racionalidade capitalista diante da crise – afinal, os Estados europeus confinam e pagam salários aos trabalhadores não por caridade, mas para minimizar seus efeitos. Como dizia Keynes, trata-se de salvar o capitalismo dos capitalistas. A resposta brasileira vai na linha de facilitar o desmatamento, demissões e reestruturações: em síntese, de intensificar a acumulação por espoliação.
Evidentemente, o cálculo bolsonarista é cínico e perverso, colocando em risco milhões de vidas. Mas como é percebido assim (como um cálculo), não é um crime. No fundo, passa como uma alternativa aceitável em um mundo em que, a despeito do ilusionismo iluminista, a vida está subordinada ao mercado; a verdade é escrita pelo interesse de classe; e o crime é definido pelos vencedores da política – e no caso, os vencedores são a classe do capital.
No outro lado da mesma moeda, observamos o PT calculando que era melhor não militar pelo impeachment. Em entrevista no começo de março na Europa, Lula era contra o impeachment de Bolsonaro, “a não ser que ele cometa um ato de insanidade, cometa um crime de responsabilidade”. Um mês depois, a pergunta que fica para Lula é: defina insanidade, e responsabilidade.
No começo de abril, havia mais de vinte processos protocolados na Câmara dos Deputados, nenhum deles pelo PT. O partido resolveu entrar na campanha pressionado por sua base, e só o fez no momento em que o impeachment era carta fora do baralho de Brasília. Recentemente, o presidente que defendeu acordo com Judas se ele tivesse voto, se recusou a assinar manifestos, alegando que seriam endossados por gente que apoiou o impeachment. Não discuto a decisão de Lula, mas é duvidoso o argumento: certamente, aí tem cálculo mais do que princípios.
4.
Entretanto, em uma realidade em que os principais inimigos de Bolsonaro são Sergio Moro, João Doria e Witzel, parece que a esquerda perde relevância. FHC ainda é ouvido pelos conservadores, mas poucos perguntam a Lula, o que ele pensa da situação.
Então o drama não é olhar para o PT, mas para o nosso povo, e constatar como a pandemia escancara um país cindido. É certo que isso não é uma novidade no sentido socioeconômico, que Florestan Fernandes descreveu como um “apartheid social”. Mas constata-se uma cisão também no sentido da formação das referências culturais, políticas e simbólicas. Observamos o país do centro – que bate panela ou não, e a periferia que tenta sobreviver, onde as panelas têm escasso eco.
Diante desta realidade, destaco dois aspectos em que se apoia a política de Bolsonaro. Em primeiro lugar, o que eu descreveria como uma relação haitiana do povo, com o Estado. Assim como ocorreu depois do terremoto na ilha, aqui ninguém espera amparo do governo. Não passa pela cabeça das pessoas que o Estado brasileiro se responsabilize financeiramente por manter os trabalhadores em casa na pandemia.
Saliento que este é um limite sociopolítico e não econômico: o xis da questão não é que faltam os recursos, mas que um Estado de origem escravocrata não pode amparar a população, ou colocaria em risco a disciplina do trabalho. No mundo do trabalho, funciona a mesma lógica da prisão: as condições de vida de quem fica em casa, nunca podem ser melhores do que as de quem está preso. Afinal, as pessoas só trabalham por coerção econômica. Se os brasileiros descobrem que o Estado pode ampará-los, quem segurará a senzala?
Um segundo ponto é o descrédito da política e das instituições, que incluem
a rede Globo. É este é o pano de fundo da autenticidade do presidente: em lugar das falsas promessas dos políticos de sempre, que pretendem conter a crise, Bolsonaro reconhece a crise. Ele admite a autofagia (uns contra os outros) e promete armar seus eleitores para que, como ele próprio faz, se defendam, atacando. Daí a sua “autenticidade”.
O discurso do presidente se dirige a esta população que não acredita no Dória, no Lula nem na Globo; que fareja certa autenticidade no presidente; não espera nada do Estado e se receber $600, continuará trabalhando. Bolsonaro dialoga com as alternativas que parecem abertas para a população trabalhadora. Em consonância com a sua lógica, o presidente não se propõe a conter a pandemia, mas defende a liberdade das pessoas trabalharem, ou seja: a liberdade da “viração” – das pessoas lutarem no mundo autofágico, pela sua sobrevivência.
Daí o abismo que observamos no Brasil atual. De um lado, a sociedade que tem caderneta de poupança, escandalizada com o primitivismo do presidente, que desafia a ciência e os bons costumes europeus, que agora incluem a quarentena. E a massa dos “viradores”, que vendem o almoço para pagar o jantar. O outro lado da abissal indiferença e cinismo dos de cima, é a falta de perspectiva dos de baixo, para além do heroísmo individual de matar um leão por dia diante da autofagia.
Neste contexto, um golpe de Estado parece improvável. Historicamente, o que motiva um golpe é a ameaça dos de baixo, que não está colocada no Brasil atual. Ao contrário, entendo que a fachada democrática é valiosa para este novo neoliberalismo. Diante da impotência dos de baixo, Bolsonaro pode até cair pela pequena política, que derrubou Dilma – sobretudo se a instabilidade que alimenta, comprometer os negócios. Ou se a miséria que manipula, virar rebeldia. Mas por enquanto, isso não está colocado. É preciso cuidado para não olhar a política do século XXI, com a gramática do século passado. Com três mil militares no governo, talvez o golpe já esteja dado.
5.
Sem pretensão de administrar a crise, Bolsonaro opera gerando crises – algumas verdadeiras, outras postiças – por meio das quais, ele navega. Daí o sentido da sua política, cristalino na reunião do vídeo: é uma luta contra qualquer coisa que se lhe oponha. É uma política também fetichizada, no sentido de que se realiza como um fim em si: não há projeto, não há futuro. Para Bolsonaro, a luta é um fim em si. Essa é a “minha luta”, dele.
Enquanto isso, a caravana passa, como Ricardo Sales explicou.
Contra tudo isso, resta o humanismo das pessoas que querem paz, não guerra. E a imaginação política, que é preciso recuperar. Como faríamos em um mundo sem dinheiro? O que eu faria se não precisasse trabalhar? Como funcionaria uma sociedade sem Estado? Como seria uma sociedade sem polícia?
É preciso exercitar a imaginação teórica e prática para além das fronteiras da crise, para que voltemos a enxergar o fim do capitalismo, antes do fim do mundo.
*Fabio Luis Barbosa dos Santos é professor da Unifesp. Autor, entre outros livros, de Uma história da onda progressista.