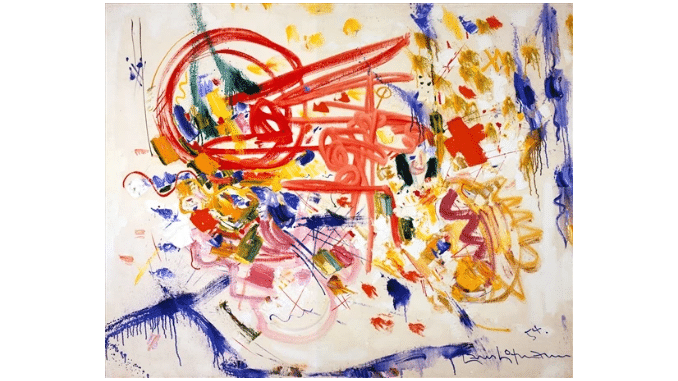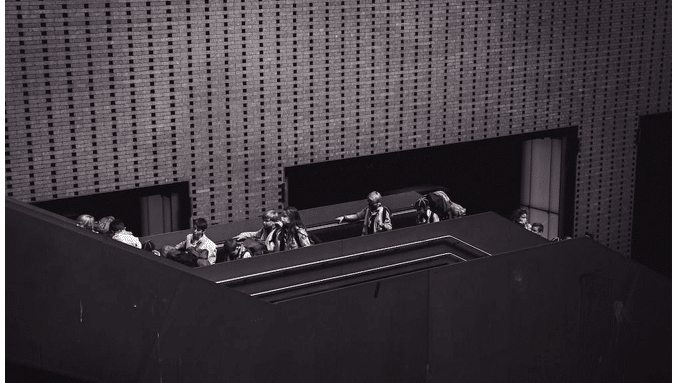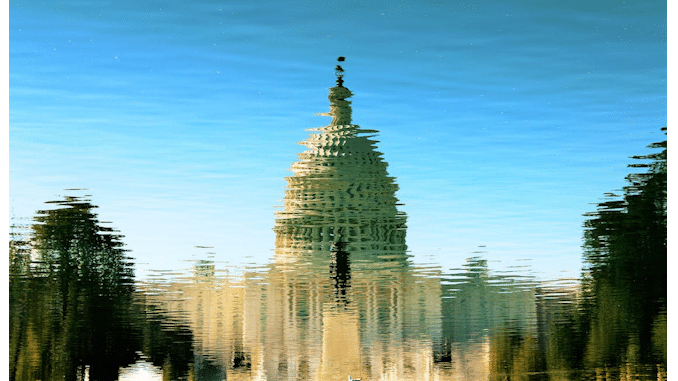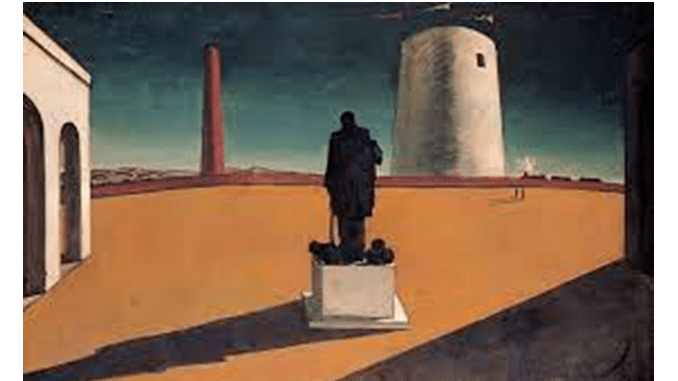Por ARLENICE ALMEIDA DA SILVA*
Comentário sobre o livro de Samuel Beckett
A partir do final da Primeira Guerra mundial surgem em obras e na reflexão estética os temas do mutismo e da impossibilidade de narrar. Nessa direção, com O inominável, de 1949, Beckett também encerra a sua trilogia do pós-guerra radicalizando os impasses narrativos assumidos em Molloy, de 1947 e Malone morre, de 1948, levando o romance moderno a um beco sem saída. Em entrevista de 1956, diz Beckett, “O inominável desemboca em uma desintegração completa: Nada de ‘eu’, nada de ‘ter’, nada de ‘ser’. Nada de nominativo, nada de acusativo, nada de verbo. Não há meio de ir adiante”.
O primeiro equívoco, contudo, seria afirmar que o assunto da obra é o “nada” alinhando-a, assim, às estéticas do silêncio ou do absurdo. Esta posição seria compreensível, pois o leitor depara-se com uma voz indefinida à qual não corresponde nenhuma determinação pronominal, tampouco enredo, personagens ou memória. Mas aqui, diferentemente, há uma voz esquiva e aflita que quer se safar, desacelerar, parar de falar, mas, num movimento circular irrefreável ou repõe as mesmas perguntas e suspeitas, ou recaí em grunhidos. Esse modo de enunciação parece indiciar o gesto cauteloso do narrador precavido, que, como nos romance anteriores, duplicava as personagens em busca de rastros de identidade.
Em O inominável – com Mohood e Worms – esta expectativa é definitivamente frustrada, pois a voz em desorganização não estabiliza nenhum referente. Não há acordo possível, portanto, entre obra e leitor: reduzida ao ato elementar da fala, a voz ora é apenas um olho que chora, ora um corpo em desmaterialização, voz-boca-buraco-olho-ovo-pote, que em virulência, brada: “bando de porcos, me fazem dizer sempre a mesma coisa”.
Beckett efetua, assim, uma das mais espantosas inflexões no romance. Se os artistas modernos sustentavam a autonomia da obra, rompendo com qualquer noção de imitação, posto que a palavra não indicava um suposto real, mas era o próprio real; em Beckett a palavra está sempre sob suspeita, pois a nomeação é imobilização: “catequese”. A linguagem não é abertura polissêmica para um campo de possíveis, mas é uma armadilha para capturar objetos, apossando-se deles. Ele assume os preceitos racionalistas como os de Hamann de que “sem a palavra, não há razão, nem mundo”, ou de Herder de que “a linguagem é o critério da razão”, virando-os do avesso: a palavra é, nele, sempre arbitrária, pois é a “língua morta dos vivos”.
A palavra não muda o mundo, ela não é expressão de uma subjetividade, nem comunicação intersubjetiva; tampouco espaço de negociação nos “jogos de linguagem,” abertos e plurais. Ao insurgir-se tanto contra a dimensão cognitivo-semântica da linguagem, como contra a dimensão comunicativo-pragmática, Beckett acirra a dissonância entre os meios linguisticos e seus usos. Como código ou convenção, a linguagem sedimentada fatalmente adere às regras: “tudo de que falo, com que falo, é deles que vem (…), ter colado em mim uma linguagem da qual imaginam que nunca poderei me servir sem me confessar de sua tribo, a bela astúcia”.
Apesar de afirmar em tom de boutade: “nunca leio os filósofos, nunca entendo nada do que eles escrevem”, em O inominável Beckett, em chave irônica e negativa, provoca boa parte da filosofia ocidental moderna. Em tom de síntese, desmobiliza, uma a uma, as idéias de representação, racionalidade, consciência e verdade. A voz recusa representar e ser representada, zombando de todas as tentativas de objetivação; imobilizando, assim, tanto o sujeito e o objeto, como as relações entre eles, isto é, os fundamentos do racionalismo moderno e das filosofias da linguagem. Com ferocidade, O inominável neutraliza a idéia de natureza humana: “Qual é a verdade da consciência, pergunta Beckett, que não sabemos mais o que é isso que chamávamos de humano, que isso que não se sabe o que é, não se move e fala?”
A imobilidade de um sujeito que não pode agir desmonta na raiz a catequese do livre jogo entre as faculdades, que, desde as estéticas de Kant e Schiller, anunciavam um campo neutro de julgamento – um grau zero da representação –; suspensão por meio da qual o humano seria reconhecido como filho de natureza e devoto da liberdade. Beckett radicaliza o destempero da personagem de Memórias do subsolo, de Dostoiévski, que já dava um basta às pretensões edificantes das noções de belo e do sublime.
Astuto, contudo, Beckett não cai na armadilha de colocar à prova seus argumentos. Em O inominável não se articula nenhuma contraprova psicológica, transcendental, ou semiótica, pois “não há nada que possa servir de ponto de partida”. O acerto de contas se dá no campo ficcional, ironicamente, pela desconstrução da linguagem, ou seja, demonstrando exaustivamente por meio das palavras, como elas são sempre inadequadas, imprecisas ou falsas.
Se a ironia romântica fazia do jogo de inversões um ir e vir entre os opostos para preservar a consciência dos contrários, a ironia em Beckett realiza um movimento anterior de esquiva, destruição e auto-aniquilamento. Não afirmar nada, nem negar, nem deixar nada afirmar-se, para não ser capturado. Não se trata aqui da “apoteose da palavra como em Joyce”, diz Beckett, em carta de 1937, no qual malabarismos associativos brincam com a opacidade das palavras, “inventando obscuridades.” Beckett afasta-se destes procedimentos, em nome de uma “poética da indigência” que assume a falha e impede toda positivação.
Como bem mostra João Adolfo Hansen no prefácio da edição brasileira, Beckett atinge a história nessas eliminações da voz. Como matéria manuseada, à voz que está no meio, entre o dentro e o fora, entre o crânio e o mundo, só resta falar, “continuar a tagarelice aterrorizada dos condenados ao silêncio”. Recusando, contudo, todas as determinações, conceitos e os pretensos sentidos, impedindo que a voz se torne universal; esvaziá-la, até torná-la estéril, entulho do fracasso histórico do sensus communis, e do linguistic turn: para Beckett, verso e reverso de uma vida historicamente danificada.
“Cavar na linguagem um buraco atrás do outro, até que aquilo que está à espreita, por trás, comece a atravessar”, diz Beckett, em 1937. Não aceitar, assim, o silêncio do sujeito morto, designando-o como sem voz, mas, inversamente, arrancar seus gemidos do fluxo do discurso inútil, por meio do rumor da língua, provocando estrondos, pois o silêncio é “débil murmúrio”, “antes de entrar em um longo coma”, no “impensável indizível”, que não separa forma e vida. “Falar enquanto o silêncio se espessa.”
*Arlenice Almeida da Silva é professora de filosofia na Unifesp.
Referência
Samuel Beckett. O Inominável. Tradução: Ana Helena Souza. São Paulo, Editora Globo, 208 págs (https://amzn.to/3KLxpeS).