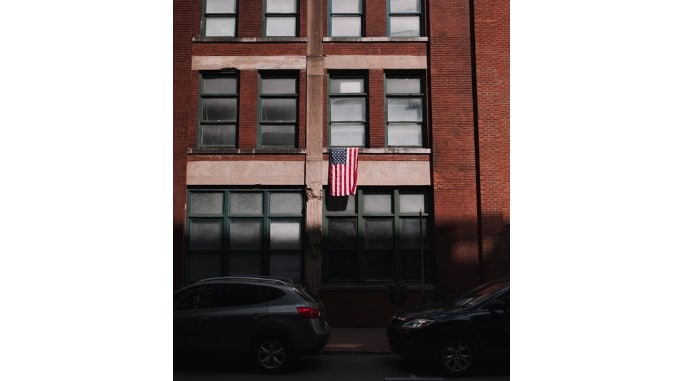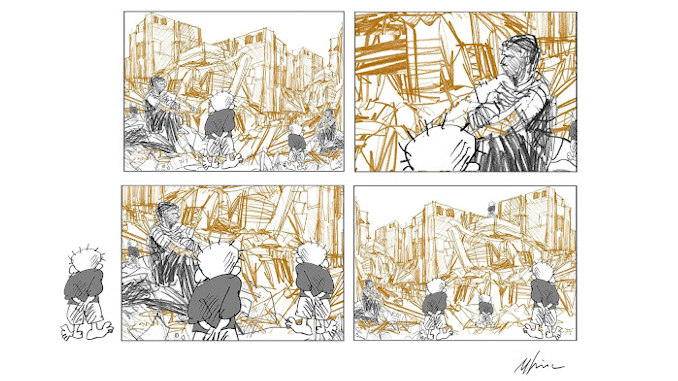Por JALDES MENESES*
A Revolução de 25 de outubro (calendário juliano), ou 7 de novembro (calendário gregoriano), permanece um acontecimento vivo e interpelando o tempo presente de nossas vidas
“De te fabula narratur” (Horácio).
Introdução
Há três anos, comemorava-se no mundo o centenário da Revolução Socialista de Outubro na Rússia. Todo ano, em todo o mundo, milhares de debates, seminários,mesas-redondas, colóquios, publicações, etc., demonstram, independentemente da posição político-ideológica, que a grande Revolução de 25 de outubro (calendário juliano), ou 7 de novembro (calendário gregoriano), permanece um acontecimento vivo e interpelando o tempo presente de nossas vidas. As posições a respeito das revoluções sempre se politizam rapidamente. Mais que passado ou presente, à maneira do estudo de um paraíso perdido do neolítico ou de uma civilização pré-colombiana, a Revolução de Outubro continua interpelando o futuro.
Recordo-me que no começo de 2017, um interlocutor de internet que prefiro não revelar o nome, acadêmico brasileiro de boas intenções esquerdistas, escreveu a respeito da revolução russa: discutir a Revolução Russa é fácil. O difícil é pensar o socialismo no século XXI. A questão do interlocutor é falsa. Inexiste motivo crítico-analítico consistente para operar uma sutura artificial entre história e projeto. Na relação entre história e projeto, A retroalimenta B, e vice-versa. Ambos, socialismo e revolução, são reflexões fundamentais, decisivas. Nem Revolução Russa, nem socialismo (século XXI é um rótulo interessante, a depender do uso publicitário que se faça) são reflexões fáceis, a não ser que se as reduza a alguma convicção dogmática ou a alguma hagiografia fidelizadora. Mas, assim procedendo, não seria refletir. Seria repetir ou, pior, falsificar.
No ex-território vermelho, o regime pós-socialista de Vladimir Putin fingiu concede à revolução um discreto status de reconhecimento histórico. Passada a tempestade alcoólica de Boris Ieltsin (1991-1999), cujo projeto receitava o purgante da subordinação de um Império histórico multinacional e multissecular aos Estados Unidos, a nova Rússia pós-socialista permanece um gigante geopolítico exatamente por herdar as reservas de poder legadas pelos escombros do antigo regime, através dos ativos das reservas de petróleo e gás (abastecedoras de energia da União Europeia), do arsenal atômico e das forças militares terrestres, acantonadas frente a frente à OTAN.
No alvorecer do século XX, a instauração do regime dos sovietes na velha Rússia czarista soava as trombetas de um acontecimento inaugural. Eric Hobsbawm (1994, p. 12-26) chegou a escrever que ali começava o “curto século XX”, encerrado em 31 de dezembro de 1991, com a autodissolução da União Soviética em um enigmático processo de vitória sem guerra. Produziu-se o haraquiri de um Estado, no qual o principal antagonista, os Estados Unidos, obtém uma rendição sem tiro nem resistência. Logo se gritou, à maneira de um profeta alegre e de porre: “o comunismo acabou”! Hoje, a principal lição a depreender da Revolução Russa é a de que acabou uma experiência estatal única sem possibilidade de retorno ‒ mas não o socialismo ou o comunismo.
Prevaleceu na queda da antiga União Soviética algo parecida às estratégias de contenção formuladas por George Kennanb (2014), ou sejam a formulação de que se os Estados Unidos conseguissem erguer um cordão sanitário, cercando a área de influência soviética e impedindo a sua expansão, o modelo de socialismo da URS um dia cairia por dentro, a partir das contradições internas geradas pelo desempenho econômico, social, político e cultural, entre as quais se deve considerar as desavenças no interior do Partido Comunista.
A ordem do comando estratégico americano passou a ser não deixar crescer, em nenhuma hipótese, os partidos comunistas e socialistas radicais no Ocidente e no Oriente, no norte e no Sul global. Nestes aspectos, inegavelmente, a geopolítica norte-americana na Guerra Fria conduziu uma política de tipo hegemônico – no sentido de tentar aglutinar, através de certo consenso, os países do “Ocidente” capitalista contra o “Oriente” soviético. Na aplicação dessa política hegemônica, houve a reconstrução da Europa em frangalhos – Plano Marshall (1947-1951) –, a modernização do Japão, Coreia do Sul e Taiwan, além de algum beneplácito no desrespeito interno ao padrão dólar-ouro, através de políticas monetárias lassas e inflacionárias de “fuga para a frente” em países em ciclo de desenvolvimento, como o Brasil de 1930 até a década de 1970.
Inaugural e fundamental, contudo, a Revolução Russa, evidentemente, não foi a única novidade societária do “curto” século XX (1917-1991). As bombas arremessadas pelo cruzador Aurora no Palácio de Inverno em Petrogrado, realmente, anunciavam um novo tempo. No encalço e na negação dialética do socialismo chegaram Fascismo, Nazismo, Salazarismo, Franquismo, New Deal, além de regimes como o Peronismo e o Varguismo na periferia latino-americana, que poucos anos adiante, também constituíram múltiplas e contraditórias respostas à crise global do capitalismo e da superestrutura que o reproduzia até então, o Estado liberal clássico.
O tempo de vigência do Estado liberal clássico foi a Belle Époque, começos do século passado. Neste sentido, uma das interpretações possíveis da tese do século XX “curto” (1918-1991) é que, desde essa época, o liberalismo clássico desapareceu e nunca mais retornou como prática fundamental de governamentalidade. Assim – e esta tese é fundamental na compreensão deste artigo -, não foi o liberalismo clássico ou a superioridade isolada do mercado que derrotou o socialismo de Estado soviético, mas uma outra experiência de Estado ampliado que derrotou o concorrente.
Neoliberalismo não é somente Estado estrito senso, mas Revolução Intelectual e Moral, Estado ampliado. Desde 1944, data em que escreveu “A grande transformação” visando polemizar com o liberalismo da belle époque, mas especialmente de olho nas nascentes correntes neoliberais, Karl Polanyi (2000) deixou claro que a distinção entre liberalismo clássico e neoliberalismo reside exatamente na consciência que toda economia capitalista requisita um protagonismo estatal, não apenas na inspeção de garantia dos contratos, mas no ativismo político aberto em prol do capital. Pensar capital fora da política trata-se de um conto de fadas de final infeliz. Por isso, apesar do discurso, já de quatro décadas, em defesa de um inalcançável “estado mínimo” não decaiu a arrecadação de impostos, nem rigorosamente diminuiu a máquina pública e os contratos do Estado. Apenas desviou-se – a guisa de uma retórica de “responsabilidade fiscal” – a ordem de prioridade dos recursos do fundo público, das políticas sociais para a remuneração da dívida pública.
Ou seja, o senso comum, corriqueiro no discurso político, de interpretar o neoliberalismo como o retorno do laissez-faire é uma miragem inconsistente em termos de teoria política e econômica. Escreve-se muito sobre as diferenças políticas entre marxismo e neoliberalismo. Talvez fosse melhor também prestar mais atenção às diferenças entre liberais da Belle Époque e neoliberalismo de hoje. Em primeiro lugar, a teoria neoliberal jamais postulou Estado mínimo e laissez-faire. Tanto quanto os marxistas, os neoliberais não creem no mito de um ponto permanente de equilíbrio da economia capitalista, como idilicamente acreditavam os adeptos da teoria neoclássica. Schumpeter (2017) radicalizou a tese garantindo, em vez do “equilíbrio geral”, o que caracterizava o capitalismo era o desequilíbrio da “destruição criativa”.
Em interessante livro, o economista americano John Kenneth Galbraith (1994) narra uma viagem pessoal pela URSS nos anos 1960. A economia, por assim dizer, voava em termos de investimentos e alocação de recursos. A URSS estava à frente dos EUA, por exemplo, na disputa tecnológica espacial. Toda a indústria comunicacional americana e europeia (internet, celular, etc.), principal fonte do investimento capitalista hoje, tem origem nas pesquisas e desenvolvimentos do complexo industrial militar. A Perestroika, projeto de reforma econômica de Gorbachev, resultou num desastre na tentativa de reconversão. A economia de guerra soviética, marcada pela reprodução econômica burocrática total, apresentava dificuldades intransponíveis de transitar para a economia civil.
No extenso debate, que percorreu todo o século XX, sobre o “enigma soviético”, ou seja, qual regime social afinal perdurou naquela formação social, variadas e divergentes são as opiniões. Para além das diferenças teóricas, a economia soviética viveu, grosso modo, três momentos evolutivos marcantes: 1) o comunismo de guerra (1918-1921); 2) a Nova Política Econômica (NEP), plano econômico de transição processual ao socialismo (1921-1928); 3) a estatização e a coletivização acelerada (1928-1956, ascensão; 1956-1991, queda). Em suma, prevalecendo os esquemas de industrialização acelerada, o regime social soviético organizou um enorme esforço de industrialização extensiva e tardia, com a cobertura de uma ideologia que se autorrepresentava como socialista e no caminho de transição ao comunismo.
O mais agudo problema que afligiu a economia soviética é que a reprodução ‒ e não apenasa gestão do plano econômico ‒ era dependente na totalidade da burocracia. As estruturas de mercado e de valor eram completamente atrofiadas pela inexistência ‒ ou existência formal, em um regime de partido único ‒ de uma sociedade civil do socialismo. Interessante notar que a partir do final da Primeira Guerra Mundial, e especialmente após a crise de 1929, a resposta às crises do liberalismo econômico e do Estado liberal foi o implemento de uma economia política de capitalismo de Estado. Tanto os países do Ocidente capitalista como os da periferia desenvolvimentista enveredaram na criação de sistemas econômicos fortemente intervencionistas. A diferença é que no Ocidente esses regimes eram de capitalismo burocrático parcial e fragmentário (ou seja, as estruturas de mercado e valor eram mais porosas), enquanto na URSS, na maior parte do tempo, foram de socialismo burocrático total. No Ocidente, bem ou mal, transitou-se para as mudanças perversas do neoliberalismo; enquanto a URSS e os países do Leste Europeu implodiram pela impossibilidade de efetuar a transição. Assim, a derrota da experiência soviética mais significou a derrota de uma experiência estatal por outra, de reprodução social mais porosa, e não a vitória do modo de produção capitalista sobre o modo de produção socialista ou o comunismo.
A nova “economia programática”
Neste ínterim, a guisa de hipótese, vem ao caso intrometer o veredicto de Gramsci (2001) a propósito dos novos regimes societários, surgidos no começo do “curto” século XX na Europa, que também serve na abordagem dos regimes da periferia. Os novos regimes reinaram por algum tempo, mas findaram soçobrando. Conforme o pensador comunista italiano, depois de um primeiro estágio de ânimo regenerativo das estruturas da sociedade, seguiu-se estrago e desgraça. Ou seja, nem fascismo (por ele estudado a fundo), nem nazismo perfilavam respostas consistentes de longo prazo à crise do Estado liberal clássico e da economia capitalista. Em interessante diagnóstico, ele os considerava, no essencial, “desenvolvimentos intermediários” entre o americanismo e o sovietismo que despontavam. Havia o esforço de correntes modernizadoras internas do fascismo, a exemplo do “corporativismo italiano”, que faziam campanha para introduzir os “métodos americanos” de produção nas fábricas, mas eram esforços minoritários e sob o fogo cerrado de correntes antagônicas.
Logo o fascismo e o nazismo mostrariam irremediavelmente as suas fragilidades, pois constituíam, por mais que mobilizassem amplas massas, mais representantes da velha Europa “improdutiva” e pequeno-burguesa que prenunciadores de uma nova estrutura de hegemonia de longo prazo. Superexploração e rigidez de circulação territorial e compulsória da força de trabalho, instrumentos fartamente utilizados por Hitler, por mais que durem, são fases passageiras. O fascismo e o nazismo padeciam de um defeito congênito: a reprodução econômica dependia totalmente do Estado, nele incrustando-se, além do elemento parasitário, outro destrutivo ‒ o aparelho militar.
Parafraseando livremente uma passagem brilhante de Ernest Mandel em O capitalismo tardio (1994, p. 113), em rápido trecho de análise da economia política do nazismo: cedo ou tarde (até mesmo se fosse vencedor da guerra) os nazistas teriam de fazer a sua Glasnost (abertura política) e a sua Perestroika (abertura econômica). Tal como tentou Gorbachev nos estertores da União Soviética, seria imprescindível haver naqueles dois países uma reconversão dos investimentos para o setor civil, dinamizando um tipo de iniciativa econômica, vinda de baixo, que se tornou, com o tempo, politicamente incontrolável pelas rígidas estruturas de comando de um Estado superficialmente forte.
A análise política de Gramsci (que morreu em 1937) previu genialmente o desfecho da Segunda Guerra Mundial, repetindo com mais informação e fundamento a mesma profecia de Tocqueville nas páginas finais do primeiro livro de A democracia na América (2001, p. 476). Para o italiano e o francês, os futuros do mundo, os dois desenvolvimentos antagônicos fundamentais, germinariam fora da velha Europa Ocidental. Os dois desenvolvimentos antagônicos do século XX seriam o americanismo/fordismo e o regime dos sovietes.
O veredito de Tocqueville não chegava a ser uma premonição inédita. Parcela expressiva da inteligência europeia (Weber, Freud, Lenin, Trotsky, etc.), em plena Belle Époque e Primeira Guerra Mundial, já escrutinavam atentamente os enigmas societários novos engendrados nos Estados Unidos e na Rússia. Seguindo anonimamente a vanguarda da intelectualidade europeia, na juventude de 27 anos (1918), Gramsci dizia o seguinte: “na conflagração de ideias provocada pela guerra, duas novas forças emergiram: o presidente americano W. Wilson e os maximalistas russos. Eles representam os extremos de uma corrente lógica das ideologias burguesas e proletárias”. Certamente, Tocqueville pensava na espada dos Romanov; Gramsci pensava nos coletivos de sovietes.
Mais tarde e amadurecido, quando da redação dos Cadernos do Cárcere (1929-1935), o veredito juvenil e impressionista dos dois desenvolvimentos antagônicos fundamentais vai se sofisticar numa visada estratégica universal, tendo em conta as relações de força (internacionais e internas à problemática italiana). Entraram em causa, no escrutínio dos dois regimes contendores, a questão da hegemonia, da sociedade civil e o corolário da revolução passiva. Em linguagem cifrada peculiar, Gramsci (2001, p. 239-282) dizia no Caderno 22 (Americanismo e Fordismo) que o mundo, tanto nos Estados Unidos como na URSS, caminhava para uma transformação rumo a uma “economia programática”.
O Caderno 22 foi escrito quando a investigação de Gramsci já se encontrava em um estágio avançado (1934). O autor já havia chegado a uma fase de apresentar conclusões. Parece-nos que a grande indagação de Gramsci ao se interessar pelos novos métodos americanos de organização da força de trabalho fabril e reprodução social consistia em saber se “o americanismo pode constituir uma ‘época’ histórica, ou seja, se pode determinar um desenvolvimento gradual do tipo das ‘revoluções passivas’ próprias do século passado, ou se, ao contrário, representa apenas a acumulação molecular de elementos destinados a produzir uma ‘explosão’, ou seja, uma revolução de tipo francês” (Gramsci, 2001, p. 242).
A conclusão de Gramsci, embora ele não explicite textualmente, deixa pouca margem de dúvida: o fordismo expressava, sim, uma revolução passiva e não a “acumulação molecular” de uma posterior revolução ativa (como a francesa de 1989 ou a soviética de 1917). Todas as muitas iniciativas norte-americanas de introduzir modificações nas esferas da produção material (principalmente o taylorismo e o fordismo) e da reprodução social (a preocupação com a família, a sexualidade e os altos salários) eram “(…) os elos de uma cadeia que marcam precisamente a passagem do velho individualismo econômico para a economia programática” (Gramsci, 2001, p. 241).
O que Gramsci tinha em mente com essa afirmação? Para ele, os novos métodos industriais e os novos modos de vida, embora despontassem aqui ou acolá, na Europa eram fenômenos isolados. Só entraram em sinergia e passaram a ter alcance universal com os primeiros resultados da Revolução Russa. Significaram, digamos, “respostas capitalísticas” ao desafio lançado pela União Soviética, principalmente depois do Primeiro plano quinquenal (1928) – “a economia programática” de planejamento central.
Irônica história: foi preciso haver uma tentativa de construção de um Estado socialista para produzir a sinergia de um novo modelo societário no capitalismo (o americanismo/fordismo); precisou haver a União Soviética para os Estados Unidos despontarem como Nação ‒ exemplo do sistema capitalista mundial. Por isso, a expansão do americanismo/fordismo ‒ e não apenas territorialmente e entre os trabalhadores, mas também reconfigurando o ethos cosmopolita das elites e das classes dominantes ‒ foi um lídimo processo de revolução passiva, da reforma necessária ao capitalismo mundial do decênio de 1930 e depois. O capitalismo, com a resistência dos liberais e a plutocracia, ficou a cara dos Estados Unidos do New Deal.
A Revolução Russa como “revolução passiva”
Tal qual o New Deal, seria o desenvolvimento da Revolução Russa, em sua fase heroica, passada a fase de revolução explosiva, também um processo de Revolução Passiva? Entre os principais debates intelectuais na Rússia Soviética na década de 1920 estavam os confrontos de duas teses estratégicas de ritmo de desenvolvimento. Um primeiro grupo, entre os quais se destacava a formulação de Preobrazhenski (1979), defendia a tese de uma industrialização rápida, na voragem de uma radical “acumulação primitiva do socialismo”. Por seu turno, um segundo grupo, entre os quais se destacava Bukharin (1974), defendia um processo em ritmo mais lento de construção econômica do socialismo, baseado no estímulo à acumulação interna fornecida pela propriedade rural. No final da década a polêmica foi decidida. Stalin, que oscilava entre os dois grupos, a depender a correlação de forças, tomou as rédeas do poder e implantou um regime de bonapartismo (cesarismo) progressivo (Gramsci, 2000, pp. 76-79) que acabou se consolidando como um socialismo de Estado de sociedade civil (leia-se, democracia dos sovietes) paulatinamente amorfa e de reprodução burocrática total.
Quando a chapa esquentou, no primeiro plano quinquenal (1928-1932) e na coletivização forçada da agricultura (1929-1931), numa dessas ironias da história, o realismo político de Stalin não teve pruridos. Aproveitou o fulcro das ideias de acumulação intensiva de seus adversários. Cautelosas, as indicações de Gramsci sobre a União Soviética, neste período, após as mesuras de praxe de reconhecer o esforço heróico, são repletas de reconhecimento, mas também de críticas veladas, à estratégia de construção econômica do socialismo levada adiante por Stalin e seu grupo.
Não se trata de precipitação nem exagero concluir que, de maneira cifrada em virtude da difícil situação de prisioneiro Gramsci, reconhecia a validade histórica desse caminho, mas propunha a necessidade de outro rumo à União Soviética. Tema central do outro caminho possível de construção socialismo, a preocupação de Gramsci se voltou para as relações encetadas entre o novo Estado e a hegemonia de classe. Resumidamente, a questão é a seguinte: o partido da classe operária no poder buscou incorporar o conjunto das demais classes ‒ principalmente os camponeses – ao novo bloco histórico? Ou prevaleceu uma falsificação do marxismo, na forma disfarçada de uma utopia obreirista de Estado operário “puro”?
Nos escritos carcerários de Gramsci, quando se enuncia “Estado Operário”, na verdade, a referência de fundo é à enganosa autossatisfação de criação de um “Estado Corporativo”. Passando em revista o começo do regime stalinista, observava ele que o novo Estado encontrava-se num estágio muito incipiente, “corporativo”. Ou seja, não absorvia as aspirações das classes aliadas, mas, ao contrário, submetia todas as classes (inclusive a operária, formalmente dirigente) a um estranho regime ‒ ao menos no critério das formulações clássicas da tradição marxista ‒, de deificação do Estado. Nos termos de Gramsci (2000, p. 279-280), tomava corpo um regime “estatólatra”. Levando-se em consideração o atraso russo, herança do atrasado império czarista, era até razoável que o começo da vida do novo Estado apresentasse desvios. O problema reside em transformar o vício em virtude. Em vez de estimular o desmonte da estatolatria pelo exercício da democracia socialista, o regime de Stalin fortalecia o desvio, através do fortalecimento de um comando burocrático.
No marco de encruzilhada do fim do longo século XIX (1789 – 1917) e da aurora do curto século XX, a Revolução Russa de fevereiro de 1917 foi a última das revoluções burguesas europeias do século XIX. O diferencial heterodoxo, leniniano mas também trotskiano, foi propor de imediato (em abril) o rumo socialista à revolução. Segundo a visada de ambos, a Rússia podia extrapolar o manual das revoluções burguesas adotado pelo programa social-democrata ortodoxo, que estacionava as tarefas da revolução na questão agrária, na questão democrática e na constituição política. Em audácia radical, por caminhos diferentes, Trotsky (1979), muito antes, nos idos do balanço do malogro da Revolução de 1905, e Lenin (1979), às portas da revolução de 1917, desenvolveram, em termos de estratégia política, as teses originais de Marx e Engels (Marx: 1980a, p. 111-198;1980b, p. 83-92) sobre as possibilidades de permanência da revolução. Ou seja, a possibilidade de tomar os céus de assalto e transformar a revolução, inicialmente de caráter burguês, em socialista e expandi-la mundo afora.
Quais teriam sido os principais problemas apresentados na estratégia internacional do movimento comunista e na exemplaridade/expansividade (tendo em vista o objetivo de persecução da conquista da hegemonia internacional) da Revolução Socialista Soviética?
Dois processos combinados, internos à União Soviética, são fundamentais: o primeiro Plano Quinquenal (1928-1932) e a expropriação forçada da propriedade camponesa privada (1929-1931). Podiam até ser inevitáveis, mas o Plano e a expropriação forçada derruíram as tentativas de estabelecer um sistema de equilíbrio cidade-campo da NEP (1921-1928). Enquanto isso, no front internacional, o VI Congresso da Internacional Comunista (1928) aprova a chamada política do “terceiro período”, de crise geral do capitalismo e consideração da social-democracia como “social-fascismo”. Os três processos, internos (Plano Quinquenal e expropriação camponesa), e externo (VI Congresso), compõem os vetores de uma estratégia comum. Configurou uma viragem de largo escopo na experiência nacional e internacional anterior, de frente única operária e NEP.
A nova tríade estratégica da liderança comunista – primeiro Plano Quinquenal, expropriação camponesa, VI Congresso – não seduziu a Gramsci. Pouco antes, já em 1926, no auge da crise de divisão do partido comunista na União Soviética, deputado na Itália fascista e na iminência de ser preso, ele se posicionava contrariamente a alinhamentos automáticos ante os grupos em confronto no principal partido comunista mundial, o único que havia feito a revolução em seu país e de onde emanava uma natural autoridade. Sensível às dificuldades de uma situação internacional complicada, essencialmente defensiva, postulava relações mais fraternas entre os camaradas. Intuía que o regime soviético (naquele preciso momento especialmente em virtude da cisão do grupo dirigente) vinha perdendo potencialidades hegemônicas internacionais. Passada a euforia da saga de tomada e conquista do poder político na Rússia ‒ origem do impulso e influência internacional de expansão da revolução nos primeiros anos ‒, em virtude da consolidação de um estilo de comando de viés autocrático, as potencialidades hegemônicas da revolução na Europa tendiam a estiolar-se.
Antes de tudo, para avançar naquele momento, era fundamental eliminar o “espírito de cisão” dos dirigentes russos – “espírito de cisão” que acabou se consolidando no famoso XX Congresso do PCUS, em 1956. A síntese das opiniões de Gramsci, na condição de secretário-geral do PCI, é bem expressa numa instrutiva carta-resposta a uma missiva anterior enviada a PalmiroTogliatti (representante do PCI na Executiva da III Internacional Comunista, em Moscou). Corria o ano de 1926: “hoje, nove anos depois de outubro de 1917, não é mais o fato da tomada de poder pelos bolcheviques que pode revolucionar as massas ocidentais, já que ele é dado como algo consumado e já produziu seus efeitos. Hoje é ativa, ideológica e politicamente, a convicção (se existe) de que o proletariado, uma vez tomado o poder, pode construir o socialismo. A autoridade do partido liga-se a esta convicção, que não pode ser inculcada nas grandes massas através de métodos de pedagogia escolástica, mas apenas de pedagogia revolucionária, ou seja, apenas pelo fato político de que todo o Partido russo está convencido disso e luta de modo unitário” (Gramsci, 2004, p. 402).
Depois da morte de Lenin (janeiro de 1924), nas querelas nacionais e internacionais do comunismo, o secretário-geral, Stalin, desempenhou um papel decisivo. Certamente pensando no papel exercido por Stalin e torcendo pela vigência de uma situação transitória no partido e na sociedade soviética, Gramsci (2000, p. 76) formulou uma interessante “ampliação” realista do conceito de cesarismo, bifurcando-o em cesarismo progressivo ou regressivo: “o cesarismo é progressista quando sua intervenção ajuda a força progressista a triunfar, ainda que com certos compromissos e acomodações que limitam a vitória; é regressivo quando sua intervenção ajuda a força regressiva a triunfar, também neste caso com certos compromissos e limitações, os quais, no entanto, têm um valor, um alcance e um significado diversos daqueles do caso anterior. César e Napoleão I são exemplos de cesarismo progressista. Napoleão III e Bismarck, de cesarismo regressivo”.
Assim sendo, embora sem mencioná-lo diretamente, a posição inicial de Gramsci sobre as atitudes de Stalin era de alguma condescendência, como de resto foi de condescendência (ou até de simpatia) o posicionamento em relação às circunstâncias históricas de aparecimento dos cesarismos progressivos em geral no processo das revoluções burguesas. Por isso, não é “forçar a mão” deduzir que, em Gramsci, as circunstâncias de Stalin assemelhavam-se às de um César, de um Cromwell, de um Napoleão I. Em comum na história, todos eles foram “cesaristas progressivos”. A situação de cesarismo progressivo na União Soviética ‒ aliás, de todo cesarismo – poderia até ser compreensível no curto prazo, desde que temporário e de onde partiria um novo equilíbrio de forças a longo prazo, ocupando perduravelmente o espaço político.
Assim, o padrão de lutas no Partido Bolchevique após a morte de Lenin seria exemplo de cesarismo progressivo. Apesar da proibição formal de facções, três grupos mutantes se engalfinhavam pela maioria no Partido e no Estado, cujas principais lideranças eram Trotsky (“esquerda”), Bukharin (“direita”) e Stalin (“centro”). Simplificadamente, a luta de facções, sempre na presença do “árbitro” cesarista, ocorreu mais ou menos no seguinte padrão: o “centro” se alinhou por algum tempo com a “direita”, visando derrotar a “esquerda”; uma vez a esquerda isolada, o “centro” – cuja oscilação representava interesses acantonados no controle da máquina partidária – animou-se a isolar a “direita”. Derrotados, enfim, em processo reativo, os antigos membros da “esquerda” (Trotsky) e da “direita” (Bukharin), e até alguns elementos expurgados do “centro” (Zinoviev, Kamenev), se uniram visando a uma luta heroica e inglória para destronar o “centro”.
Foram duas as consequências dessas lutas de facções. Em primeiro lugar, a “esquerda” e a “direita” se uniram quando não era mais possível derrotar o antigo “centro”, fortalecido pelo controle da máquina do Estado e do partido. Em segundo, a facção de “esquerda” foi derrotada, mas Stalin aproveitou a seu modo (e com elevadíssimo grau de radicalidade) os princípios de política econômica preconizados no antigo programa da “esquerda” (industrialização intensiva, planejamento central rigoroso, socialização da agricultura, etc.).
Não se deve perder de vista, obviamente, que os três grupos mutantes – “esquerda”, “direita” e “centro” – não constituíam simplesmente camarilhas palacianas saídas de alguma corte absolutista shakespeariana. Mais que facções, representavam dinâmicas profundas de luta política represadas na sociedade. A principal origem do represamento advinha do regime, adotado no X Congresso (1921), de partido único e proibição formal das facções. As intervenções de Lenin no congresso supunham uma medida provisória, mas adquiriu caráter permanente sob Stalin.
Por isso, a luta política existente na sociedade e nos diversos grupos de interesses migrava para dentro do aparelho partidário, especialmente da direção, que bancava (de maneira engessada) a mímesis de todo o tecido social, passando por agudo processo de transformações e modernizações. São as circunstâncias dos cesarismos e dos bonapartismos, com a diferença conceitual de que cesarismo significa o poder da última palavra no circuito fechado das assembleias legislativas e dos partidos, enquanto bonapartismo significa a ampliação da liderança para a sociedade.
Talvez seja correto, até certo ponto, classificar Stalin como um Bonaparte (ou um César) progressivo no período que vai de janeiro de 1924 (morte de Lenin) a 1928/1929 (começo da expropriação camponesa). Seria, por assim dizer, a fase cesarista/bonapartista (1924-1928) do secretário-geral, que combinou métodos persuasivos e métodos repressivos no combate às tendências de “direita” e “esquerda”, repressão pontual pela base (junto aos militantes anônimos) e luta interna radicalizada contra os principais adversários no partido. Depois, como os grupos antagônicos foram derrotados e ficou dificílima a formação de oposição, até camuflada, não mais havia a necessidade de um cesarismo que cumprisse o papel de ponto de equilíbrio entre os cristais, inter alia Partido-Estado. O enrijecimento das estruturas políticas – os sovietes e o partido –capazes de realizar a hegemonia passou a ser praticamente total.
O regime cesarista deixou de ser parcial, como nas experiências de capitalismo de Estado em geral e na NEP em particular. Começou a ser total. A tragédia histórica em desenvolvimento, na fase subsequente ao cesarismo progressivo, era a de que um tipo histórico inédito de revolução passiva estava se configurando – uma revolução que assumiu uma perspectiva exponencial de saturação das estruturas repressivas do Estado, num abandono total do incentivo às estruturas de hegemonia (a iniciativa social autônoma da nova sociedade civil soviética).
O regime foi chamado, até mesmo por propagandistas, de “revolução pelo alto”. Seria a nova “revolução pelo alto” uma nova forma de revolução passiva de modernização acelerada e forçada? Escreve Deutscher (1970, p. 266), na sua biografia de Stalin: “em 1929, cinco anos depois de morte de Lenin, a Rússia Soviética aventurou-se à sua segunda revolução, dirigida única e exclusivamente por Stalin. Quanto ao alcance e impacto imediato sobre a vida de cerca de 160 milhões de pessoas, a segunda revolução foi ainda mais ampla e radical do que a primeira. Resultou na rápida industrialização da Rússia; forçou mais de cem milhões de camponeses a abandonarem suas pequenas e primitivas propriedades e fundarem fazendas coletivas; arrancou implacavelmente das mãos do mujique o secular arado de madeira e obrigou-o a manejar um trator moderno; levou dezenas de milhões de analfabetos para a escola e fez com que aprendessem a ler e escrever; espiritualmente desligou a Rússia européia da Europa e colocou a Rússia asiática mais perto da Europa. As recompensas dessa revolução foram espantosas; mas também o custo: a perda total por parte de uma geração inteira, de liberdade espiritual e política. É necessário um grande esforço de imaginação para avaliar a magnitude e complexidade dessa transformação social que não tem nenhum precedente histórico”.
Duas intenções interligadas estavam, decerto, contempladas no estudo gramsciano das revoluções passivas, tanto nas burguesas como nas proletárias. A primeira, referente ao “conteúdo” histórico do processo das revoluções. A segunda, mais específica, referente à “estratégia” correta a ser seguida pelo movimento comunista, em plano mundial, já numa época histórica de revolução passiva, após o fracasso das tentativas de assalto direto ao poder nas revoluções alemãs (1918-1923).
A questão de conteúdo remete ao complicado fato de que se cuidou de submeter, tanto no bonapartismo francês como na primeira fase do stalinismo russo, o democratismo radical dos sans-culottes dos subúrbios parisienses e o poder constituinte dos sovietes russos. Depois, na restauração francesa e na segunda fase do stalinismo, o objetivo não era submeter, mas extirpar qualquer possibilidade de poder constituinte, submetendo a esfera de iniciativa dos sujeitos individuais e coletivos da sociedade civil a uma máquina de Estado forte e centralizado pela burocracia.
O regime soviético já não era dos sovietes, destruídos na capacidade, bastante desenvolvida nos primeiros anos da revolução, de acolhimento de iniciativas moleculares, provindas de uma nascente sociedade civil socialista.
Vale lembrar que Gramsci caracterizava o Estado soviético stalinista como uma formação atrasada, de tipo econômico-corporativo, ou seja, o predomínio da tendência estatólatra na direção do Estado podou a sociedade civil (os sovietes) de desenvolver superestruturas complexas, com base na hegemonia (no consenso) e não na pura coerção. Enfim, a antiga Rússia antes da Revolução era uma sociedade de tipo oriental, cujo predomínio do regime absolutista da autocracia czarista, o mais fechado da Europa, não permitiu o desenvolvimento de estruturas de uma sociedade civil complexa e dinâmica. A autocracia teve rasgos modernizantes – em Pedro, o Grande; Catarina da Rússia, etc. –, mas jamais democratizantes. Por conta do passivo histórico, Gramsci até admitia, na URSS, durante algum tempo, a vigência de um regime estatólatra, mas advertia: “(…) tal estatolatria não deve ser abandonada a si mesma, não deve, especialmente, tornar-se fanatismo teórico e ser concebida como ‘perpétua’” (Gramsci, 2000, p. 280).
*Jaldes Meneses é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Referências
BUKHARIN, Nikolai. Teoria económica del período de transición. Córdoba: Pasado y Presente, 1974.
DEUTSCHER, Isaac. Stalin. A história de uma tirania. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970.
GALBRAITH, John Kenneth. Uma Viagem pelo tempo econômico. São Paulo, Pioneira, 1994.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere – Vol. 2. Os intelectuais. O princípio educativo. Jornalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
Cadernos do cárcere – Vol. 4. Temas de cultura. Ação Católica. Americanismo e fordismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
_________________. Cadernos do cárcere – Vol. 3. Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
_________________. Escritos políticos – Vol. 2, 1921-1926. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.
HOBSBAWM, Eric J.Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
KENNAN, George. Memórias – Vol. 1. Rio de Janeiro: Topbooks, 2014
MARX, Karl. As lutas de classes na França de 1848 a 1850. Obras Escolhidas Marx e Engels – Vol. 1. São Paulo, Alfa-Omega, 1980a.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas. Obras Escolhidas – Vol. 1. São Paulo: Alfa-Omega, 1980b.
POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro: Campus (2. Ed), 2000.
SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. São Paulo: Unesp, 2017.
TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América – Livro 1. Leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
TROTSKY, Leon. Balanço e Perspectivas. Lisboa: Antídoto, 1979.