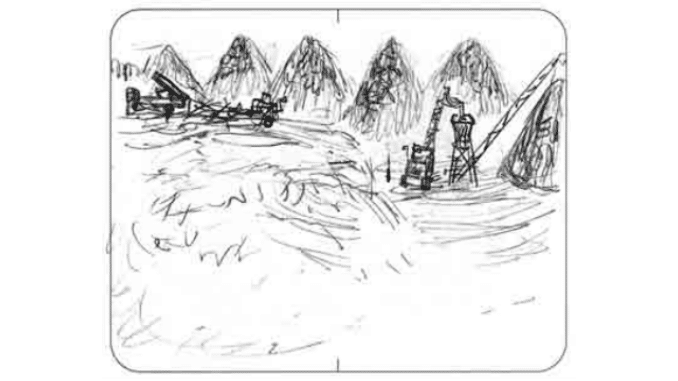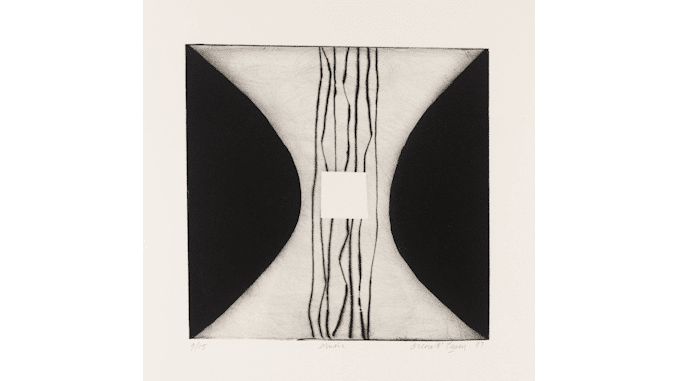Por GERD BORNHEIM
As dimensões de sua escultura
A questão da arte está toda inteira em sua medida: desde onde compreendê-la? E justamente neste ponto crucial concentra-se a densidade das múltiplas perguntas que assolam a arte de nosso tempo e, em consequência, também o intenso labor estético que busca pensar essa arte. No passado, talvez por ser óbvia demais, a questão sequer era colocada: a medida estava, evidente e visivelmente, na simples presença da Virgem Maria. Então, a arte nem poderia ter outro objeto: dava testemunho do esplendor da Verdade, e a Virgem era a Verdade.
Com o advento da cultura, burguesa, aquele óbvio perde aos poucos o seu esplendor, e transmuta-se até mesmo o próprio estatuo da verdade. Por que o bom pintor flamengo não poderia retratar, simplesmente, a esposa do comerciante da esquina? Não deixa de ser inquietante: ela pode ser medida? Mas medida do quê? A partir da Renascença, toda a arte passa a mover-se no horizonte deste tipo de pergunta, ainda que as implicações remotas dessa nova problemática só se tenham manifestado na arte do século XX.
Hegel pôde constatar, em sua Estética, a morte da arte, porque compreendeu muito bem que aquele esplendor da Verdade já não funcionava: a última manifestação de arte religiosa, enquanto “substância objetiva”, fora o barroco. O que escapou a Hegel – mas era cedo demais para que isso pudesse ser percebido – é que a chamada morte da arte de fato apenas acobertava uma morte muito mais fundamental – a daquele esplendor da Verdade.
Para Hegel, se a arte não consegue ser expressão da Ideia divina, ela simplesmente perde a sua razão de ser, por esvair-se a sua medida. O que se verifica, entretanto, através do evolver da arte burguesa, é o questionamento da própria noção de medida, chegando-se até mesmo a uma resposta extrema: por que a medida não estaria encolhida nas proporções da modesta pincelada do pintor?
Digamos que a arte passa a mover-se na distância entre a sua “materialidade”, ou aquilo que ela é em si mesma, e aquilo que ela diz, ainda que a despeito de si. A arte está situada dentro das balizas desse espaço, e nada consegue escapar aos meandros de seus limites. Essa distância configura o lugar da arte, e, portanto, também o lugar da arte de Vasco Prado. Pretendemos elucidar aqui algumas das coordenadas de nosso escultor. Mas continuemos, primeiro, na consideração de algumas generalidades.
No passado, já na Grécia, o conceito medular que permitia o acesso ao sentido da arte era o de imitação. Tudo estava nisso: o que deve ser imitado? Este conceito atravessa os diálogos de Platão, e normalmente nem causa alardes maiores. Observa-se, entretanto, que de saída – e não só em Platão – ele vem munido de uma carga autodefensiva considerável: a imitação é constantemente contraposta ao conceito de cópia – esta representaria o mau passo que redundaria em negação da própria arte. Tudo decorre, por isso, da clara delimitação entre imitação e cópia.
Observa-se, de outro lado, que nesta mesma época e com o mesmo Platão surge uma nova acepção de verdade, desconhecida dos pré-socráticos: a verdade passa a ser interpretada como adequação. A analogia entre os dois temas salta aos olhos – digamos que a imitação está para a arte assim como a adequação está para a verdade. O real passa a ser explicitado dentro de um esquema triangular: o mundo dos objetos, o dos sujeitos e, fundamentando esta dicotomia, o Absoluto.
E o que importa aí é o Absoluto: a verdade e a arte far-se-iam legítimas e possíveis através de seu intercâmbio com o Absoluto, seja de modo direto ou indireto (pelas essências, por exemplo). Assim se explica o “ir ao igual” que seria a adequação (ad-aequalitas); na igualdade do igual residiria a própria possibilidade da verdade. Enquanto ficássemos restritos à dicotomia sujeito-objeto, e prescindíssemos de Deus, não poderia haver propriamente verdade, no máximo um seu simulacro; a condição da ciência dependeria do alcançamento da essência.
O mesmo esquema era aplicado à arte. A arte produzida dentro dos limites exclusivos da dicotomia sujeito-objeto não passaria de cópia, sem merecer o epíteto da arte. Já a imitação conseguiria romper o cerco daquela dicotomia e banhar-se-ia de algum modo no mundo das essências. Ou dos universais concretos, tais como os deuses, os santos, os reis, os heróis e mais algumas poucas figuras.
A normatividade da Estética tradicional garante a existência de tais essências, a possibilidade de sua imitação e fornece até as regras práticas que tornam a imitação possível – veja-se a fantasmagoria das estátuas em qualquer escola de artes tradicional. Digamos que a cópia não consegue transcender as aparências horizontais da dicotomia, ao passo que a imitação alça-se à verticalidade que conduz àquele esplendor da Verdade mencionado acima.
Assim, apenas para darmos um exemplo, na tragédia de Édipo não se pretende reproduzir tão-somente os contundentes percalços de uma família; isso seria cópia. Trata-se, sim, de imitar a verticalidade da relação de Édipo com a deusa Justiça (um universal concreto); Édipo é necessariamente rei (outro universal concreto), e é justamente através da imitação que a tragédia realiza a sua finalidade político-pedagógica. Nesta curta análise, espero apenas que a pobreza da exposição seja compensada por sua clareza. Mas continuemos.
Então, com a ascensão do mundo burguês, veio a crise. Crise do quê? Exatamente daqueles universais concretos. Crise benéfica. A morte dos deuses rastreia o desastre da tradição. Crise necessária e irreversível: não há nenhuma razão plausível que possa fomentar a nostalgia dos velhos deuses. Pois o que está em jogo é nada menos que o assentamento do homem nesta terra – e já não há mais alternativa. Saliente-se que, dentro de tal contexto, o que termina por perder vigência não é apenas o fundamento da imitação, mas a sua própria possibilidade. E neste caso, destituídos os deuses e seus afilhados, qual poderia ser agora o objeto da arte?
Precisamente aquilo que sempre fora execrado pela tradição – a cópia, isenta já do amparo do universal. Um exemplo: Beethoven pinta o episódio de uma tempestade primaveril, ou expõe a sua alma simplesmente individual na música de câmara. No nível da cópia restam, pois, duas possibilidades, a da objetividade e a da subjetividade, ou bem a arte reproduz o objeto, ou então expressa o sujeito. O romantismo é o grande laboratório através do qual se verifica essa transformação. Mais tarde, surgirá uma terceira alternativa, a da pesquisa puramente formal, a exploração da linguagem plástica em si mesma, aquém ou além da dicotomia sujeito-objeto. E não há outras possibilidades.
Nas artes plásticas, a valorização da cópia chegou a produzir excelentes resultados: pense-se na natureza morta, no paisagismo e mesmo no ornamento. Cabe até dizer que o objeto, pela primeira vez, passa a ser visto na sua condição de objeto, alheio a categorias universais e a juízos de valor. Mas os novos caminhos logo manifestaram certo cansaço e acabaram levando à sua antítese. Dever-se-ia fazer uma publicação que reproduzisse os quadros feitos com o belo modelo que foi Jaqueline, a esposa de Picasso; ver-se-ia logo que o texto se torna pretexto, o que interessa ao figurativista Picasso resume-se por inteiro à exploração da linguagem plástica. A cópia termina gerando certo desconforto, e, de certo modo, leva a atribuir validade à velha argumentação platônica: repetitiva, ela invalida a arte, torna-a supérflua e exterior a si própria.
Em definitivo, ainda que por razões alheias à argumentação tradicional, a cópia se faz inviável. Isso pode ser constatado justamente na escola que soube levar o elogio da cópia a suas consequências mais extremas: o naturalismo e seus derivados, como o realismo social. No teatro, o exemplo de Brecht é em tudo elucidativo. Claro que sua raiz mais significativa está no naturalismo; ele mesmo chegava a exagerar essa influência, em consciente detrimento dos diversos formalismos que pipocavam na época. E no entanto, todas as contas feitas, revela-se impossível entender Brecht sem a experiência formalista, em especial a do expressionismo alemão.
Sua intenção inicial pretende restringir o teatro à problemática do social, e tudo é radicalizado no nível da categoria do objeto – os sentimentos do sujeito ficam reservados à lírica brechtiana. Por isso, no espetáculo, cópia e objeto tendem a identificar-se. Em verdade, porém, essa preeminência da cópia patenteia-se insatisfatória, e Brecht recorre a diversos expedientes para metamorfoseá-la. Assim, por exemplo, em alguns de seus melhores textos, ele utiliza a parábola, transporta a ação dramática para o Oriente, e torna a cena exótica. Ou lança mão da ciência, o que acaba emprestando um realce todo especial àquela soberania do objeto. A rigor, só há um texto de Brecht em que ele se mostra submisso à cópia, e isso por razões estritamente políticas: Terror e miséria no III Reich. Procedimentos análogos aos brechtianos são encontradiços em todas as artes, e, ao que tudo indica, e em que pese o êxito das naturezas mortas, o percurso histórico da cópia já esgotou suas possibilidades; transmutou-se até em arte abstrata porque apenas decorativa.
Vasco Prado
Vasco Prado é indubitavelmente um artista de nosso tempo. E entendo que as ideias expostas até aqui configuram as coordenadas gerais que permitem situar a sua obra. Senão vejamos.
O realismo social impõe-se como pressuposto maior da obra de Vasco. Aproximamo-nos aqui de um tema que já foi até polêmico, o de saber se a obra de arte deve ou não ser política. Acontece que a evolução das artes no século XX terminou por desautorizar qualquer pretensão normativa da Estética. Justamente o tipo de realismo social que faz da política a razão de ser da arte, critério definitivo de sua própria validez, levou, quase sempre, ao pior, e tornou anacrônica a exigência de que toda arte deva ser política.
Observe-se, por exemplo, a impressionante identidade da arte produzida pelo stalinismo e pelo nazismo. Ou veja-se este outro exemplo maior: onde está a obra política do comunista Picasso? Afinal, mesmo na Guernica, a política está principalmente no título do quadro. Tais constatações, entretanto, estão longe de dar a questão por resolvida. Se a obra de arte fez-se rebelde a qualquer norma, se recusa o compromisso político e tem o total direito de recolher-se ao silêncio das maçãs – isso vale sem dúvida para a obra, mas não para o artista. Como ser humano que é, e como qualquer outro indivíduo, o artista tem obrigação de ter suas opções políticas, deve ter, e nem pode deixar de ter, a clara consciência de sua situação no mundo em que vive. E a partir daí, muita coisa pode acontecer na arte, inclusive o compromisso social.
O homem Vasco sempre defendeu posições políticas inequívocas, mas em sua obra inexiste o tema político em sentido estreito ou panfletário. São suas posições políticas, contudo, que estão na base do realismo social que anima toda a sua obra – realismo social, acrescenta-se, de teor bastante amplo, que não exclui esse lírico contraponto que é a presença feminina; ou ainda, a rude virilidade de homens e animais. Realismo social significa, precipuamente, que a obra de nosso artista é essencialmente figurativa.
Tudo depende, então, de bem interpretar os limites desse figurativismo, ou o seu alcance. Aqui se intromete novamente a dimensão social do artista, ou essa necessária fatalidade humana que é o diálogo. Como em tudo, as coisas se passam no horizonte datado das influências possíveis. Os enamoramentos juvenis – Rodin, Bourdelle – cedem logo o lugar aos itinerários inscritos no fundo do olho de Vasco. O diálogo se faz prático, e ocorre no nível dos instrumentos de trabalho, entre ponteiros, escopros, bojardas. O realismo esposa, por aí, as inquietações de caráter formalista que percorrem as pesquisas plásticas de nosso tempo. Cabe mesmo afirmar que, em grau maior ou menor, nosso escultor empresta um tratamento abstrato às suas figuras. Nem se poderia aceder à fértil imaginação criadora do artista não existisse esse diálogo com o mundo das formas, essa abertura a um jogo do traço que, por vezes, já vem registrado na própria matéria de que se serve Vasco.
Assim, sua obra apresenta como que duas raízes. De um lado, a sua aguda consciência social e o seu olhar seduzido por tudo o que é humano; mas de outro, a maestria com que deixa correr o traço livre, obediente a uma necessidade interna derivada do formal. O nervo da estética de Vasco Prado situa-se precisamente neste ponto: na confluência destas duas raízes – e é aí que se agrava toda a questão da cópia, tal como este conceito foi discutido acima. Perguntemos, então, qual o comércio verificável entre, digamos, a cópia e o outro que não ela, entre a mesmidade da cópia e a sua diferença.
A pergunta revela-se complexa, já que coincide com o corpo inteiro da obra do escultor; tudo se dá no entrevero daquela dupla raiz, é por ela que a cópia abandona o seu estatuto por assim dizer natural. Compliquemos as coisas com uma nova pergunta: se tudo se verifica na interioridade do horizonte daquelas duas raízes, se a obra percorre a distância que há entre as duas, esse percorrer se faz criativo justamente através da liberdade com que o artista lança mão de uma pluralidade de recursos – e a pergunta agora é: que recursos são estes? No espaço daquela distância até onde se estendem os seus possíveis? E em primeiro lugar: o aberto desse espaço consegue dar alguma guarida ao universal, àquilo que anteriormente chamamos de universal concreto?
Talvez com alguma hesitação, a resposta deve ser afirmativa. Penso de imediato aqui na imponente soberania dos cinco metros de altura do Tiradentes de três bocas, localizado num logradouro público de Porto Alegre. Seu agigantamento manifesta bem o universal-revolucionário, e impõe-se como uma das melhores realizações do mestre. Mas observe-se que o Tiradentes configura de certo modo um anti-herói, uma vítima, e isso como que descarna o universal. Seja como for, o cultivo do universal positivo, no sentido antigo, torna-se nos dias que correm ao menos suspeito, próximo que está de uma certa retórica inexistente nos autênticos artistas.
A presença do universal, entretanto, merece mais atenção, pois vai assumir outras formas, novos contornos na obra de Vasco. Penso aqui, em especial, na figura do Negrinho do Pastoreio, um dos temas preferenciais do autor e ao qual dedicou diversas versões. Mas o Negrinho, um universal? Ele não é livre, mas escravo; não é branco, mas preto; não ostenta roupagens, pois está nu; não é ativo, mas vítima passiva; destituído de consciência política, é mero resultado da conjuntura social; o oposto da luz, é símbolo da insciência. E assim mesmo, um universal – ele sintetiza paradigmaticamente as consequências da escravidão.
A alienação nem está tanto na marginalidade do Negrinho, e sim naqueles que acendem velas a seus pés. Um universal, sim, mas com um adendo em tudo revelador: ele é um universal negativo, ou o avesso do universal, e, por isso mesmo, figura fortemente politizadora. Cabe mesmo afirmar que a invenção do universal negativo caracteriza em boa medida a própria natureza da arte de nosso tempo.
Ainda dentro dos limites do espaço aberto pela distância entre aquelas duas raízes, perguntemos: de que recursos lança mão Vasco Prado para definir os seus padrões criativos? Não pretendo aqui catalogar, mas chamar a atenção para alguns destes recursos, a fim de melhor esclarecer nossa temática. São recursos através dos quais nosso artista se afasta da cópia em si mesma, ainda que se resguarde o plano em que se dá a cópia. Ela é como que transformada, sem que esse processo oriente a obra para a incorporação do universal-modelo, à maneira da arte tradicional. O máximo que se poderia avançar é que tais recursos seriam como uma espécie de categorias, no sentido de nomes mais gerais, e que de certa forma norteiam o empenho criador. Que recursos, pois, são estes?
O primeiríssimo, já mencionado anteriormente, está no comércio com o elemento abstrato, com as exigências que brotam da linha puramente formal. Claro está que, neste procedimento, o plano figurativo nunca é totalmente abandonado. Este recurso tende a estabelecer-se dentro de certas linhas, incide em certa repetitividade, e é justamente isso que termina configurando o estilo do artista. Através desse elemento formal faz-se possível acompanhar a evolução de sua arte, e é importante salientar que tão-só através da elaboração formal é que se verifica propriamente evolução de linguagem, é por aí que a arte se torna histórica, e não por seus possíveis conteúdos. O formal transforma o dado, e é principalmente a partir disso que se pode falar em arte contemporânea, em historicidade: pela forma a arte assume feição histórica e chega a ser precisamente arte.
Um segundo recurso, intimamente ligado ao primeiro, está na monumentalidade. Não se trata aqui, propriamente, de quantidade, a monumentalidade nada – ou tudo – tem a ver com o tamanho das peças. Refiro-me antes a uma característica intrínseca ao próprio traço do artista, ao seu desenho de base. Isso se faz amiúde presente, por exemplo, nas pequenas peças de cerâmica. A monumentalidade se estabelece sobretudo pela linha curva, nas formas arredondadas, tanto na figura humana, em especial na feminina, como também, e fortemente, nas figuras animais. Além disso, associa-se a essa monumentalidade um componente sensual. Não penso aqui nas peças especificamente eróticas, e sim numa sensualidade que pervaga o próprio corpo escultórico e instala-se na extensão das superfícies. Essa sensualidade instaura o convívio entre a peça e a palma da mão de quem a vê – vontade de tocá-la. Marc Berkowitz, com sua visão penetrante, escreveu muito bem que Vasco “possui a capacidade, típica do grande escultor, de imbuir todas as suas obras, mesmo as pequenas, desse espírito de monumentalidade, que é a verdadeira prova do escultor que sabe pensar grande”.
Um terceiro recursos pode ser visto no arcaico. Ressalto aqui a extrema simplificação da forma, não há nada de rococó na obra de Vasco, raras vezes cede ele às sinuosidades do enfeite. Sua linha é sóbria, de um percurso simples e necessário, todo concentrado numa temática que se diria essencial e anterior aos processos civilizatórios: o homem, a mulher, o cavalo. Assim, o traço arcaico casa-se com temas também arcaicos, quase pré-históricos.
A essa dimensão arcaica concerta-se, em quarto lugar, a presença do folclore. Essa relação talvez seja mais profunda do que permite avaliar um primeiro contato com a obra de Vasco. Homem da terra, gaúcho sem a necessidade aparente de compensações, toda sua obra exibe um notável caráter telúrico. Nem penso tanto aqui nos temas especificamente folclóricos que apresenta uma parte de seu labor: o folclore é um tema entre outros. Penso mais é nessa vontade de ser povo, de prender-se às raízes, de assumir a politicidade da praça pública. Nesse sentido mais radical, o folclore deixa de ser uma opção, e se transmuta num modo de ser, de se exprimir, de se aproximar.
Em último lugar, caberia falar no recurso à tipificação, característica que se coaduna perfeitamente bem com os itens anteriores. É praticamente inexistente na obra de Vasco a individualidade peculiar, o elemento biográfico, o retrato, o acidente de percurso. O elenco do artista é teimosamente e sadiamente restrito: o homem, a mulher, o cavalo e poucas coisas mais, sempre com o artigo bem definido. Compete falar aqui – e não só aqui – em expressionismo. Pois foi esse movimento alemão que introduziu como leit-motiv a tipificação.
A diferença entre os expressionistas alemães e Vasco está em que aqueles predem-se a temas de fim de romance, aos estertores agônicos da civilização, à extrema diversidade em que se cristalizaram as figurações históricas, ao passo que no caso de Vasco a tipificação apresenta o sabor das origens. De certo modo, trata-se de uma ordem pré-social, sem nenhuma afinidade com salões mundanos e assembleias constituintes. Nenhum laivo de decadência, apenas a simplicidade da afirmação irrestrita da vida.
A topografia indicada poderia servir, talvez com adendos, como referencial para uma análise ampla da vasta obra de Vasco Prado. Ressalte-se que cada um desses recursos é indicador de um complexo de temas e que a terminologia aventada não deixa de ser claudicante. Assim, por exemplo, o folclore nada tem a ver com a especificidade da arte dita folclórica, ou o arcaico não pretende uma volta ao passado – estamos sempre na atualidade do atual. No mais, o que interessa não são possíveis referenciais ou categorias, e sim a verve criativa de nosso artista – verve esta, sublinhe-se, que não se deixa reduzir à subjetividade humana: é esta, ao contrário, que se constrói a partir da obra feita: a criação na obra é o que interessa. Nela está, no seu jeito peculiar, a medida do mundo e de Vasco Prado.
*Gerd Bornheim (1929-2002) foi professor de filosofia na UFRJ. Autor, entre outros livros, de Páginas de filosofia da arte (Uapê).