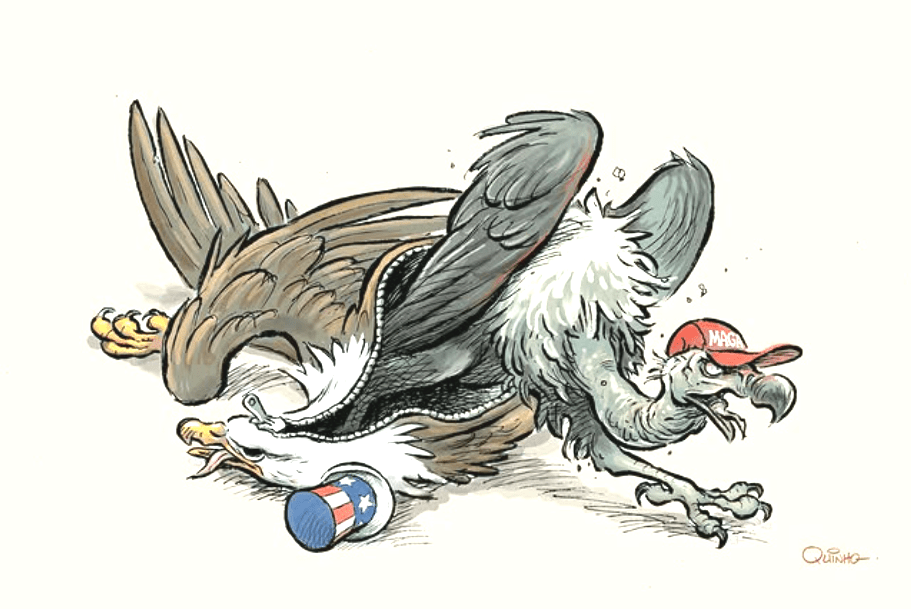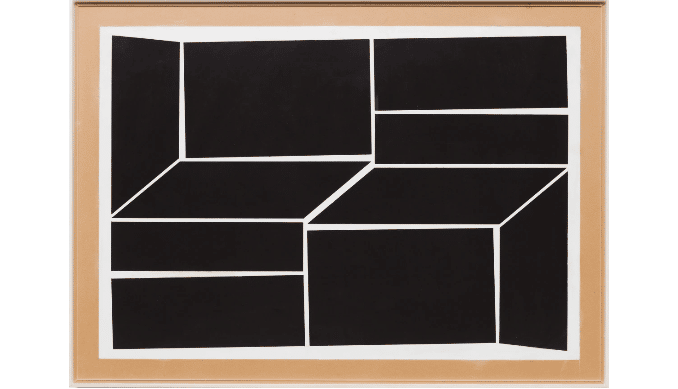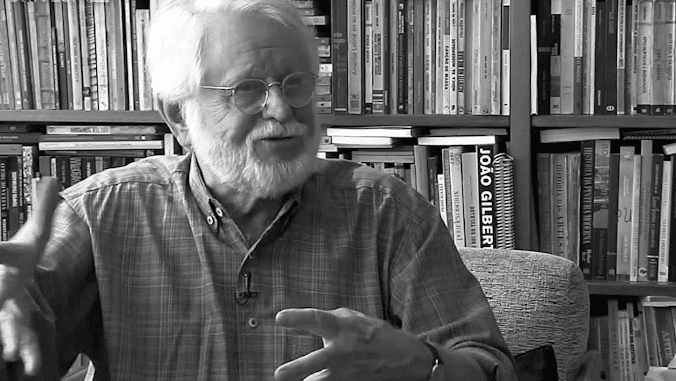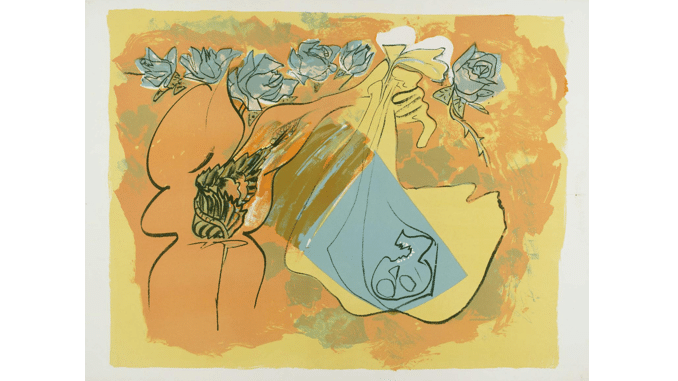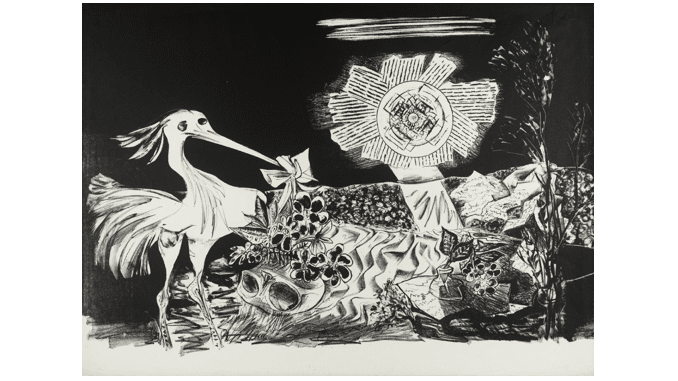Por BÁRBARA PINHEIRO BAPTISTA*
Ao desafiar a crononormatividade ocidental, os saberes de terreiro oferecem um antídoto epistemológico. Eles revelam que o tempo espiralar não é uma mera abstração, mas uma ferramenta vital de cura e existência para futuros ancestrais
“Quem recebe Orixá, não está recebendo espírito e sim a sua própria partícula divina” (SANTOS, 2010. p.146). Esta afirmação, proferida pela sacerdotisa de candomblé e escritora Mãe Stella de Oxóssi, demonstra como se dá a complexa noção de pessoa na cosmovisão dos terreiros. O presente ensaio tem como finalidade realizar uma reflexão teórica acerca das concepções de morte e tempo a partir dos saberes de terreiro e como elas tensionam novas formas de se pensar os tempos históricos. Nesse sentido, o estudo busca ainda discutir noções como multiplicidade temporal, crononormatividade, políticas do tempo, ancestralidade e heterotopia.
Há uma temporalidade específica mobilizada pelo candomblé, que rompe com a linearidade ocidental e valoriza uma experiência cíclica, ancestral e não homogênea do tempo. Nesse contexto, os orixás, os elementos naturais e os objetos sagrados, considerados agentes não-humanos, participam ativamente da constituição da experiência histórica e subjetiva. Esta análise parte de uma leitura crítica no que diz respeito à História disciplinar em sua pretensão de abarcar diferentes passados em uma perspectiva única,[i] tomando a noção de Maria Ines Mudrovcic como referencial teórico, em sua reflexão sobre as “políticas do tempo” (MUDROVCIC, 2018).
A autora explicita que as diferenças entre passado, presente e futuro são construções que acontecem em nossa fala e em nossas ações, problematizando as periodizações. Quando criamos períodos históricos, não estamos só descrevendo o tempo, mas também realizando ações que têm um efeito maior. Ao dividir o tempo assim, por exemplo, decidimos quem ou o que é considerado parte do passado ou do presente. Essa divisão do tempo não é apenas uma representação, mas uma ação com impacto na linguagem e carrega em si uma marca de violência.
Com o objetivo de resolver o problema que o conceito moderno de história trouxe para a forma como entendemos a historiografia, Reinhart Koselleck (2014) propôs a formulação dos estratos do tempo. Essa teoria busca investigar os diferentes tempos históricos que se sobrepõem uns aos outros. Segundo Reinhart Koselleck, os “estratos de tempo” também representam diferentes planos, com durações variadas e origens distintas, mas que, mesmo assim, coexistem e atuam ao mesmo tempo (KOSELLECK, 2014, p.21). Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, surgindo em diferentes momentos ou em sincronia, de contextos totalmente diferentes (KOSELLECK, 2014, p. 9).
Dessa forma, para Reinhart Koselleck, a história moderna acabou escondendo essas múltiplas temporalidades. E cabe aos historiadores e às historiadoras refletirem sobre essa diversidade de tempos na história. Cabe destacar que esta historiografia, marcada pelo eurocentrismo, impõe certa lente ocidental para interpretar realidades não-ocidentais. Trata-se, portanto, de um olhar temporal, geograficamente localizado, na modernidade europeia, como indicado por Ana Carolina Barbosa Pereira (2018) em sua reflexão sobre a geopolítica da produção intelectual.[ii] Nesse sentido, o projeto de se repensar a disciplina teórica e metodologicamente, parte do princípio de reconhecimento da necessidade de interpretação de diferentes passados ao desafiar o monopólio de uma narrativa histórica tradicional.
Há ainda que se considerar a presença “passados que não passam” (BEVERNAGE, 2018. p. 51) e, com isso, podemos pensar na experiência da escravidão vivenciada no Brasil. É uma experiência temporal que se faz presente ainda nos dias de hoje de diversas maneiras na vida da população negra. Ou seja, não pode ser classificada como uma simples memória, mas uma força que impacta profundamente o tempo presente.
Corpo, ritual e saber
O candomblé, religião afro-brasileira em que há a reconstrução simbólica das diferentes Áfricas, sua transposição para a realidade brasileira com suas hierarquias, formas de comunicação e estruturas é realizada através do culto aos orixás, que podem ser compreendidos como elementos da natureza. A visão de mundo dessa religiosidade percebe o universo como um fluxo contínuo de trocas entre seres humanos e entidades sobrenaturais. O acesso ao poder sagrado ocorre através do contato e da construção de alianças com essas entidades.
De acordo com a tradição oral dos candomblés, materializada nos itan[iii], a narrativa da separação entre o Aiê (a Terra, o mundo físico) e o Orum (na mitologia iorubá, o céu ou o mundo espiritual) se dá pela história que descreve esses dois mundos como um só, e a passagem entre ambos era constantemente efetuada, até que uma falha humana provocou sua separação definitiva, os homens residindo no Aiê e as entidades espirituais no Orum. Os rituais do candomblé buscam negar essa disjunção, no sentido de conceberem a iniciação como a fixação de um duplo do orixá sobre o Aiê (ELBEIN DOS SANTOS, 1977).
A experiência é central nessa prática religiosa. Na maioria dos rituais afro-brasileiros, não há espaço para palavras explicativas ou exortativas. Não há pregação, leitura ou explicação. Os rituais são predominantemente cantados e dançados. Para um visitante não familiarizado, os primeiros encontros com esses rituais podem parecer incompreensíveis. É necessário um tempo considerável para que essa lógica experiencial, que não se baseia na palavra explícita, comece a fazer sentido e a formar um entendimento mais amplo. Como aponta Ki Zerbo (2010), quando assinala que a tradição oral é a fonte histórica mais rica e autêntica. pois “(…) reveste de carne e de cores, irriga de sangue o esqueleto do passado. Apresenta sob as três dimensões aquilo que muito frequentemente é esmagado sobre a superfície bidimensional de uma folha de papel” (KI ZERBO, 2010, p.319).
Assim, a iniciação no candomblé representa retomar uma conexão com as entidades que já existiam antes da consagração, dentro de uma visão de transmissão transgeracional. Isso implica afirmar que a iniciação não é simplesmente uma nova e inédita ligação religiosa, mas sim a revalidação de uma conexão anterior, que já estava inscrita no indivíduo. Trata-se do abandono de um “eu” anterior, da purificação pelo sangue e a reconstrução de si mesmo.[iv]
Se o renascimento em vida é ritualizado, com a morte neste plano não seria diferente. No candomblé da nação Jeje, há a cerimônia do Sihn[v], celebrada quando se morre alguém importante da comunidade. Na concepção dos povos de terreiro, morrer não significa se extinguir por completo, mas realizar o deslocamento para outra dimensão e mudar o status para uma condição de ancestral. É um rito fúnebre fechado para o público e cercado de mistérios: durante três dias os participantes permanecem envolvidos em atividades diversas, desde a preparação de oferendas até a entoação de cânticos.
Ancestralidade, crononormatividade e heterotopia
As cosmovisões afro-brasileiras apresentam uma concepção de tempo que se distingue da visão linear e absoluta ocidental. O tempo, nessas perspectivas, possui um “caráter de reversibilidade”. Essa particularidade é atribuída ao seu “caráter performativo”, o que significa que o tempo não é percebido como uma entidade “externa, universal e absoluta”. Pelo contrário, ele é intrínseco às ações e eventos, moldando-se e sendo moldado por eles.
Essa performance do tempo sugere uma fluidez e uma maleabilidade que se contrapõem à rigidez de uma cronologia puramente linear. Um autor que fornece elementos valiosos para essa leitura é Hans Ulrich Gumbrecht. Em sua reflexão sobre o tempo, confere centralidade à presença e à materialidade do momento histórico, trabalhando com uma perspectiva fenomenológica em que o tempo e a história são experimentados através das sensações e do corpo (GUMBRECHT, 2011, p.40).
Um dos aspectos mais importantes das visões de mundo africanas é a ancestralidade, que ganha um novo significado nas manifestações culturais de origem africana aqui no Brasil. Segundo Leda Maria Martins (2021), as culturas de matriz africana em nosso país não apenas mantêm vivas suas tradições, mas também as reinventam e reafirmam a importância da ancestralidade, mesmo em um novo espaço geográfico e cultural. A ancestralidade, portanto, não é apenas uma lembrança do passado, mas uma força viva e contínua que influencia o presente e aponta para o futuro. A relação entre ancestralidade e temporalidade, especialmente no que se refere ao devir e à projeção do futuro, é um dos fundamentos que sustentam a proposta de uma temporalidade “espiralar” (MARTINS, 2021, pp.62-63).
Trata-se, antes, de uma temporalidade em que o passado se faz continuamente presente na constituição do presente e na invenção do futuro. A espiral do tempo, nesse sentido, carrega em si o movimento da renovação e da atualização. Há certo improviso nos rituais, momentos em que o passado é criativamente reencenado, reinventado e reativado. É justamente essa ativação do passado, por meio da ancestralidade, que abre caminho para a existência do futuro.
Esse argumento dialoga com certa postura dos historiadores que, conforme propõe Saidiya Hartman (2020a), realizam interpelações no presente a partir de passados que não se consumaram ou que permanecem irresolutos. Trata-se da presença espectral de experiências violentas e traumáticas, como a do colonialismo escravista, que irrompem no presente e desafiam a construção de um conhecimento histórico pautado pelo ideal objetivista.
Tal visão se assemelha à de Denise Ferreira da Silva (2018). A pensadora sugere uma imaginação radical que questiona a concepção de realidade com a qual estamos familiarizados. Segundo ela, a temporalidade linear rejeita a capacidade explicativa do funcionamento do capital e da experiência escravista, mesmo que, eventualmente, tente incluí-los (SILVA, 2018, p.410). De maneira semelhante, Aílton Krenak (2022) propõe a imagem de um “futuro ancestral”, indicando que o intento do capital é empobrecer a existência e, nesse sentido, os orixás e ancestrais instituiriam mundos onde seria possível experimentar distintamente a vida e, por isso, a urgência da criação de novas realidades, os “pluriversos” (KRENAK, pp. 37-38).
Essa criação de novos mundos também está presente no pensamento de Saidya Hartman (2020b), que se refere aos mortos que a mobilizam para além de sua atuação como historiadora. Esses mortos, seus ancestrais, mas também seus contemporâneos, na medida em que pessoas negras continuam sendo vitimadas pelo racismo estrutural, revelando a persistência da história como uma violência que ainda não terminou de ocorrer (HARTMAN, 2020 pp.936-937).
A escritora mexicana Cristina Rivera Garza (2024) afirma a urgência de repensar o lugar da escrita no contexto neoliberal. Escrever, nessas circunstâncias, não é apenas um gesto estético, mas uma operação ética radical. Questionando-se sobre o que significa escrever quando estamos cercados de mortos, chama a atenção para a potência dos processos de escrita marcados pela dialogicidade e pela coletividade, nos quais o leitor não se apropria do outro como objeto, mas realiza um movimento de desapropriação, abrindo-se ao encontro e à alteridade: “(…) escritas que, por não saberem como se comportar apropriadamente, mostram a face mais crítica, que frequentemente é a face mais outra do que acontece (RIVERA GARZA, 2024, p.28).
Refletindo a respeito da condição colonial e pensando mais especificamente na questão brasileira, Ana Kiffer (2020) mobiliza a noção de “heteropia” para descrever a relação do país com o seu passado, indicando a presença de uma ferida colonial, que faz com que desconheçamos os muros do apartheid racial e social de nossa nação. Essas feridas coloniais são contínuas e não apenas do passado, pois se perpetuam em uma forma de interação, de olhar para o outro.
Nesse sentido, para compreender o tempo normativo, Mariela Solana (2017) menciona a ideia de “crononormatividade”, nos mostrando como uma narrativa hegemônica sobre a organização do tempo foi construída e privilegiada, e de que forma essa naturalização oculta seu caráter sociopolítico. A questão central é que a manipulação social e política do tempo gera rotinas e ritmos corporais diversos, que conferem valor e sentido à maneira como vivenciamos e nos imaginamos no tempo. A crononormatividade refere-se às formas “naturais” de ordenar e valorizar o tempo das vidas consideradas válidas (SOLANA, 2017, p.56).
Desafiando visões tradicionalistas que tendem a encarar os eventos de forma rígida e limitada a datas e fatos verificáveis, defendo que os eventos históricos também devem ser organizados na memória, relembrados e expressos verbalmente. As histórias de vida podem ser contadas através da reconstrução das memórias, permitindo que vozes antes silenciadas e marginalizadas ganhem espaço.
Essas vozes estão em constante diálogo com ancestrais e predecessores. Portanto, uma abordagem narrativa restritiva não é adequada para analisar esses textos e a escrita dessas vidas. Os ritos iniciáticos da religião, que seguem um tempo circular caracterizado por renascimentos sucessivos no espaço sagrado, portanto, estabelecem uma identidade profundamente enraizada no sagrado.
A interpretação das experiências coletivas e individuais em suas distintas temporalidades precisa de algo além de paradigmas generalizantes. Além do uso de marcadores sociais da diferença de modo conectado, é necessário que mobilizemos chaves conceituais que contestem os mecanismos de poder vigentes (MCCLINTOCK, 2010, p.48).
A desconstrução de uma visão hegemônica da história parte da constatação de que a abordagem eurocêntrica e sua insistência na superação temporal dos eventos históricos falha em reconhecer a persistência e a relevância de “passados que não passam”, especialmente para as populações que ainda vivenciam suas consequências no presente.
Constata-se, portanto, que há uma necessidade de se enxergar a disciplina como uma prática de observação crítica e criativa, que repense sua identidade e normas disciplinares (ÁVILA, p.24, 2018). Uma historiografia que problematiza as premissas disciplinares deve ser capaz de dialogar com múltiplas interpretações e reconhecer a complexidade temporal da experiência humana.
*Bárbara Pinheiro Baptista é mestre em história pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
ÁVILA, Arthur Lima de. “O fim da história e o fardo da temporalidade”. Revista Tempo e Argumento, v. 10, n. 25, pp. 243–266, 2018.
BARROS, Marcelo. O candomblé bem explicado (nações bantu, iorubá e fon). Rio de Janeiro: Pallas, 2009.
BEVERNAGE, Berber. “Capítulo 2 – As Madres de Plaza de Mayo e a resistência contra
o tempo irreversível da história”. In: História, memória e violência de Estado: tempo e justiça. Mariana: Milfontes, 2018.
ELBEIN DOS SANTOS, Juana. Os nagô e a morte. Petrópolis: Ed. Vozes, 1977.
GUMBRECHT, Hans Ulrich. “Depois de ‘Depois de aprender com a história’, o que fazer
com o passado agora?”. In: NICOLAZZI et ali. (Orgs.). Aprender com a história? O passado e o futuro de uma questão. RJ: FGV, 2011, pp. 25-42.
HARTMAN, Saidiya. “Vênus em dois atos”. Revista ECO-Pós, Rio de Janeiro, v. 23, n.
3, pp. 12–33, 2020a.
________________. “Tempo da escravidão”. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar, v. 10, n. 3, pp. 927-948, 2020b.
KIFFER, Ana. O Brasil é uma heterotopia. São Paulo: Edições N-1, 2020.
KI-ZERBO, Joseph et al. História Geral da África–Vol. I–Metodologia e pré-história da África”. Unesco, 2010.
KOSELLECK, Reinhart. “Introdução” e “Estratos do tempo”. In: Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2014, pp. 9-25.
KRENAK, Ailton. Futuro ancestral. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
MARTINS, Leda Maria. Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
MCCLINTOCK, Anne. Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Campinas: Editora Unicamp, 2010.
MUDROVCIC, María Ines. “The politics of time, the politics of history: who are my contemporaries?”, Rethinking History, v. 23, n. 4, pp. 456-473, 2018.
PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. “Precisamos falar sobre o lugar epistêmico na Teoria da História”. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 10, n. 24, p. 88 – 114, abr/jun. 2018.
RIVERA GARZA, Cristina. Os mortos indóceis: necroescritas e desapropriação. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2024.
SANTOS, Maria Stella de Azevedo. “Meu tempo é agora. Salvador”. Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 2010.
SILVA, Denise Ferreira da. “O evento racial ou aquilo que acontece sem o tempo”. In. Histórias Afro-Atlânticas. Vol. 2. Antologia. São Paulo: MASP, 2018, pp. 407-411.
SOLANA, Mariela. “Asincronia y crononormatividad. Apuntes sobre la idea de temporalidad queer”, El banquete de los dioses: Revista de Filosofía y la teoría política contemporáneas, vol. 5, n 7, pp. 37-65, 2017.
VIANNA, Alexander Martins. ‘Redes cosmológicas e ensino: histórias que curam porque se cruzam”. Revista Sentidos da Cultura, v. 9, n. 17, p. 9-38, 2022.
Notas
[i] Para um maior aprofundamento a respeito da discussão a respeito da crítica às práticas disciplinares e algumas possíveis respostas da historiografia, cf. ÁVILA, Arthur Lima de.; NICOLAZZI, Fernando e TURIN, Rodrigo (orgs.). A história (in)disciplinada: teoria, ensino e difusão do conhecimento histórico. Serra/ES: Editora Milfontes, 2019.
[ii] Para um maior aprofundamento a respeito da discussão a respeito da crítica às práticas disciplinares e algumas possíveis respostas da historiografia, cf. ÁVILA, Arthur Lima de.; NICOLAZZI, Fernando e TURIN, Rodrigo (orgs.). A história (in)disciplinada: teoria, ensino e difusão do conhecimento histórico. Serra/ES: Editora Milfontes, 2019.
[iii] Narrativas míticas e contos da cultura iorubá, transmitidas oralmente para ensinar valores, tradições e conhecimentos sobre o mundo e a vida. Essas histórias são passadas de geração em geração e desempenham um papel importante na religiosidade afro-brasileira.
[iv] Sobre a discussão a respeito da identidade construída após o processo iniciático, cf. AUGRAS, M. O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô. Petrópolis: Vozes, 1983.
[v] O candomblé é composto por diversas nações, como Ketu, Jeje e Angola, cada uma com suas próprias tradições e rituais, que refletem as culturas africanas de onde essas nações se originaram. Nas nações Ketu e Angola, este ritual é chamado de “Axexê”.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A