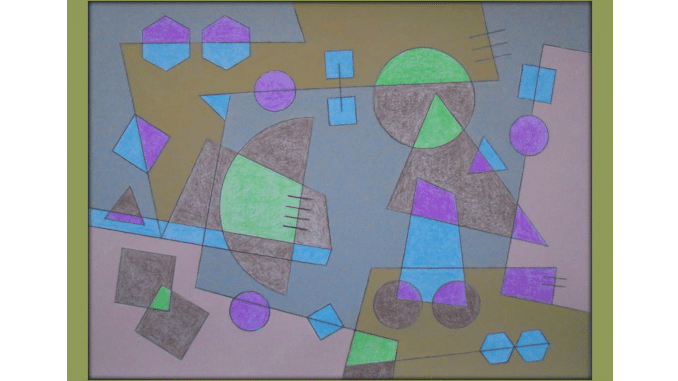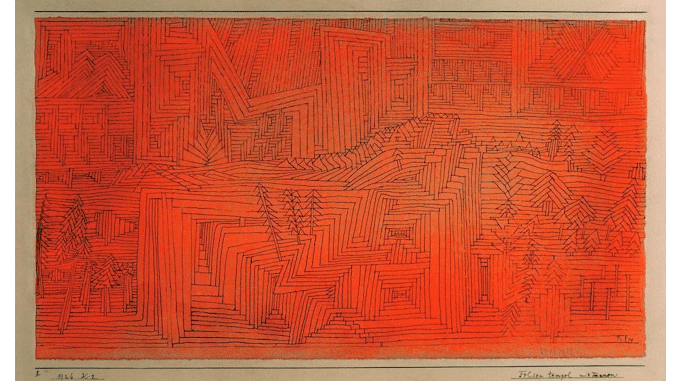Por JOÃO QUARTIM DE MORAES*
Posfácio do livro póstumo recém-lançado de Gérard Lebrun
Imagens fragmentárias de Lebrun
1960-1962
Escolhido pelas autoridades acadêmicas francesas em 1960, aos 30 anos, para ocupar o cargo de “professor francês” de filosofia da velha faculdade da Maria Antonia, o jovem Gérard Lebrun deu seu primeiro curso (“Lógica e linguagem”) em 1961. A disciplina era a Lógica, que ele partilhou com o então também jovem José Arthur Giannotti. Aluno do primeiro ano de filosofia, não deixei passar a oportunidade de me inscrever no curso, a despeito das advertências de colegas mais tímidos, que levavam ao pé da letra as conversas de corredor sobre a fama de “durão” de José Arthur Giannotti.
Mais duro, na verdade, era encarar os comentários de Gérard Lebrun aos trabalhos escritos que ele nos dava para fazer. Lia-os com atenção e os devolvia em ritmo de “suspense”, começando pelo melhor e prosseguindo em ordem de qualidade decrescente. Incomodava-o sobremaneira a retórica oca e prolixa dos filosofantes amadores. Fácil imaginar o estado d’alma dos que iam ficando para o fim.
Em uma das devoluções comentadas das dissertações dos alunos, permitiu-se uma comparação culinária: “seu trabalho”, disse à autora, “me faz pensar na cozinha chinesa: por baixo do molho não sabemos o que estamos comendo”. Anos mais tarde, quando bolsista em Paris, constrangido pela limitação de meus recursos monetários a frequentar os baratos restaurantes sino-vietnamitas do Quartier Latin, entendi plenamente a analogia.
Reconhecimento
Para minha formação intelectual e acadêmica a contribuição de Gérard Lebrun, de quem fui aluno e amigo, foi muito grande. É geral o reconhecimento da excepcional qualidade filosófica de suas aulas, que uniam sólido conhecimento dos textos clássicos a uma exposição densa, muito bem construída, que prendia a atenção e mobilizava a inteligência dos que o ouviam.
Em tudo que se referia ao trabalho intelectual, era exemplarmente rigoroso e exigente. Ter tido tal mestre me ajudou não somente a adquirir uma formação teórica consistente, mas também a desenvolver o gosto pelo artesanato do texto. Se posso me considerar mediocremente versado na arte de compor textos, a ele devo substancial contribuição.
Entre março e outubro de 1965, segui o curso de pós- -graduação de que ele se encarregara, consagrado ao “discurso hegeliano”, tema que anos mais tarde serviria de subtítulo a seu notável La patience du concept. Gérard Lebrun costumava dizer que as categorias hegelianas só são compreensíveis (ou, mais coloquialmente, “só funcionam”) sobre o fundo do absoluto, portanto de uma teologia racional. Parece-me que não era apenas uma “boutade”.
A esquerda hegeliana, Karl Marx incluído, se afirmou filosoficamente negando a ambição filosófica maior de Hegel: pensar o absoluto como sujeito e o finito como momento da substância infinita. Podemos entender essa negação como uma separação entre o racional e o teológico? Tiramos a casca e ficamos com a fruta? Essa imagem, que Louis Althusser ironizou, pode ser melhorada. O desmonte do edifício hegeliano por seus epígonos materialistas permitiu separar belas peças que foram transplantadas, com êxitos variáveis, para outros campos filosóficos.
O materialismo histórico, as filosofias da alienação, a ideia de processos que incorporam os momentos que eles ultrapassam, os muitos usos da Aufhebung são exemplos bem conhecidos de tais transplantes. Para Gérard Lebrun, entretanto, o importante era pensar Hegel em si e por si; antes de mais nada compreender a lógica imanente do “discurso hegeliano” (subtítulo de A paciência do conceito, sua obra maior, como mencionado). Aos críticos que perante a majestosa construção filosófica hegeliana cobravam a comprovação de seus pressupostos, ele responde liminarmente: eles pedem provas a um homem que pergunta o que é provar.
O distanciamento crescente de nossas posições políticas respectivas não afetou nossas relações, mesmo porque a passagem do Gérard Lebrun pelo comunismo deixara-lhe arraigados traços culturais. Dentre os escritores contemporâneos seus compatriotas, preferia de longe Louis Aragon e Roger Vailland, dois comunistas.
Foi um dos primeiros e certamente dos mais atentos leitores dos escritos de Louis Althusser sobre a dialética materialista. Seu lento e gradual “glissement à droite” não o fez perder de vista certos valores e ideias da esquerda ou ao menos das tradições republicanas de seu país. Tinha mesmo repentes de retórica proletária: “detesto os álbuns de família, porque só os burgueses têm memória”, disse-me uma vez.
A “lei de Lebrun”
Ainda nos primeiros tempos de sua permanência no Brasil, Gérard Lebrun compareceu a um congresso de filosofia em uma capital do Nordeste. Achei no Google alguns dados sobre o “IV Congresso Nacional de Filosofia – Centenário de Raimundo Farias Brito”, que transcorreu em Fortaleza, em outubro de 1962. Esse IV Congresso, como os que o tinham precedido a partir do primeiro, em 1949, foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Filosofia sob a tutela do ideólogo integralista Miguel Reale.
Em 1941, Miguel Reale se tornara catedrático da Faculdade de Direito (por decisão judicial, já que a Congregação, com o apoio dos estudantes antifascistas, havia recusado sua nomeação). No pós-guerra, adotou uma posição liberal de direita, bem adaptada ao ambiente político da guerra fria. Em outubro de 1949, fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia do qual foi o guia intelectual. Em 1951, seu Instituto lançou a Revista Brasileira de Filosofia.
Articulado com a alta burguesia industrial (como disse alguém, as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes), ele se consolidou como filósofo eminente da direita nacional. Não se conformava, entretanto, com a vitória de João Cruz Costa, positivista de esquerda, no concurso para a cátedra de Filosofia da FFCL da USP em 1951, em que derrotou vários outros candidatos, entre os quais dois filonazistas.
Gérard Lebrun certamente estava informado de que Miguel Reale detestava Cruz Costa e seu entorno acadêmico. Mas por dever de ofício (era o “professor francês” de filosofia enviado ao Brasil pela cooperação cultural de seu país), compareceu ao encontro orquestrado por Miguel Reale. Avesso à retórica do espiritualismo diletante dos burgueses bem-pensantes, ele voltou irritado com as baboseiras metafísico-teológicas do conformismo filosófico dominante no ambiente.
Mas anunciou, vingativamente, uma descoberta teórica a propósito da conexão entre tendências ideológicas e preferências gastronômicas dos pensadores participantes, que compensou o tédio intelectual que emanava da maioria das comunicações que tivera de ouvir. Notei, disse com seu ainda pesado sotaque francês, que quanto mais abstrata e espiritualista era uma comunicação, maior era a quantidade de lagosta que seu autor comia nos almoços e jantares do congresso. E concluiu: “– Acho que vou publicar a descoberta desta relação com o nome de Lei de Lebrun: o grau de espiritualidade de um pensamento é diretamente proporcional ao consumo de frutos do mar de cada pensador”.
Uma incursão inicial no pensamento brasileiro
Decidido a participar dos debates político-filosóficos que mobilizavam a inteligência brasileira naquele início dos anos 1960, Gérard Lebrun preparou um comentário a Consciência e realidade nacional, de Álvaro Vieira Pinto, livro em dois volumes publicado em 1960-61, que foi recebido com muito interesse em largos círculos da intelectualidade.
Tanto assim que, entre abril e julho de 1962, apareceram quatro análises do livro: “Consciência e realidade nacional”, por Leandro Konder, em Estudos Sociais, n.12, abril 1962; “Consciência e realidade nacional”, por Luís Washington Vita, na Revista Brasiliense, n.41, maio/junho 1962; “Consciência e realidade nacional”, pelo padre Henrique C. Lima Vaz, na Síntese, junho 1962; “O problema da ideologia do desenvolvimento”, por Michel Debrun, na Revista Brasileira de Ciências Sociais, II-2, julho 1962.
O artigo de Gérard Lebrun, “A realidade nacional e seus equívocos”, saiu na Revista Brasiliense, no. 44, novembro/dezembro 1962. É o único com título explicitamente crítico, embora também os demais se esforcem por apontar limites e problemas da longa obra em pauta. Tentei ser objetivo na comparação, mas, várias décadas depois, continuo achando que o comentário de Gérard Lebrun, de longe, é o mais interessante. A concisão e a precisão de sua crítica contrastam com o discurso prolixo do ilustre pensador, a tal ponto que pode ser lida com proveito mesmo pelos que não tiveram tempo ou paciência para percorrer o original de cabo a rabo.
Algumas cartas
Conservei poucas cartas de Gérard Lebrun. Em ordem cronológica, a mais antiga está datada de São Paulo, 25 de abril de 1966 e endereçada a Paris, onde eu residia com bolsa de estudos de doutorado. O traumático final de seu casamento com a jovem médica Estelle Blanc, com quem se estabelecera em São Paulo em 1960-61, pesava-lhe amargamente. Não me lembro da data da separação: 1963? 1964?
Estelle Blanc voltou para a França; ele permaneceu em São Paulo, até o fim de 1966. O direito francês, naquela época, não admitia o divórcio por mútuo consentimento. Um dos cônjuges era obrigatoriamente considerado culpado pela ruptura do pacto conjugal. No caso, o “culpado” era ele. Estelle Blanc recebeu a guarda do filho, Stéphane, bem como a pensão a que ela tinha direito.
Gérard Lebrun evoca com ironia, nessa carta, a solidão em que se tinha refugiado: “Nada de novo. Escrevo e, fora Bento Prado Jr., esta semana, não vi rigorosamente ninguém”. Pergunta “plaisamment” se ele seria tão feio ou maldoso (“si laid et si méchant”) para que os outros mostrassem tanta facilidade (“aient si peu de peine”) em evitá-lo. Mas reitera, distanciando-se ironicamente de seu próprio sofrimento: digo isso “pour rire, je le répète”. Um riso sem alegria, de resignado amor-próprio.
Conservei também três cartas de março de 1967. Duas delas são de Gérard Lebrun, que já tinha deixado o Brasil e fora convidado por Gilles Gaston Granger para assumir o cargo de professor na Universidade de Aix-en-Provence. Uma para mim, outra para Robert Henri Aubreton, o eminente helenista que seus admiradores mais calorosos consideram o fundador dos estudos clássicos no Brasil. De 1952 a 1964, ele assumiu a Cátedra de Língua e Literatura Grega da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.
A carta que Gérard Lebrun me dirigiu está sem data, mas a que ele escreveu a Robert Henri Aubreton, da qual me enviou uma cópia, está datada “Aix, 2-3-67”. A terceira, de Robert Henri Aubreton a Gérard Lebrun, que este também me transmitiu, leva a data de 18 de março de 1966. Com certeza, Robert Henri Aubreton escreveu erroneamente 1966 em vez de 1967. Tanto assim que ele comenta que deve “retourner sous peu à São Paulo” para receber o título de Doutor Honoris Causa que a USP lhe concedeu. De fato, Robert Henri Aubreton recebeu a honraria em 31 de maio de 1967.
O assunto das três cartas é trivial: uma sondagem que fiz sobre a possibilidade de prolongar minha bolsa de estudos que expiraria no final do ano letivo europeu de 1966-67. Na impossibilidade de obter um prolongamento da bolsa, Gérard Lebrun tentou conseguir para mim um cargo de leitor em algum centro universitário na França. Tampouco foi possível. Com mais razão do que a raposa da fábula, posso dizer que as uvas estavam verdes: minha licença remunerada do cargo de instrutor de história da filosofia na USP expirava no fim de 1967 e eu devia retornar para o ano letivo de 1968.
Só referi essas banais peripécias administrativas para contextualizar a carta de Gérard Lebrun. Ela não está datada, mas o carimbo do correio no envelope marca “Aix en Provence, 6-3-1967”. Ele explica o insucesso de suas “démarches” junto a Aubreton, cuja única e vaga sugestão foi um cargo de “léctorat de portugais” em Lyon; ao que Gérard Lebrun comenta: “ce cornichon ne m’indique pas le nom du prof. de portugais”. Mas o interesse da carta não está nas “cornichonadas” do velho helenista e sim em duas considerações, uma de ordem pessoal, outra filosófica, que oferecem um autorretrato, em traços fortes e breves, do estado de espírito do autor.
Ele se diz deprimido, exausto “pelas demasiado longas estadias em Paris”, onde “não consigo trabalhar”. “Decididamente, fora de meu ‘claustro’ e de minhas atividades profissionais não sirvo mais para nada (je ne vaux plus rien).” E reclama: “deve ser o efeito da idade” (tinha então 37 anos!). Não me lembro qual o principal motivo que o retinha em Paris por mais tempo do que ele gostaria.
Sequelas do processo de divórcio? Assuntos com a administração acadêmica? Ele frequentemente visitava sua irmã Danièle, atriz da Comédie Française, casada com François de Closets, jornalista e ensaísta de sucesso. O casal era simpático, Lebrun se dava bem com a irmã, mas implicava com o pragmatismo gastronômico do cunhado. Ele próprio, se fosse o caso, podia se contentar com uma simples baguette, queijo, presunto ou patê, mas cultivava o gosto pelo prazer compartilhado de um bom restaurante.
Lembro-me de uma discussão sobre o assunto que ele travou com o cunhado. Sempre muito ocupado, este defendia os “fast food”, onde alimentar-se não toma muito tempo. A ideia do symposium certamente o deixava indiferente: era um homem dos “mass media”. Gérard Lebrun, obviamente, tinha outras referências culturais.
De maior interesse para a elaboração filosófica de Gérard Lebrun é o parágrafo da carta em que dá notícia da redação de sua tese principal: “Estou mexendo pela última vez no Kant. Você verá: é um velho bem pré-nietzschiano, cuja filosofia prática (se a consideramos em seu estado selvagem) toca o réquiem de todo humanismo. Sua crítica da teleologia na 2ª parte da K.U. [Crítica do Juízo] é mais do que o tiro de misericórdia na teologia: ela é a desmistificação do conceito de práxis em seu sentido mais vasto, dos gregos a Marx, inclusive. Não veja nisso um irracionalismo: é preciso assim fazer tábula rasa para ter chance de mostrar mais adiante (começo a achar que Jules [Vuillemin] apenas pressentiu isso) que não pode mais haver uma “teoria do conhecimento” que seria “superior” ao intuicionismo de Kant, mas somente, em seu lugar, uma ontologia da linguagem. Dito de outro modo, Kant é o liquidador – e não se volta atrás nessa liquidação (como parece querer fazê-lo a Filosofia da Álgebra): não é mais possível refazer os laços com o Infinito – no sentido em que o tomava a metafísica clássica etc. etc. Não devemos, por isso, cair nas delícias [ou delírios? Não fiquei seguro de ler um “c” ou um “r” na carta manuscrita] da filosofia da Finitude. Em síntese, me parece que há uma aresta estreita a seguir entre Jules e Foucault. Mas, sem dúvida, uma vez denunciado (e a esse respeito quem é sério está de acordo) o marxismo de Marx, senão o de Althusser, como um obscurantismo… Desculpo-me da brevidade dessas anotações: eu determino somente e “grosso modo” em qual direção me oriento”.
Seguem algumas breves anotações sobre a carta. Se bem entendi, o ocaso do Infinito abre espaço para as delícias (ou delírios) da finitude. Em qualquer hipótese, a finitude comporta delícias e delírios, termos que de resto não se excluem, podendo mesmo se completar. Diferentemente do que sugerem alguns comentadores da obra de Gérard Lebrun, Jules Vuillemin era então para ele uma referência filosófica mais importante do que Michel Foucault ou Gilles Deleuze.
Sem dúvida, sua ligação com Michel Foucault era forte, mas seus temas e o modo de desenvolvê-los o aproximavam bem mais de Jules Vuillemin. Os dois estiveram em São Paulo em 1965, muito provavelmente estimulados pela presença de Lebrun. As aulas de Michel Foucault na faculdade da Rua Maria Antonia foram uma festa cultural muito concorrida. Jules Vuillemin expôs “en petit comité”, para professores do Departamento. Nem suas aulas nem ele próprio exerceram impacto e desfrutaram de sucesso de público comparável ao de Foucault: dirigia-se a um público mais restrito
A respeito de Jueles Vuillemin, Pierre Bourdieu expressou-se com concisa eloquência: “pouco conhecido pelo grande público, ele incarnava uma grande ideia da filosofia, uma ideia talvez um pouco grande demais para nosso tempo, demasiado grande em todo caso para ser acessível ao público que ele teria merecido”. Mutatis mutandis, poderíamos dizer algo semelhante a respeito de Gérard Lebrun.
Tratando-se de uma carta amistosamente franca e informal, surpreendeu-me um pouco o recurso ao argumento de autoridade (“tous les gens sérieux”, no original) para relegar “o marxismo de Marx, senão o de Althusser” ao campo dos obscurantistas. Gérard Lebrun não era afeito a proselitismos ideológicos, nem se comprazia em diatribes antimarxistas. Não me ocorre nenhuma explicação precisa para tão sumária condenação não apenas do marxismo, mas do próprio Marx. Estaria irritado com o ambiente estudantil em Aix e na França em geral? Teria pressentido a radicalização da esquerda que eclodiria em maio de 1968?
Ou, ao contrário, teria fechado os olhos para a corrente de indignação que mobilizou a juventude europeia e estadunidense contra as atrocidades da guerra do Vietnã? Em todo caso, ele conhecia bem as ideias filosóficas de Marx. Basta ler alguns de seus escritos reunidos em A racionalidade equívoca, a começar pelo precioso ensaio sobre “As feridas do espírito”, para constatar que ele comenta os textos de Marx, notadamente os que criticam Hegel, com objetividade, segurança e precisão.
É verdade que em outro desses escritos, “Marx e a história”, ele admoesta os marxistas que em nome da “práxis revolucionária” desqualificam o debate teórico, acrescentando que “é grave que muitos textos de Marx autorizem este obscurantismo e esse desprezo pela ‘Teoria’”. Em síntese, por nunca ter distinguido “exatamente” “saber científico e ideologia”, Marx teria deixado aberto “o caminho para esse pragmatismo tacanho”. Restaria saber se é pertinente a exigência de uma distinção “exata” entre ciência e ideologia e até que ponto um grande pensador é responsável por epígonos medíocres que empobrecem suas ideias.
Quando nos encontrávamos, em 1966 e 1967, não deixávamos de falar de política, mas não colocávamos divergências ideológicas na ordem do dia de nossas conversas. Ele preferia, sem ânimo polêmico, evocar jocosamente anedotas sobre os comunistas do meio estudantil que frequentara algum tempo em sua juventude.
Quem já viveu em Paris entenderá uma conhecida ironia de Jacques Duclos, dirigente histórico do Partido Comunista Francês (PCF), que Gérard Lebrun gostava de lembrar, imitando seu sotaque meridional. Admoestando os comunistas que recorriam a fórmulas estereotipadas para expor as posições do Partido, acques Duclos aconselhava: “il ne faut pas dire, camarades, Marx-Engels-Lénine, comme on dit La Motte-Picquet-Grenelle” (um dos mais conhecidos entroncamentos do metrô parisiense).
Entre São Paulo e Aix-en-Provence
Foi Gilles-Gaston Granger, que tinha sido professor na USP de 1947 a 1953, quem mais pesou na carreira acadêmica de Lebrun, convidando-o, quando ele voltou do Brasil em 1966, para integrar a área de filosofia da Universidade de Aix-en-Provence. Permaneceu nela até o fim da vida. A partir de 1974, entretanto, retornou a São Paulo, juntando as duas metades de sua vida: um semestre na USP, outro em Aix.
Durante esses anos só tivemos contato durante seu semestre francês. Fui visitá-lo em Aix algumas vezes, três pelo menos. O ambiente era muito agradável, longos almoços em que estudávamos com afinco, na alegre companhia de seus colegas e amigos, as delicadas nuances dos rosés de Provence, sem desprezar os rouges e os blancs. Penso que ele estava em um dos bons momentos de sua existência. Que tenha optado, mesmo assim, por retomar a atividade acadêmica em São Paulo comprova o gosto que tinha por essa nossa grande Babilônia tropical.
Exatamente porque os embates políticos não o apaixonavam, sua lenta e gradual adesão ao liberalismo foi silenciosa.
Em 1974, quando toda a opinião progressista francesa investiu suas esperanças em François Mitterand, candidato da Union de la Gauche, ele me disse, rindo, que ia votar em Valéry Giscard-d’Estaing, candidato da direita liberal (Giscard ganhou, por uma ínfima porcentagem). Ultrapassa o propósito dessas anotações memorialísticas comentar os escritos políticos que Gérard Lebrun publicou em jornais brasileiros de grande circulação.
Observamos apenas que ele procurou manter espírito crítico em relação aos confrontos ideológicos, sem deixar de expressar sua adesão aos valores liberais. Seu melhor escrito sobre política é o pequeno livro O que é poder, publicado em 1981 pela editora Brasiliense.
Não tenho certeza de ter encontrado Gérard Lebrun em minha primeira volta ao Brasil, em maio de 1980, ao abrigo da anistia política outorgada pelo general Figueiredo, último chefe do regime ditatorial, em setembro de 1979. Visitei o Oswaldo Porchat, logo ao chegar em São Paulo.
Ele tinha me procurado em Paris um pouco antes; como eu estava viajando, deixou um recado dizendo que estava organizando um curso de pós-graduação em Filosofia Política no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência (CLE) da Unicamp e me convidava para integrar o núcleo docente. (Eu iniciara minha atividade docente na USP em 1965, a convite dele, como instrutor de Filosofia Antiga.) Fui à Unicamp, para acertar minha vinda com Porchat e com Giannotti (também participante da iniciativa), mas só assumi o cargo em janeiro de 1982.
Retomei contato com Gérard Lebrun nos anos seguintes. Ele então morava num pequeno apartamento em frente à PUC e frequentava o “Pingão” no Largo do Arouche; lá nos consagramos a longas conversas ao léu e a passeios sem rumo pela memória.
Durante algum tempo, atuou na Unicamp; voltamos juntos para São Paulo várias vezes. Dificilmente poderíamos chamar de passeio e, menos ainda, de ao léu o percurso rodoviário Campinas/São Paulo. Mas nossas conversas, sim.
No final dos anos 1980, vimo-nos pouco, em algum jantar na bela mansão de José Arthur Giannotti no Morumbi. Lembro-me bem de nosso último encontro, embora não da data (começo dos anos 1990, provavelmente). Tínhamos marcado encontro no velho Bar Brahma. Calculei mal a duração do trajeto (trem da CPTM + Metrô) que me levaria da zona oeste à Praça da República. Cheguei atrasado uns quinze ou vinte minutos.
Desculpei-me, dizendo-lhe que à indelicadeza de tê-lo feito esperar não juntaria explicações que, mesmo sendo verossímeis, acrescentam um tédio suplementar ao aborrecimento da espera. Um sorriso atravessou-lhe a face sempre tensa; replicou em francês: “Tu es un beau sophiste”. Nem ele, nem muito menos eu, pressentíamos que aquela seria a última vez que nos víamos.
Terminados os bons chopps do Brahma (bem melhores do que a banal culinária), ele quis caminhar um pouco, continuando a conversa. Disse que iria pegar um táxi na Avenida São Luís, perto da Consolação. Da celebrada esquina da São João com a Ipiranga até lá, como se sabe, a distância não é grande. Lebrun nunca foi um esportista, mas era bom andarilho. Afligiu-me a lentidão com que percorreu o trajeto. Chamou um táxi. Despedimo-nos afetuosamente.
Não muito tempo depois, voltou à França, com certeza amargurado por seu nome ter sido caluniosamente envolvido em uma sórdida trama policial no Rio de Janeiro. Não mais nos comunicamos. Soube que morreu sozinho em Paris no último mês do século e do milênio, mas não faltaram amigos e colegas em seu funeral. Um quarto de século depois, impõe-se o reconhecimento da excepcional qualidade de suas aulas, da singular importância de sua obra filosófica, de seu talento de ensaísta e de sua contribuição à inteligência brasileira.
*João Quartim de Moraes é professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Unicamp. Autor, entre outros livros, de A esquerda militar no Brasil (Expressão Popular) [https://amzn.to/3snSrKg]
Referência

Gérard Lebrun. A racionalidade equívoca – inéditos e dispersos. Organização: Ruth Lanna & Pedro Paulo Pimenta. São Paulo, Unesp, 2025, 350 págs. [https://amzn.to/49NEqca]