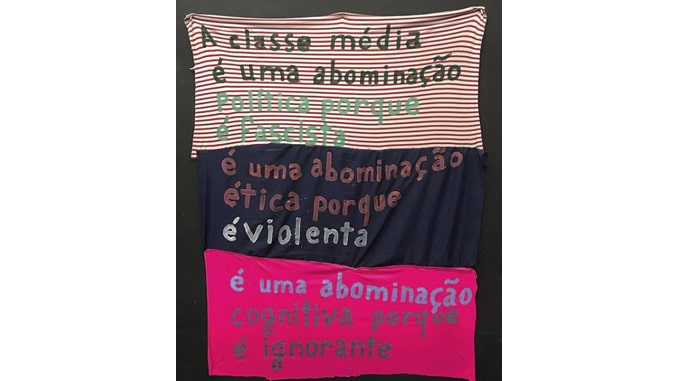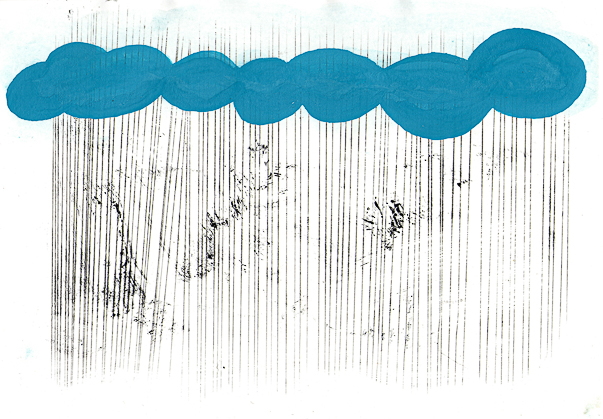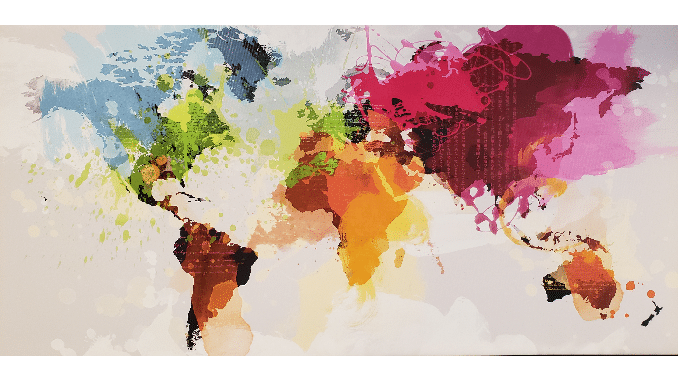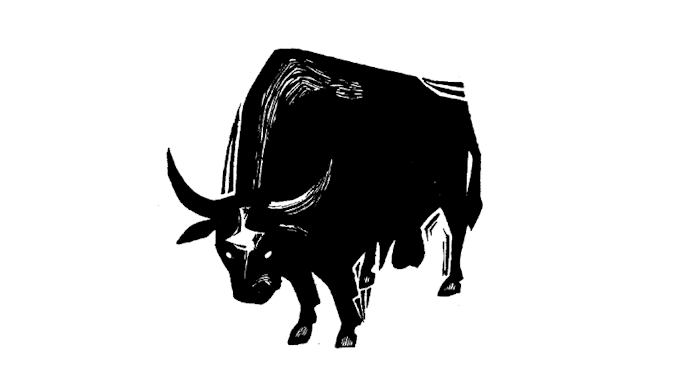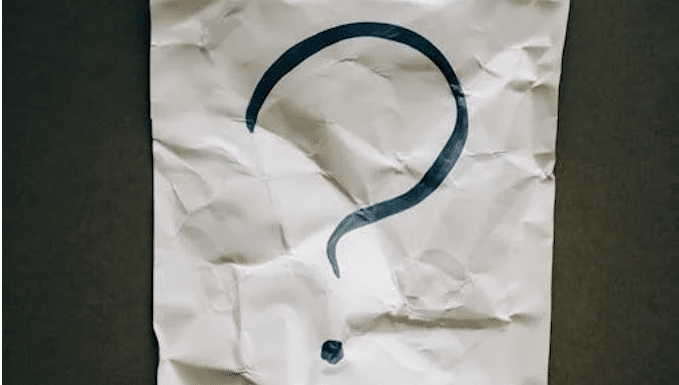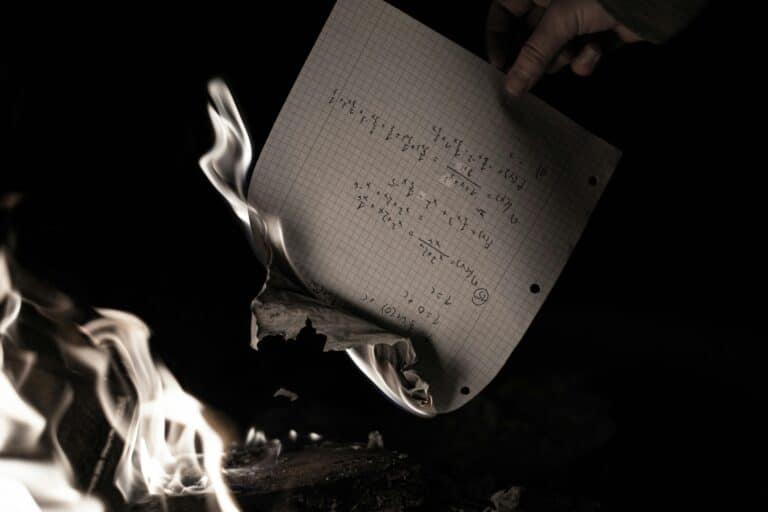Por EMILIO CAFASSI*
A promessa de exterminar a casta na Argentina revelou-se uma farsa tragicômica, onde o exorcista se tornou o sumo sacerdote da corrupção. O que se instala não é uma nova política, mas a velha engrenagem de suborno com novos operadores, corroendo a república desde seu núcleo
Da promessa anticasta ao altar do suborno
Javier Milei não descobriu a casta: apenas batizou com esse nome o cansaço social com uma liderança que vive em outra dimensão. Como apontou o escritor argentino Alejandro Horowicz, a raiva não é produto de uma invenção retórica, mas um fato da realidade: políticos, sindicalistas e líderes de todos os tipos se exibem como milionários diante de um país empobrecido.
É muito difícil encontrar um membro do establishment, mesmo entre facções opostas na chamada “fenda” – aquela polarização entre kirchnerismo e antikirchnerismo – que não tenha transformado a política em um atalho para a riqueza pessoal, blindada por privilégios, regalias ou favores judiciais.
Javier Milei soube ouvir essa raiva, nomeá-la e transformá-la em capital político. Ele até cultivou uma aura de honestidade ao divulgar publicamente sua verba para despesas de gabinete, um gesto performático que buscava diferenciá-lo do privilégio habitual. A sua narrativa “anti-casta” foi a tradução política de um grito acumulado ao longo de décadas: “chega de privilégios, chega de corrupção!”.
Mas o paradoxo argentino se desenrolou com a velocidade da luz. O mesmo forasteiro que prometeu explodir a toca acabou se tornando seu sacerdote mais fiel. Aquele que chegou com a motosserra para cortar os fios da velha trama foi pego no mesmo emaranhado que jurou incendiar: malas circulando sem controle pelo aeroporto vindas de voos particulares, contratos superfaturados, comissões ilegais naturalizadas, familiares e amigos nos centros nervosos do poder. O rugido do leão contra a corrupção tornou-se um miado doméstico abafado entre subornos, propinas e vantagens. A “anticasta” acabou fundando sua própria casta, um espelho das anteriores, com antigos membros reciclados em suas fileiras.
Os escândalos se desenrolam com a regularidade de uma série de filmes B: os mais flagrantes começam com a venda de candidaturas partidárias como se fossem pastéis de feira; depois, a criptomoeda “Libra”, nomeada com ironia astrológica para disfarçar um criptogolpe; depois, as malas mágicas trazidas ao país que reviveram o espectro Antonini-Wilson – o caso de 2007 em que um empresário venezuelano tentou entrar na Argentina com uma mala cheia de dólares não declarados; e, finalmente, a revelação mais corrosiva: as gravações de áudio de Diego Spagnuolo, então diretor da Agência Nacional de Deficiência (Andis), a agência estatal responsável por ajudar pessoas com deficiência, descrevendo comissões milionários na compra de medicamentos dentro de sua agência.
Nessas gravações atribuídas à sua voz, Spagnuolo acusa Eduardo “Lule” Menem – braço direito de Karina Milei – de montar um sistema de propina que incluía exigir uma redução de 8% nas licitações de empresas fornecedoras, com 3% reservados para a irmã do próprio presidente. Tudo isso em um país onde a corrupção é tão naturalizada que uma engrenagem libertária como Lule Menem pode justificar o dízimo como uma formalidade: “todo mundo faz isso”.
O paradoxo se consuma: a anticasta se torna o ator principal na própria tragicomédia que jurou calar. Mesmo vozes inicialmente simpáticas registram o colapso da narrativa: o mandato anticorrupção se desfaz ao entrar em contato com o verdadeiro porão do poder, aquele subsolo onde os retornos1 são tramados.
Medicamentos, PAMI e a maquinaria de saques
Para acompanhar o contexto subjacente, vale a pena esclarecer o que exatamente uma farmácia significa no mundo da saúde argentino. Não se trata de um simples depósito ou de uma farmácia de venda livre. Na cadeia de valor farmacêutica, primeiro vêm as empresas farmacêuticas que produzem os medicamentos; depois, os distribuidores, que armazenam e movimentam o estoque em nome dessas empresas; e só então as empresas farmacêuticas, que compram os medicamentos e os revendem, buscando se tornar o último elo antes do consumo.
Seus negócios se multiplicam quando conseguem contornar as farmácias e vender diretamente ao Estado em grandes licitações, onde a lucratividade é maior.
Na Argentina, existem quase mil farmácias, mas três delas respondem por 70% do mercado: Del Sur, Monroe Americana e a notória Suizo Argentina, mencionada neste escândalo. Foi justamente um de seus diretores, Emmanuel Kovalivker, que foi pego pela justiça fugindo de casa com US$ 266.000 em envelopes e 7 milhões de pesos em dinheiro, prova material aparente do circuito de retorno denunciado nas gravações de áudio. Eles não são meros intermediários inocentes: suas habilidades de lobby e seu controle sobre o fluxo de medicamentos os tornam peças decisivas em qualquer esquema de corrupção ligado à saúde pública.
O Programa de Assistência Médica Integral (PAMI), uma instituição que deveria ter sido um bálsamo e proteção para os idosos e um escudo para os vulneráveis, acabou se tornando um butim partidário e uma mina de ouro. Licitações expressas por fraldas no valor de centenas de milhões de dólares, exigências de reembolso por parte dos funcionários e as nomeações em cascata de quadros e familiares libertários revelam uma máquina onde a motosserra não corta privilégios: ela os multiplica.
A Agência Nacional para a Deficiência (Andis), epicentro do escândalo e até recentemente chefiada por Diego Spagnuolo, teve que ser intervencionada com urgência após a divulgação das gravações. Mas o mecanismo de corrupção não para por aí: estende-se a agências vizinhas, como a PAMI, replicando a lógica da pilhagem. Como se não bastasse diluir medicamentos por meio de vetos ou “reformas” contábeis, roubam duas vezes: primeiro com o reajuste, depois com o superfaturamento de contratos fraudados. Não é a casta que pilha; é a anticasta ajoelhada no mesmo altar, com novos oficiantes e antigas liturgias.
O Ministério da Segurança, sob o punho de ferro de Patricia Bullrich – encarregado de reprimir, entre outros, os aposentados que protestam todas as quartas-feiras em frente ao Congresso contra a queda de sua renda – parece ser o ministério com o maior número de contratos concedidos à Suíça Argentina: mais de oito bilhões de pesos em apenas alguns meses, segundo documentos oficiais de licitações públicas. Não se trata de um órgão periférico, mas sim do coração coercitivo do Estado, onde a retórica da ordem coexiste com a opacidade contratual.
A paradoxo é brutal: o mesmo aparato que reprime com gás e cassetetes aqueles que protestam nas ruas alimenta com dinheiro público a empresa apontada no epicentro da investigação por subornos. Ironias da época: enquanto se aplica o porrete nos pobres que se manifestam, acaricia-se com contratos os fornecedores que lubrificam o mecanismo dos retornos.
O pacto cínico e a pedagogia do suborno
Mesmo nas trincheiras jornalísticas com pouca simpatia pelo kirchnerismo, as reportagens convergem para o estrutural. Carlos Pagni, do aristocrático diário La Nación, resume: a corrupção argentina tem características crônicas e se organiza em “circuitos” que alimentam a política. Os principais: medicamentos, jogos de azar, obras públicas, alimentação e o regime industrial da Terra do Fogo. Diego Spagnuolo tocou em um desses fios expostos: o dos medicamentos.
A novidade não está na trama – já familiar à sociedade –, mas no papel do exorcista que se torna oficiante. Javier Milei, que se apresentou como um dissidente, parece preso à continuidade de práticas e nomes. Com um agravante tático: não há fusíveis. Sua irmã Karina, a única pessoa em quem ele confia plenamente, foi imediatamente visada. A simbiose fraternal transforma cada processo judicial em um golpe direto na estrutura de poder.
A corrupção, aliás, não é apenas um vício moral: é o que o próprio Javier Milei chamou de “degeneração fiscal” ao acusar seus oponentes. Todo suborno é transferido para o orçamento na forma de superfaturamento. Assim, a Suíça-Argentina passou de 3,9 bilhões de pesos arrecadados no ano passado para 108 bilhões neste ano, um salto de quase 28 vezes que a lógica do “retorno” explica melhor do que qualquer estratégia de marketing.
A voz atribuída a Diego Spagnuolo explicou que era justamente a Suizo Argentina que convocava as demais farmácias para impor a nova alíquota de propina: não mais os históricos 5%, mas 8%. Do total, 3% deveriam ir para Karina Milei. O presidente, que discursa contra “promotores degenerados”, omite que a maior degeneração vem do banquete de propina que seu governo permite. A motosserra corta direitos, enquanto o desvio expande gastos. A aritmética é simples: o que é roubado de cima é pago de baixo, na forma de demissões, aposentadorias corroídas e hospitais sem suprimentos.
Ao mesmo tempo, a normalização do crime avança como uma segunda camada de ferrugem. Quando Eduardo “Lule” Menem tranquiliza um militante com a frase: “Aceitar propina é normal”, não estamos mais falando de incidentes isolados, mas sim de uma linguagem que degrada todo o sistema político. O que antes era escondido por vergonha torna-se uma formalidade administrativa. A propina deixa de ser exceção e vira rotina.
O próximo passo é previsível: se o suborno se tornar costumeiro, o Estado deixa de representar a legalidade e se torna um mercado de favores. Lá, os direitos não se aplicam mais, mas sim as taxas fixadas pelo provedor habitual, com o funcionário como o cobrador silencioso.
O resultado institucional é um cenário precário. O Congresso finge deliberar enquanto o Executivo reescreve leis por decreto ou as anula com um veto (não sem apoio da oposição), aquele fóssil monárquico que hoje atua como o executor do voto. O Departamento de Justiça, acostumado a investigar presidentes aposentados em vez de presidentes em exercício, funciona como uma ampulheta parada: os casos se arrastam até se liquefazerem.
A opinião pública, saturada pelas operações midiáticas, consolida o pacto cínico que sustentou o governo de Carlos Menem na década de 1990: “Ele rouba, mas faz coisas”. Javier Milei, que prometeu desmantelar esse pacto, acabou assinando-o com tinta indelével.
Essa degradação não se limita à contabilização de propinas: é também simbólica e cultural. Onde antes havia abuso de rua, hoje há discurso presidencial. Onde o veto era uma exceção, hoje é um método. Onde o escrache (uma forma de ativismo político) nasceu como uma forma de memória militante, hoje é caricaturado para criminalizar o protesto, como analisei em artigos recentes.
A gramática do poder é sexualizada e humilhada. O adversário não é debatido: ele ou ela é possuído e subjugado. A deficiência não é acompanhada: é ridicularizada. A pobreza não é assistida: é multada por vasculhar o lixo. Uma política higiênica é imposta em tempos de barbárie: desinfetar o “inimigo” com um porrete enquanto o orçamento sangra. E, no entanto, há uma exceção: onde reinam as propinas, os gastos públicos não são cortados, mas prosperam.
O caso Diego Spagnuolo, com suas gravações e advogados, irrompe como um cisne negro levantando a cortina de um tribunal já familiar. Há Karina e “Lule” Menem, os encontros sob medida, as mensagens de WhatsApp, a farmácia atuando como mediadora, os mesmos sobrenomes orbitando governos de diferentes convicções. A novidade não está na coreografia, mas no protagonista que prometeu reescrevê-la.
Um presidente sem freios, agarrado a uma equipe que não pode – ou não quer – abandonar. A proximidade familiar transforma cada caso em um míssil apontado diretamente para seu círculo íntimo. Até mesmo a Secretaria de Inteligência do Estado (SIDE), tantas vezes acusada de ser uma caixa-preta da política, é questionada. Eles sabiam o que estava acontecendo? Eles fizeram vista grossa? O funcionamento interno do próprio aparato de inteligência está entrelaçado com a investigação e sugere que o que se sabe pode ser apenas a ponta do iceberg.
A política, por sua vez, refugia-se num consolo tecnocrático: “Se a inflação cair, o resto está perdoado”. Essa hipótese tem precedentes: Carlos Menem conseguiu a reeleição apesar de escândalos monstruosos, sustentado pela ilusão de estabilidade econômica. Mas também há advertências. O clima social muda quando a economia esfria e a tolerância à corrupção diminui. Hoje, com a queda da confiança, a anestesia está perdendo o efeito. E é na região metropolitana de Buenos Aires – território onde o partido governista exerce sua principal força eleitoral – que essa erosão se torna mais perigosa.
Lá, a pedagogia do suborno é letal. Cada cobrança excessiva significa menos medicamentos na clínica, menos leite no refeitório, menos trabalho nas PMEs. A corrupção deixa de ser uma abstração institucional e se transforma em fome, doença e desemprego.
O historiador Roy Hora escreveu em um tuíte que “desde 1983, nenhum partido governista perdeu uma eleição devido a escândalos de corrupção, por mais graves que fossem. Isso não afetou nenhum governo, nem mesmo os de Menem ou dos Kirchner, que levaram essa prática a um novo patamar e foram amplamente denunciados por ela”. Ele está em grande parte certo, embora não completamente.
Após a corrupção de Menem, chegou a Aliança com Fernando de la Rúa, que se apresentava como o político “honesto”. Pouco depois, eclodiu o escândalo da chamada lei “Banelco” (nome dado à rede de caixas eletrônicos usada para reembolsos): o Poder Executivo subornou parlamentares para votar uma lei de flexibilização trabalhista. A manobra custou a renúncia do vice-presidente. As eleições de meio de mandato registraram abstenções recordes, votos em branco e nulos. Meses depois, a rebelião de dezembro de 2001 marcou o colapso do governo. Não tenho certeza se a corrupção é sempre indiferente ao eleitorado, como afirmei em meu livro “Panela de Pressão”.
O que parece constante é a ideologia personalista da política. Como apontei em meu artigo sobre a Bolívia, postado no site A Terra é Redonda, esse mecanismo nos impede de compreender as razões estruturais por trás dos comportamentos políticos que criticamos ou condenamos.
Um verdadeiro círculo vicioso: sempre que os cidadãos percebem comportamentos desleais, abuso de poder ou corrupção, tendem a julgar apenas os indivíduos que os personificam. E a reflexão espontânea que poderia ser direcionada às estruturas é rapidamente desviada pelo establishment político e midiático para uma forma de pensar ingênua e esterilizante: votar em “políticos honestos”, sejam eles quem forem, deixando intacto o sistema que os produz.
O partido governista visa garantir apenas um terço de cada câmara nas próximas eleições de meio de mandato. Dessa forma, pode governar por decreto e vetar leis inconvenientes produzidas pelas maiorias parlamentares, protegendo o veto com o terço desejado.
Uma república dilapidada
Max Weber alertou contra o dedo solitário que bloqueia a vontade comum, apontando o perigo de uma decisão pessoal suplantar o corpo coletivo. Jean-Jacques Rousseau, por sua vez, alertou contra a prerrogativa particular que usurpa a vontade geral. O veto presidencial personifica essa usurpação: atua como um executor do voto, anulando maiorias e substituindo-as por decreto. Se somarmos a esse poder solitário a normalização do dízimo partidário, o resultado é devastador: um Estado que deixa de ser uma república e se torna propriedade, um patrimônio a ser administrado por poucos.
Não se trata de um inventário mórbido, mas sim de uma exposição da anatomia do sistema. Subornos que financiam campanhas; campanhas que compram votos; votos que legitimam novos subornos. Fornecedores que reciclam favoritismo entre administrações. Justiça que chega tarde ou nunca chega.
O hiperpresidencialismo, sem verdadeiros fusíveis ou freios e contrapesos, aprisiona o líder e seu círculo mais próximo no cargo. O “milagre” da anticasta não residiu em purificar a política, mas em transferir o catecismo: de antigos subornos para novos, de nomes antigos para recém-chegados.
E, no entanto, a história não termina em decadência. A degradação também é um espelho: reflete a imagem distorcida de um país que tolera o intolerável, mas preserva uma memória de dignidade e resiliência. Os mesmos que suportaram perdões e saques, que sofreram a aporofobia transformada em política pública, que viram conquistas sociais desmanteladas, sabem que nenhum poder é eterno.
O fator decisivo será se essa memória for ativada como grito e como organização: não a justiça de tribunais complacentes, mas aquela que pulsa na consciência coletiva capaz de rasgar a cortina da farsa.
Porque se a corrupção é a névoa que cobre a cena, a justiça – processual, social e ética – ainda pode abrir caminho para um amanhecer diferente. Não será por meio de iluminação mística ou da virtude de um líder, mas pela combinação laboriosa de regras claras, controles reais, responsabilidade política e uma cidadania que não abre mão de seu próprio controle.
A república não é um palco para perpetuar charlatões. Ela merece deixar de ser uma encenação. O teatro continuará, mas a história dirá se será uma peça viva ou apenas mais um adereço empoeirado.
*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.
Tradução: Artur Scavone.
Notas:
- Cafassi utiliza o termo “retorno” para se referir às comissões ilegais exigidas pelos representantes governamentais e aos subornos em geral. (NT) ↩︎
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA