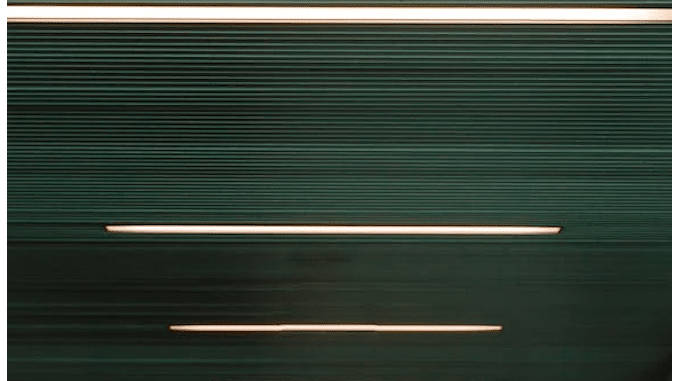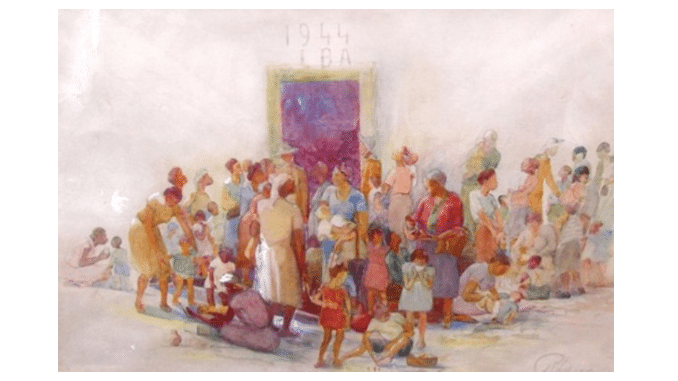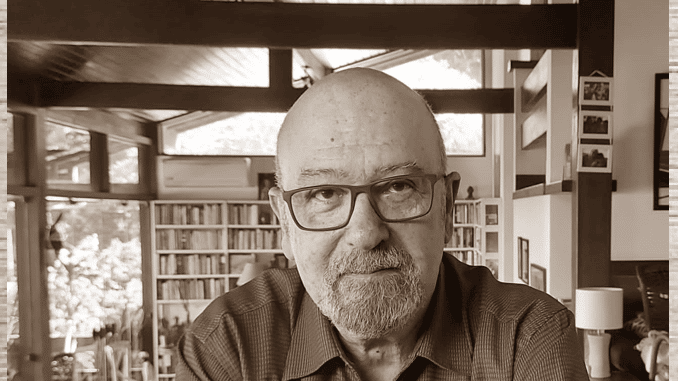Por MONA LISA BEZERRA TEIXEIRA*
Comentário sobre o livro de José J. Veiga
José J. Veiga abrange o universo infantil de maneira tão intensa quanto Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Está lá, escrito por eles, o retrato social de nosso país no tratamento dado às crianças, mesmo nas histórias com narrativas tão particulares, relacionadas ou não às vivências dos autores.
Nelas vamos encontrar a criança e o adolescente iniciando a sua convivência com o mundo familiar, a natureza, os animais, a violência, as punições, as responsabilidades iniciais das tarefas de casa e da escola, o contato com a morte e com a vida, descobrindo formas diversas de espaço e de expressão. A expressividade da literatura sobre a infância de José J. Veiga está no aceno a caminhos de esperança justamente por expor aspectos da violência e de conflitos, causados predominantemente pelos adultos. Como diz o menino narrador de “A usina atrás do morro”: “Mas a esperança, por menor que seja, é uma grande força. Basta um fiapinho de nada para dar alma nova à gente.” Há também uma forte presença da delicadeza, como a narrativa comovente sobre a criança que ainda não atingiu graus de responsabilidade, em “Roupa no coradouro”. Nela o menino não consegue perceber a gravidade do estado de saúde da mãe, que continua a protegê-lo e poupá-lo das atividades braçais na propriedade.
No livro de contos Os cavalinhos de Platiplanto, publicado em 1959, há uma supremacia da figura da criança, em conjunto com uma estrutura narrativa marcada pelo traço memorialístico, que não poderia, dessa maneira, deixar de fora os espaços habitados pelas personagens que recordam situações vividas, mas também situações de sonhos e devaneios.
Em “A ilha dos gatos pingados”, o narrador, provavelmente ainda um menino, não nomeado, recorda um episódio que envolve outros três personagens: Cedil, Tenisão e Camilinho. A narrativa revela, pelo viés da recordação e da ênfase na memória, uma história de amizade e resistência às forças externas que se estrutura na divisão de um espaço territorial: A ilha dos gatos pingados, assim nomeada por eles. Esse contexto espacial significa um mundo à parte, liberto do controle dos adultos, das regras e das injustiças sofridas e ainda corresponde a uma espécie de vivência singular em comparação aos outros meninos da localidade.
Nesse ambiente, as crianças são os condutores de suas ações, estão libertas das obrigações impostas pela família ou pelo ambiente escolar, mas isso não significa um mundo sem comprometimentos e divisões das obrigações, pois os meninos atuam sobre esse espaço, transformando-o a partir do trabalho coletivo, sem dissociá-lo das brincadeiras. O que nos lembra as observações de Maurice Halbwachs, em A memória coletiva, no capítulo “A memória coletiva e o espaço”: “Quando inserido numa parte do espaço, um grupo o molda à sua imagem, mas ao mesmo tempo se dobra e se adapta a coisas materiais que a ela resistem. O grupo se fecha no contexto que construiu” (2003, p. 159).
Para Silviano Santiago, em seu ensaio “A realização do desejo”, os meninos, em “A ilha dos gatos pingados”, querem escapar da violência comunitária, e para isso desbravam e povoam um espaço que se distancia das divergências e entraves comuns ao ambiente de convivência social do qual fazem parte. Ainda observa que a arquitetura dramática dos contos de Veiga se arma a partir da vizinhança de grupos divergentes, sendo que um deles, o mais fraco, acaba por sofrer reprimendas terríveis como consequência da busca por autonomia e liberdade de ação, pois os meninos não conseguem fazer a ilha – símbolo de resistência em relação à comunidade – perdurar no espaço e no tempo.
O conto se caracteriza pela narrativa do menino, dando ênfase à figura de seu amigo Cedil, que tem mãe e uma irmã, mas sofre violência física e psicológica de um agente externo ao meio familiar, Zoaldo, apenas namorado dessa irmã, sempre agressivo e que evidencia a sua crueldade quando rifa uma arma de fogo que havia tomado de outra pessoa em uma briga.
É na figura de Cedil que a narrativa explora não somente ângulos individuais referentes à vida desse personagem, que sofre surras e agressões, mas também ao aspecto da vulnerabilidade da criança dentro desse espaço social, pois ninguém da comunidade interfere para dar fim às agressões e castigos. Há uma vivência de legitimação da brutalidade: mãe, irmã, vizinhos, parentes e autoridades nada fazem pelo menino.
Dessa maneira, o espaço da casa, tão caro a Bachelard, em A poética do espaço (2000) e em A poética do devaneio (2001), que significa consolo, sonho e acolhimento, não existe na vivência de Cedil, a ponto de ele pensar em suicídio, num dos trechos mais tocantes da narrativa, graças à sensibilidade do autor em elaborar um diálogo que não artificializa a compreensão das crianças a respeito da vida e da morte.
Após a conversa com o narrador da história, resta ao menino, então, não mais a fuga de casa ou o fim da existência, mas sim a ocupação de um espaço isolado do restante da comunidade, espaço este que se transforma num refúgio consolador, colocando em evidência o trabalho das crianças, a valorização de suas iniciativas, sem a interferência e mediação dos personagens adultos: “No primeiro dia fincamos as estacas da casa, amarramos as traves e cortamos uma braçada de vara para trançar as paredes. Cedil queria fazer uma parede de qualquer jeito, com ramo de assa-peixe mesmo, só para poder dormir na primeira noite. Enquanto ele varria o chão da casa muito entusiasmado eu saí com Tenisão e combinamos que era preciso desistir Cedil de fugir improvisado; a gente primeiro fazia uma casinha caprichada, com jirau e tudo pra dormir, depois ele mudava pra ela se ainda tivesse inclinação” (2015, p. 32).
“Fizemos monjolinho de gameleira, é fácil de torar e furar, pilava à toa o dia inteiro, quando a gente ia embora escorava ele levantado como monjolo de verdade. Fizemos usina de luz com represa, casa de turbina, poste subindo e descendo morro, copinho de isolador, fio e tudo, gastamos acho que dois carretéis de linha” (2015, p. 33).
A respeito de uma espécie de demarcação territorial exercida por determinados conjuntos de pessoas, Halbwachs observa: “Cada aspecto, cada detalhe desse lugar tem um sentido que só é inteligível para os membros do grupo, porque todas as partes do espaço que ele ocupou correspondem a outros tantos aspectos diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade” (2003, p. 160).
Essa consideração pode ser aproximada da vivência secreta dos meninos nesse espaço, pois, unidos numa espécie de sociedade fraterna, conseguiam burlar as famílias, os outros membros adultos da comunidade e as outras crianças, que poderiam oferecer risco ao segredo da ilha, como fica evidente na figuração da personagem Camilinho.
Essas relações primeiras da infância envolvem a amizade, o ambiente social da convivência com personalidades diversas, a aproximação da natureza, o rompimento dos laços afetivos e as descobertas dos vínculos entre os seres humanos baseados em interesses – aspectos que fazem parte da formação desses meninos e representam as frustrações que vão mostrar uma infância não idealizada e propensa à interferência de fatores externos: é o que fica demonstrado com o desfecho da história por que passa a personagem Cedil, após a traição de Camilinho, que revela o segredo da ilha para Estogildo, personagem hostil e desleal, “que vivia passando rasteira nos outros”: “E nem demorou muito, parece até que eles estavam esperando uma vaza. Passamos uns dias sem ir lá porque Tenisão andou de dedo inchado com panariz, doía muito, foi preciso lancetar, e brinquedo sem ele desanimava […]. Quando vimos o fumaceiro, corremos lá, eu e Cedil, Tenisão ainda não podia. Estava tudo espandongado, a casa, a usina, os postes arrancados, o monjolinho revirado. Cedil chorava de soluço, corria pra cima e pra baixo mostrando os estragos, clamando da ruindade. Eu quase chorei também só de ver a tristeza dele. Para nós a ilha era brinquedo, pra ele era consolo” (2015, p. 35).
Lembrando mais uma vez Halbwachs: “O espaço é uma realidade que dura. É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que ocupamos, por onde passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e que, de qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso pensamento a cada instante é capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção, é nele que nosso pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria de lembranças reapareça” (2003, p. 170).
Em “A Ilha dos Gatos Pingados”, a memória relatada é caracterizada na figura de um personagem ainda menino, mas que tem direito à palavra, e revela a força da memória que não quer esquecer, que nomeia e dá vida novamente àqueles que não tiveram voz. Como observa Agostinho P. de Souza, em uma entrevista com o próprio autor, colhida no livro Atrás do mágico relance (PRADO, 1989), José J. Veiga capta o mundo do cotidiano infantil e multiplica as várias dobras desse espaço a partir do que é primitivo na criança: o fazer de conta. A partir dessa consideração é possível observar como as pequenas coisas adquirem grande proporção nas personagens do autor.
Nesse sentido, em “A Ilha dos Gatos Pingados” temos uma representação do espaço e uma estruturação dele em íntima relação com o narrador, que tem como contraponto na narrativa os lugares ocupados pelos outros meninos, pelos adultos, pela família, pelos animais, pelos objetos e pelos próprios sonhos. Os espaços habitados pelas personagens de Veiga transcendem os limites geográficos, possibilitando um modo de narrar atento às pequenas coisas, aos redutos, às percepções sensíveis, alegres e dolorosas da experiência infantil.
A escrita de José J. Veiga reflete uma forma de conhecimento, com relação à infância, próxima ao pensamento de Jeanne Marie Gagnebin: “Ela [a experiência] remete à reflexão do adulto que, ao lembrar o passado não o lembra tal como realmente foi, mas, sim, somente através do prisma projetado sobre ele. Essa reflexão sobre o passado, visto através do presente descobre na infância perdida signos, sinais que o presente deve decifrar, caminhos e sendas que ele pode retomar, apelos aos quais deve responder, pois, justamente, não se realizaram, foram pistas abandonadas, trilhas não percorridas. Nesse sentido, a lembrança da infância não é idealização, mas, sim, realização do possível esquecido ou recalcado. A experiência da infância é a experiência daquilo que poderia ter sido diferente, isto é, releitura crítica do presente da vida adulta” (1997, p. 181).
O modo como José J. Veiga apresenta os objetos inseridos em um espaço dominado pela visão de uma criança, no conto “Roupa no coradouro”, possui um aspecto muito peculiar dentro da estrutura narrativa, pois o menino afoito com a liberdade, que agora possui devido à viagem a trabalho do pai, entra numa espécie de êxtase e comunhão com tudo ao seu redor. O conto se inicia com uma situação não muito comum, pois o pai ordena ao menino o controle da casa e os cuidados com a mãe, que estava doente. Mas em contraste com o espaço familiar disciplinado desejado pelo pai, o menino já sonha como será habitar esse ambiente sem a vigilância da autoridade paterna, e desde os momentos iniciais da história, imagina habitar a casa sem ter que dar explicações.
A mãe, assim como o pai e o próprio menino não têm os nomes mencionados, diferentemente de outros personagens que surgem no decorrer da trama. E essa figura materna está sempre trabalhando nas atividades da casa e da manutenção da propriedade rural, enquanto o menino não é nem mesmo capaz de levar um recado com responsabilidade, quando ela o solicita. E como está dito na narrativa, “a mãe pedia, e o pai mandava”. Dessa maneira o menino vai agindo sem nenhuma preocupação com as regras estipuladas pelo pai, e vai seguindo em suas aventuras e brincadeiras. Segue os dias soltando arraia, indo a pescarias, fazendo propaganda para um circo que aparece na cidade, para depois entrar sem pagar nos espetáculos, entre outras brincadeiras descritas.
Às vezes a mãe falava de modo delicado que ele não devia “abusar da ausência do pai”, e mudava logo de assunto para não parecer autoritária, mas o menino estava mesmo interessado em estar solto no mundo. “Deitado na cama, ouvindo minha mãe fazendo ainda uma coisa e outra pela casa, catando feijão, moendo café para de manhã, eu achava que não estava ajudando muito, como meu pai recomendara, e prometia a mim mesmo mudar de vida. Mas resolver uma coisa deitado é fácil, não dá nenhum trabalho, praticar depois é que é difícil, a gente vai deixando para depois e nunca resolve começar” (2015, p. 125).
O tempo para essa personagem está muito próximo do que Maurice Halbwachs comenta no capítulo “A memória coletiva e o tempo”, quando fala a respeito das emoções. O protagonista de “Roupa no coradouro” ressalta com intensidade as suas experiências, brincadeiras, a natureza que observa, a descrição das pessoas que convivem com ele e a família, assim como as que circundam esse espaço. Em uma história com forte presença da memória, da recordação, a figura do protagonista acaba revelando um mundo que ainda não conhece a divisão social do tempo, como observa Halbwachs. Essa maneira infantil revela uma existência que ainda não está implicada em ajustes e durações pré-determinados. O menino ainda não tem noção de que terá muito em breve a vida condicionada ao tempo em que se produz algo, pela força do trabalho, pelo lucro e pelo acúmulo. É o que será bem representado ao final da narrativa, com o falecimento da mãe e o aparecimento do tio materno, Lourenço, proprietário e empreendedor, que vai propor sociedade ao cunhado viúvo.
Antes disso, com a chegada do circo, o menino vai abandonando cada vez mais as tarefas de casa. Apesar de reconhecer que não ajuda devidamente a mãe, não consegue resistir ao chamado das ruas e das brincadeiras com as outras crianças. Ele ainda atenua um pouco a culpa ao convidar a mãe para ir ao circo, propondo a venda de sua própria galinha de estimação para conseguir comprar o ingresso dela, que recusa prontamente em virtude de outras despesas da casa, reconhecendo, porém, a amabilidade da lembrança do filho, disposto a se desfazer de um animal de estimação para lhe proporcionar um agrado.
Mas nem depois que o circo vai embora da cidade ele muda de atitude, e, logo depois, a mãe fica acamada, sendo assistida por Ana Bessa, uma figura bondosa e prestativa, mas que não o poupa de boas reprimendas pelo jeito que vem se comportando. É interessante destacar na narrativa o choque que sente o menino ao ser chamado à atenção por uma pessoa que não é da sua família. Esse é um traço marcante nas histórias em Os cavalinhos de Platiplanto, as crianças sendo advertidas e agredidas por indivíduos que não fazem parte de seus núcleos familiares.
Vale ressaltar que é o primeiro momento em que o espaço familiar privado começa a ser ocupado em virtude da doença da mãe e da imaturidade da personagem para cuidar dela. Permanecer no espaço da casa não é mais opção e, sim, necessidade. E ele demonstra mal-estar ao ver as coisas da mãe serem tocadas por outros. O que remete às reflexões de Halbwachs a respeito de como lidamos com os objetos, que acabam representando uma garantia, uma espécie de estabilidade e reconhecimento do nosso espaço. Esses objetos trazem as nossas marcas pessoais, nossa personalidade.
O menino não se conforma com a invasão do espaço de sua casa: “Eu não saí mais de casa naquele dia nem no outro. Aos poucos a casa foi enchendo de gente, mulheres mais, umas com filhos pequenos, outras com meninos já grandinhos, que ficavam me amolando para brincar. Mulheres que eu conhecia de vista e achava antipáticas mexiam em nossa cozinha, faziam mingau para os filhos nas vasilhas de mamãe, ou café para as visitas” (2015, p. 130).
Antes que a saúde da mãe se agravasse, a narrativa colocava em evidência os objetos fora do eixo doméstico, como se tudo que estivesse dentro do espaço familiar significasse a lida com as tarefas e o trabalho junto à mãe. Somente quando o menino permanece por mais tempo em casa é que ocorre o destaque para as panelas da cozinha, para o fogão, a varanda da casa, e, mais de uma vez, a canastra no quarto da mãe é lembrada.
A maneira paulatina como vai se dando conta da gravidade do estado de sua mãe é tecida em conjunto com as sensações de culpa e incompreensão diante do que está acontecendo, pois para ele a mãe não poderia morrer, tanto que ao ir chamar o médico, a pedido de dona Ana Bessa, ainda demora para efetivar o pedido de socorro, pois perde tempo vendo um mico que se apresentava junto ao seu dono em uma porta da venda da cidade, e, como consequência, não encontra mais o doutor para prestar a assistência urgente.
Logo a seguir começam a chegar pessoas estranhas à casa, que mexem nas coisas, rezam, fazem comida, conversam e transitam pelo ambiente que ainda há pouco tempo era ocupado somente pelo protagonista da história e sua mãe. Há também outras crianças que brincam e riem pelo espaço, sem se darem conta da iminência da morte entre elas. Essa espécie de invasão é dolorosa para o menino. Nesse momento, dona Ana Bessa é cuidadosa com ele, percebe sua fragilidade e volta a tratá-lo com o carinho de antes. Mas quando o padre chega à residência com o livrinho de rezas para atender à mãe, o desamparo aflora na criança, que, de maneira muito desesperadora, percebe a gravidade da situação.
A preparação do espaço físico da casa para receber a morte, a chegada repentina do pai, a visão que o menino tem da mãe delirando antes de falecer vão encerrando a narrativa que desde o princípio é tramada na delicadeza dos detalhes da materialidade das coisas em conjunto com as sensações da criança ao vivenciar os espaços do lugar em que vive, ao mesmo tempo em que sonha para si outras realidades. De maneira diferente de “A ilha dos gatos pingados”, em que os meninos aprendem a viver partilhando suas experiências, em “Roupa no coradouro” o que emerge é a experiência da criança solitária, mesmo quando ela se encontra acompanhada nas brincadeiras e no espaço familiar. A memória traz à tona a condição individual que se divide entre o sentimento íntimo e o que pode ser expressado diante da coletividade.
O conto se encerra com a visão do menino diante das roupas da mãe esquecidas no coradouro. Ao perceber essas peças estendidas na grama, ele reativa a existência materna através da memória, ao recordar a vestimenta preferida que ela usava em dias de calor, caracterizando um dos aspectos frequentes nas narrativas de José J. Veiga: os espaços reais e do cotidiano sendo caminhos primordiais para o espaço da imaginação. A presença da criança nessas narrativas retrata um tempo que não se esgota, graças a um dos traços infantis predominantes na obra do autor, e extensivo à condição humana: a vocação para contestar.
*Mona Lisa Bezerra Teixeira é doutora pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP e autora de O orvalho áspero de Clarice Lispector (Ed. Ideia).
Texto apresentado no Simpósio Literatura, espaço e memória, ABRALIC, Rio de Janeiro, 2017.
Referência
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, 160 págs.
Bibliografia
BACHELARD, Gaston. Casa e Universo. In: ______. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
______. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história e testemunho. In: ______. Lembrar esquecer escrever. São Paulo: Editora 34, 2006.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2003.
PRADO, Antonio Arnoni (org.). Atrás do mágico relance. Uma conversa com José J. Veiga. Campinas: Editora da UNICAMP, 1989.
SANTIAGO, Silviano. A realização do desejo. In: VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
VEIGA, José J. A ilha dos gatos pingados; Roupa no coradouro. In: ______. Os cavalinhos de Platiplanto. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.