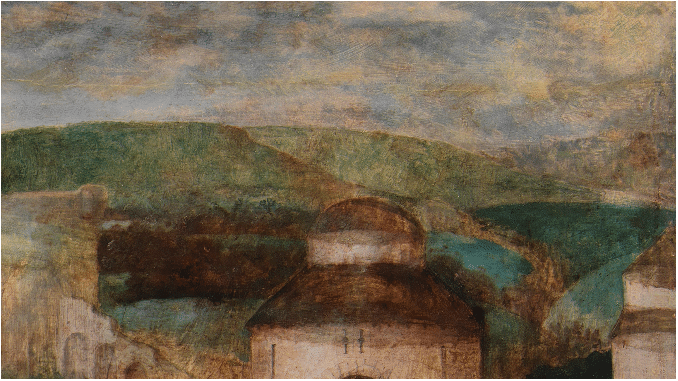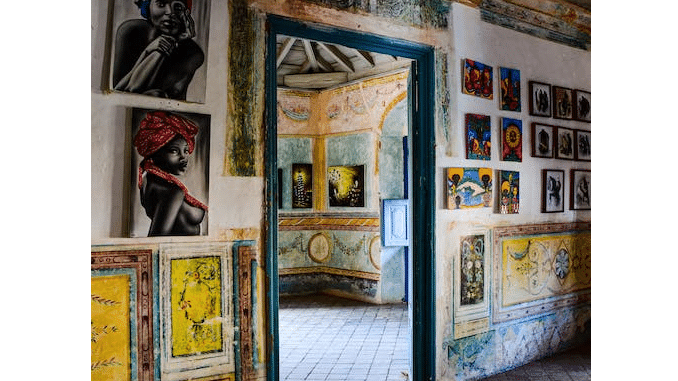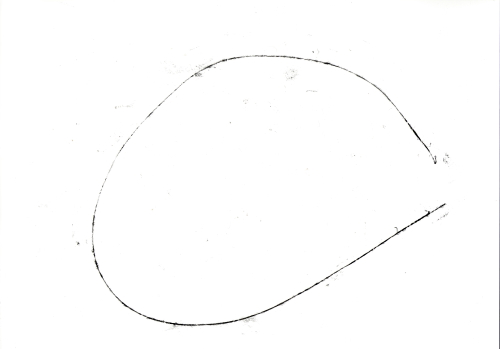Por GILBERTO LOPES*
Considerações sobre a União Europeia e a guerra na Ucrânia.
Tempo do esquecimento
“Terá chegado o tempo do esquecimento, com a anestesia da nossa memória coletiva? Na década de 1970, ouvíamos a frase: – Hitler? Não ouvi falar disso. Agora teremos que ouvir a frase: – Guerra? Não sei o que é isso. – Entre nós, nunca mais. Nunca mais guerras entre países europeus que sangraram uns aos outros durante 70 anos”, disse o presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, em 1993, há 30 anos, em seu livro O novo concerto europeu.
Já se via naquele momento que estas tragédias não podiam ser explicadas apenas pela ascensão do fascismo, mas pelo jogo maniqueísta das grandes potências, por sua recusa de um verdadeiro diálogo. Ele não deixava de perceber que a construção europeia entrava numa zona de turbulências. “As duas crises petrolíferas deveriam ter-nos alertado para a natureza precária de nossa prosperidade”, disse ele. “Exaustos por guerras fratricidas, privados de seus impérios coloniais, dependentes – em matéria de segurança – dos Estados Unidos, sufocados pela concorrência de novas potências industriais, nossos países deslizavam perigosamente em direção ao declínio…”.
“Como preservar e estender esta paz tão cara a nós?”, perguntava-se Jacques Delors. “A era da confrontação e da divisão na Europa chegou ao fim. Declaramos que a partir de agora nossas relações serão baseadas no respeito e na cooperação”, diziam os chefes de Estado ou de governo dos 35 Estados participantes da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE), reunidos em Paris em novembro de 1990. Era uma época de profundas mudanças e de esperanças históricas… Em 16 de julho de 1990, a União Soviética colapsava e, reunidos em Stávropol, Mikhail Gorbachev criava, com Helmut Kohl, o tecido deste novo mundo, aceitando a incorporação da Alemanha unificada à OTAN.
A vocação da Comunidade Europeia é aplicar a outros países do continente o método que tão bem funcionou para ela. “Estamos prontos para enfrentar estes desafios? Temos os meios para ser bem sucedidos?” Já se passaram quase 30 anos desde que Jacques Delors fez estas perguntas. A Carta de Paris, assinada na reunião da CSCE, delineava o mundo que, em seus sonhos, imaginavam forjar: “um compromisso resoluto com a democracia baseada nos direitos humanos e nas liberdades fundamentais; prosperidade através da liberdade econômica e justiça social; e segurança igual para todos os nossos países”.
De jardins…
O alto representante da União Europeia para a política externa Josep Borrell causou polêmica quando falou aos estudantes da Academia Diplomática Europeia, na cidade belga de Bruges, em 13 de outubro. “Sim, a Europa é um jardim! Construímos um jardim. Tudo funciona. É a melhor combinação de liberdade política, prosperidade econômica e coesão social que a humanidade já conseguiu construir. As três coisas juntas…”. A maior parte do resto do mundo é uma selva e a selva pode invadir o jardim. Os jardineiros devem cuidar dele…”. Josep Borrell bem sabe: “a selva tem uma grande capacidade de expansão e o muro nunca será suficientemente alto para proteger o jardim”.
Luiza Bialasiewicz, professora de governança europeia na Universidade de Amsterdã, citada pelo diário espanhol El País, qualificou o discurso de uma “cópia direta da pior geopolítica neoconservadora do início dos anos 2000”. Bob Rae, embaixador canadense na ONU, comentou: “Que analogia terrível”. “Josep Borrell não poderia ter dito melhor: o sistema mais próspero criado na Europa nutriu-se de suas raízes nas colônias, que oprimia sem piedade. Foi esta lógica de segregação e a filosofia de superioridade que formaram a base do fascismo e do nazismo”, disse a porta-voz do Ministério da Defesa russo, Maria Zakharova. “É muito estranho que um diplomata desse nível ofenda tantas pessoas e tantos países num só discurso”, opinou Alex Lo, colunista do jornal South China Morning Post, de Hong Kong.
Para Josep Borrell, a diferença entre países desenvolvidos e não desenvolvidos não é a economia, mas as instituições. Disse isso em seu discurso em Bruges, na Bélgica de Leopoldo II. “Aqui temos um sistema judicial neutro e independente. Aqui temos um sistema de redistribuição de renda. Aqui temos eleições que dão liberdade aos cidadãos. Aqui temos luzes vermelhas controlando o trânsito, pessoas recolhendo o lixo. Temos este tipo de coisa que torna a vida fácil e segura”.
É difícil entender como Josep Borrell pôde permanecer no cargo depois desse discurso, embora se tenha defendido das críticas alegando que foi mal compreendido e a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, tenha reiterado sua confiança nele. A Europa é o centro e o fim da história universal, tinha dito G. W. F. Hegel em 1807 na sua Fenomenologia do espírito. Para o sociólogo alemão Max Weber, o capitalismo foi a realização da modernidade. Para Weber, diria seu colega Herbert Marcuse, havia uma forma de racionalidade surgida no Ocidente que ajudou a formar o capitalismo e que decidirá nosso futuro previsível.
Como vemos, a herança é antiga. Quando Hitler chegou ao poder, há quase um século, o também filósofo alemão Max Horkheimer – figura principal da Escola de Frankfurt, da qual fez parte com Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Friedrich Pollok, Franz Neumann e outros importantes intelectuais judeus alemães de sua época – disse num livro de aforismos intitulado Crepúsculo [“Dämmerung”]: “O imperialismo dos grandes estados europeus não tem nada que invejar da Idade Média com suas fogueiras. Seus símbolos são protegidos com aparatos mais sofisticados e com guardas mais bem equipados do que os santos da Igreja medieval”.
“O crepúsculo do capitalismo”, acrescentou ele, “não anuncia necessariamente a noite da humanidade. Os inimigos da Inquisição transformaram aquele crepúsculo na aurora de um novo dia”. É óbvio que algo saiu mal. Talvez a chave esteja no que Jacques Delors então sonhava como vocação da Comunidade Europeia: aplicar a outros países do continente o método que tão bem lhe serviu.
E zoológicos…
Este relato foi escrito pela jornalista da BBC de Londres Dalia Ventura: “A infame história dos zoológicos humanos que permaneceram abertos na Europa até 1958”. “Esta é uma história vil”, afirma Ventura. Deve ser lida. Ajuda a entender muitas coisas. O artigo pode ser visto aqui.
Dalia Ventura não omite uma referência ao zoológico de Montezuma, do qual falavam os cronistas espanhóis, “onde viviam os bufões e outros parasitas palacianos”. Depois, a história salta 400 anos. No meio da Renascença italiana, o cardeal Hipólito de Médici “gabava-se de ter, além de toda espécie de bestas exóticas, vários ‘selvagens’ que falavam mais de 20 línguas, incluindo mouros, tártaros, índios, turcos e africanos”. O que começou como uma curiosidade por parte dos observadores tornou-se uma pseudociência macabra em meados do século XIX, com os investigadores à procura de evidências físicas para sua teoria racial. Espécimes humanos exóticos foram enviados a Paris, Nova Iorque, Londres ou Berlim, para o deleite da multidão.
A corte inglesa caiu aos pés do “encantador e astuto” polinésio Mai ou Omai, apresentado pelo naturalista Joseph Banks na corte do Rei Jorge III. Mais conhecida é a história da sul-africana Saartjie Baartman, a “Vênus Hotentote”, exibida em feiras na Europa, para o deleite dos espectadores. Seu grande atrativo eram suas enormes nádegas, que um naturalista descreveu como “nádegas de babuíno”. Morreu em 1815, mas seu cérebro, esqueleto e órgãos sexuais permaneceram em exposição no Museu do Homem em Paris até 1974. Em 2002, seus restos mortais foram repatriados e enterrados na África do Sul. “O clímax da história vem com o apogeu imperialista do final do século XIX e início do século XX”, diz Dalia Ventura. A ideia era mostrar os selvagens em seu estado natural. Entre 1877 e 1912, aproximadamente 30 “exposições etnológicas” foram apresentadas no Jardin zoologique d’aclimatation em Paris.
Também 400 indígenas javaneses foram expostos na Feira Mundial de 1889, que foi visitada por 28 milhões de pessoas. “Interpretavam uma música tão sofisticada que deixou o jovem compositor Claude Debussy boquiaberto”. “Nesse mesmo ano, com a permissão do governo chileno, 11 nativos do povo Selknam ou Oma, incluindo um menino de oito anos, foram enviados à Europa para serem exibidos em zoológicos humanos”. Se sobrevivessem à viagem, conforme Dalia Ventura, a maioria destes “espécimes” sul-americanos perecia pouco depois de chegarem aos seus destinos.
Em 1906, o antropólogo amador Madison Grant, um destacado eugenista e diretor da Sociedade Zoológica de Nova Iorque, exibiu o pigmeu congolês Ota Benga no zoológico do Bronx juntamente com macacos e outros animais. A pedido de Grant, o diretor do zoológico colocou Ota Benga numa jaula com um orangotango e etiquetou-o como “O elo perdido”. “Entretanto, as Exposições Coloniais em Marselha (1906 e 1922) e Paris (1907 e 1931) continuaram mostrando seres humanos em jaulas, muitas vezes nus ou seminus. A de 1931 teve a participação de 34 milhões de pessoas em seis meses”.
No verão de 1897, o rei Leopoldo II tinha importado 267 congoleses para Bruxelas para exibi-los em seu palácio colonial em Tervuren, a leste de Bruxelas. Proprietário do Estado Livre do Congo entre 1885 e 1908, a exploração dos recursos naturais do território tornou Leopoldo imensamente rico, à custa da metade da população congolesa. A exploração custou a vida de oito a dez milhões de pessoas, de acordo com vários estudiosos.
Para a Exposição Internacional e Universal de Bruxelas de 1958, uma celebração de 200 dias de avanços sociais, culturais e tecnológicos do pós-guerra, foi criada uma aldeia “típica”, onde os espectadores observavam os congoleses, geralmente com escárnio. “Se não reagiam, jogavam moedas ou bananas através da cerca de bambu, escreveu um jornalista da época”, conta Dalia Ventura.
As motivações para seguir exibindo seres humanos por décadas em Hamburgo, Copenhagen, Barcelona, Milão, Varsóvia e outros locais, com ênfase nas “diferenças” entre os “primitivos” e os “civilizados”, estavam vinculadas, segundo os estudiosos, a três fenômenos: a construção de um outro imaginário, a teorização de uma hierarquia de raças e a construção de impérios coloniais. “Estima-se que os zoológicos humanos foram visitados por cerca de 1,4 bilhão de pessoas. E é sabido que desempenharam um papel importante no desenvolvimento do racismo moderno”, conclui a jornalista.
Dalia Ventura lembra-nos que as exposições etnográficas “deixaram de existir não por uma reavaliação ética, mas porque surgiram novas formas de entretenimento e as pessoas simplesmente deixaram de interessar-se. A última a fechar foi a da Bélgica”. Depois foram os jardins.
De zoológicos e jardins. A aurora de um novo dia.
Durante muitos anos, ideólogos e políticos ocidentais vêm dizendo que não há alternativas à democracia. Referem-se, naturalmente, ao chamado “modelo liberal de democracia”, disse o presidente russo Vladimir Putin em seu discurso no Fórum Internacional de Valdai, em 27 de outubro. “De modo arrogante”, afirmou, “rejeitam outras formas de governo”. Uma forma de ver as coisas forjadas desde a época colonial, “como se todos fossem de segunda categoria, enquanto eles são excepcionais”. “É o poder global que está em discussão com o assim chamado Ocidente”. “Mas esse jogo é certamente perigoso, sangrento e, digamos, sujo”, advertiu Vladimir Putin, pois nega a soberania a outros países e povos.
O Ocidente proclama o valor universal de sua cultura e de sua visão do mundo, e a política que aplicam visa impor incondicionalmente estes valores a todos os outros membros da comunidade internacional. Os nazistas queimavam livros, lembra Putin, mas os “guardiões do liberalismo” pretendem agora banir Tchaikovski e Dostoiévski.
Promovem guerras comerciais, sanções, revoluções coloridas… Uma delas foi a da Ucrânia em 2014, que apoiaram com recursos, cujo montante tornaram público. Ou assassinaram o general iraniano, Qasen Soleimani. “Em que tipo de mundo estamos vivendo?”, pergunta Vladimir Putin.
Não falou da Guerra do Vietnã, nem da invasão mais recente do Iraque, cujos dois dos responsáveis seguem muito ativos na política. Um, militante da social-democracia inglesa; o outro, espanhol, passa o tempo fazendo recomendações democráticas na América Latina, acompanhado por políticos regionais confortáveis na companhia desse colega.
Pode-se dizer o que se queira sobre Vladimir Putin, sobre suas políticas ou sobre a forma como ele governa. Na minha opinião, porém, é dos líderes políticos com a maior capacidade de argumentar sobre sua visão de mundo, com antecedentes históricos e uma perspectiva de futuro.
O discurso de Valdai é abundante em referências a esses mundos. Trata-se de uma crise do modelo neoliberal, de uma ordem internacional ao estilo norte-americano. “Eles não têm nada para oferecer ao mundo, exceto a perpetuação de seu domínio”. E isso, acrescentou Putin, já não é possível.
O colapso da União Soviética alterou o equilíbrio das forças geopolíticas. Como vencedor, o Ocidente estabeleceu as regras. Mas hoje esse domínio absoluto está desaparecendo. Estamos numa encruzilhada decisiva, provavelmente a “mais perigosa, imprevisível e, ao mesmo tempo, a mais importante década desde o fim da Segunda Guerra Mundial”, na opinião de Putin.
Imprensa patética
É fácil condenar a guerra e a invasão da Ucrânia; mas também é fácil vislumbrar – se olharmos com cuidado – a criação das condições que tornaram essa guerra mais possível e mais provável a cada dia. A guerra é uma tragédia, mas penso que é essencial ler com atenção o discurso de Vladimir Putin em Valdai. Tentar entender. Ouvir o adversário. Ou o inimigo. Vladimir Putin é cuidadoso no tratamento dos detalhes e aqueles que dizem que está mentindo não têm outra alternativa senão dar sua própria versão da história.
Na minha opinião, não é o que faz, por exemplo, Anton Troianovski, chefe da sucursal do The New York Times em Moscou, em seu artigo sobre o discurso de Putin. Para Troianovski é um discurso que tenta dividir o Ocidente, para ganhar espaço político enquanto tenta – muitas vezes sem sucesso – conservar o terreno conquistado na Ucrânia desde a invasão de fevereiro passado. Mas o discurso, e o debate que se seguiu, de mais de quatro horas, é, a meu ver, muito mais do que isso, e a visão empobrecedora de Troianovski priva seus leitores de uma compreensão mais completa de um cenário internacional complexo.
A grande imprensa ocidental é patética. Não apenas na cobertura da guerra na Ucrânia. É preciso ler o artigo de Chris Buckley, correspondente-chefe do The New York Times em Pequim, que cobre o país e os eventos do Partido Comunista há 25 anos: “‘Uncle Xi’ to exalted ruler: China’s leader embodies his authoritarian era”, publicado em 14 de outubro passado. Como pedir à elite norte-americana, que lê o Times, para compreender qualquer coisa sobre um mundo complexo explicado por tais “especialistas”?
Ou os comentários de Steve Rosenberg, o editor da BBC na Rússia, para quem a chave da longa reflexão de Vladimir Putin foi a falta de “remorsos no mundo de Putin”. E a BBC apresenta isso como “análise”! Acho improvável que Rosenberg tenha lido todo o discurso de Vladimir Putin em Valdai.
A militância repete-se na televisão espanhola, na DW em espanhol… Ver o The Guardian britânico deixando o jornalismo em segundo plano para tornar-se parte da guerra na Ucrânia fez-me suspender uma modesta contribuição mensal, que fiz durante alguns anos, para o jornal. Depois fui ler a extensa intervenção de Vladimir Putin no fórum de Valdai, que pode ser encontrada no site do Kremlin, em inglês.
O nascimento de um novo mundo
“Tentamos construir relações com os países mais importantes do Ocidente e com a OTAN. O que obtivemos como resposta?”, perguntou Vladimir Putin. “Para ser breve, recebemos um ‘não’ em todas as áreas de cooperação possíveis”.
Vladimir Putin insistiu na ideia de que não se pode unir a humanidade dando-lhe ordens, dizendo-lhe “faça como eu faço”, “seja como eu sou”. É necessário ouvir a opinião de todos, respeitar a identidade de cada sociedade, de cada nação. Citou como exemplos várias organizações de cooperação, tais como a União Econômica Eurasiática – composta pela Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia –, a Organização de Cooperação de Xangai – composta por oito Estados membros e quatro observadores – e o ambicioso projeto chinês do Cinturão e Rota.
Num esquema de cooperação desse tipo, a Europa seria o extremo ocidental da Eurásia. Mas não foi assim que se conformou essa integração. Pelo contrário, confrontada pela Rússia, que foi transformada em sua inimiga, a Europa atual consolidou seu papel como extremo oriental da OTAN.
Vijay Prashad, historiador indiano e diretor do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, publicou um artigo em outubro passado revendo o cenário que culminou com a invasão russa da Ucrânia. Muito antes da invasão da Ucrânia, desde 2014, graças à Ukraine Security Assistance Initiative do Departamento de Defesa, os Estados Unidos proporcionaram treinamento e equipamento ao exército ucraniano. O montante dessa assistência superou 19 bilhões de dólares, a maior parte dos quais – 17,6 bilhões – fornecida após a invasão russa. Hoje fala-se de 60 bilhões de dólares. Para dar uma dimensão destes números, Vijay Prashad compara-os com os 3,12 bilhões de dólares do orçamento da ONU para 2022.
Vijay Prashad insiste que o Ocidente deve deixar de bloquear as negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Ele lembra-nos que, em 2019, o presidente francês Emmanuel Macron tinha proposto rever as relações da Europa com a Rússia, afirmando que afastar a Rússia da Europa “seria um profundo erro estratégico”.
Em 2020, estava claro para Emmanuel Macron que as negociações já não eram apenas sobre os Acordos de Minsk, assinados em 2015 pela Rússia, Ucrânia, Alemanha e França, para estabelecer zonas seguras na fronteira ucraniano-russa. Era mais do que isso. Tratava-se da criação de uma “nova arquitetura de segurança” que não isolaria a Rússia da Europa. Todas estas iniciativas foram rejeitadas por Washington.
Em fevereiro de 2021, Emmanuel Macron desenvolveu esta ideia num longo discurso numa conferência no Atlantic Council. “A expansão da OTAN para leste não aumentará a segurança da Europa”, disse ele.
Em 7 de dezembro de 2021, Biden e Putin realizaram uma reunião por telefone. O presidente russo voltou a exigir garantias de que a OTAN não continuaria expandindo-se para leste, nem implantando sistemas de armas ofensivas em países vizinhos da Rússia. “Washington não deu tais garantias”, diz Vijay Prashad. O objetivo dos Estados Unidos era impor sanções econômicas severas e sustentáveis para tornar a economia russa inviável e intensificar seu apoio militar à Ucrânia, para que este país pudesse ganhar a guerra. Em 15 de outubro, Washington anunciou um novo pacote de armas e assistência militar à Ucrânia no valor de 725 milhões de dólares, incluindo mais munições para seus HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Robert A. Pape, professor na Universidade de Chicago e autor de um livro sobre as características da guerra aérea, acredita que o bombardeio de áreas civis na Ucrânia não enfraquecerá o governo de Volodymyr Zelensky. É que o poder aéreo só provou ser eficaz quando é capaz de destruir alvos militares. Pape acredita que este não é o caso nesta guerra e que a Vladimir Putin só restam duas opções: aceitar uma nova cortina de ferro que separe a Rússia da Europa “ou continuar lutando até o fim, com o risco de perder parte da Rússia”. Pretende-se com isto aumentar a segurança da Europa (e do mundo)?
Nestes dias, as análises de acadêmicos norte-americanos sobre o cenário internacional multiplicam-se. Entre elas a de G. John Ikenberry, professor da cátedra Albert G. Milbank de política e assuntos internacionais da Universidade de Princeton e Global Eminence Scholar da Universidade Kyung Hee em Seul. Em seu longo artigo – “Power Endures” –, publicado na edição de novembro/dezembro da revista Foreign Affairs, afirma que a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos “não está em declínio”. Suas mais de seis mil palavras não são mais do que argumentos para apoiar sua conclusão, sem que as palavras “América Latina” apareçam uma vez sequer. Ele toma como um dado que somos os pés sobre os quais se ergue o poderio norte-americano. É a única das grandes potências que nasceu no Novo Mundo. As outras, como a China ou a Rússia, estão rodeadas por vizinhos desordeiros, lutando por espaços hegemônicos. Os Estados Unidos não. Desde o início, distante de seus principais rivais, desfrutava de seu quintal, de um hemisfério sem rivais.
Para G. John Ikenberry, a narrativa de que os Estados Unidos estão perdendo seu papel de potência dominante ignora as circunstâncias profundas que continuam fazendo do país uma presença dominante na organização do mundo político no século XXI. Seu papel não se basearia apenas na força bruta, ou em seu comportamento imperial passado, mas em suas ideias, instituições e valores. Independentemente do acerto ou não de suas avaliações (penso que há muito wishfull thinking), autores como G. John Ikenberry deixam de lado um fator importante em sua análise: o econômico.
Sem forças para enterrar sua filha
Uma rápida olhada sobre o mundo atual revela a dimensão da crise e da incerteza, embora, para G. John Ikenberry, nada coloque em dúvida as ideias, instituições ou valores da sociedade norte-americana. No entanto, desde a crise financeira de 2008, os sintomas de um problema mais profundo multiplicam-se. O economista Nouriel Roubini, numa entrevista à BBC em 25 de outubro, destacou sua preocupação com o aumento da dívida pública e privada mundial. “Na década de 1970, a razão da dívida privada e pública em relação ao PIB era de cerca de 100% e agora, nas economias avançadas, é de 420% e está aumentando”.
Em setembro passado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos expressou sua preocupação com um aumento da dívida pública de 5,1 trilhões para mais de 23 trilhões de dólares entre 2007 e 2022. “A palavra ‘crise’ não é uma hipérbole”, disse o editor executivo da Bloomberg Opinion Robert Burgess. A liquidez está evaporando rapidamente. A volatilidade aumenta. Até a demanda nos leilões da dívida do governo dos Estados Unidos está tornando-se uma preocupação. As condições são tão preocupantes que a secretária do Tesouro Janet Yellen deu um passo incomum ao expressar preocupação com um possível colapso na negociação, observando que seu departamento está “preocupado com a perda de liquidez adequada” no mercado de títulos do governo dos Estados Unidos. “O que mais deveria preocupar o Fed e o Departamento do Tesouro é a deterioração da demanda nos leilões da dívida dos Estados Unidos”, disse Robert Burgess. A baixa procura significa também que o governo deve pagar mais para obter recursos. “Não se enganem”, acrescentou, “se o mercado do Tesouro parar, a economia e o sistema financeiro globais terão problemas muito maiores do que uma inflação elevada”.O quadro estende-se, com seus matizes, por grande parte do Ocidente. O mercado de bônus dos Estados Unidos dá o tom aos mercados de dívida em todo o mundo e os problemas das últimas semanas no Reino Unido expuseram a crise de liquidez na maioria dos principais mercados de dívida soberana.Enquanto a Rússia denuncia que a Inglaterra abastece e treina as forças militares ucranianas e a acusa de ter conduzido e coordenado o ataque aos gasodutos submarinos Nord Stream em setembro, a imprensa inglesa anuncia que milhões de pessoas têm que saltar refeições à medida que a crise provocada pelo aumento do custo de vida se aprofunda. Há mais pessoas – incluindo crianças – passando fome hoje do que durante as primeiras semanas após os fechamentos por causa da Covid-19, disse o The Guardian.O Banco de Inglaterra advertiu em 3 de novembro que o Reino Unido enfrentará um cenário “muito desafiador”, com uma inflação não vista nos últimos 40 anos e um aumento do desemprego de 3,5% hoje para quase 6,5% nos próximos três anos. Embora não seja a recessão mais profunda de sua história, será a mais longa desde que começaram os registros na década de 1920, disse o banco.O boicote ao Nord Stream II foi, desde o início, um objetivo central da política norte-americana para evitar um vínculo permanente e estratégico entre a Europa e a Rússia. “A destruição dos gasodutos do Nord Stream resume esta dinâmica em poucas palavras. Durante quase uma década, uma exigência constante dos Estados Unidos foi que a Alemanha rejeitasse sua dependência da energia russa. Tais exigências foram respondidas por Gerhard Schroeder, Angela Merkel e líderes empresariais alemães”, disse o professor da Universidade do Missouri Michael Hudson num artigo publicado na Brave New Europe [o artigo, sobre a posição da Alemanha na nova ordem global norte-americana, pode ser visto aqui].
Em sua opinião, o país que sofrerá mais danos colaterais devido a esta fratura global será a Alemanha. Talvez isto explique em parte a rápida visita do chanceler Olaf Scholz a Pequim no início de novembro. Mas a Alemanha não será o único país a sofrer essas consequências. Os protestos multiplicam-se em Praga, Roma, Paris…
Em agosto, Macron proferiu seu discurso de outono, anunciando “o fim da abundância” e reiterando que “vivemos um momento de grande convulsão”. Dois meses depois, Thierry Pech, diretor-geral do grupo de estudos Terra Nova, de Paris, comentou que, para Macron, “a sucessão de crises que estamos vivendo – crise climática, guerra na Ucrânia, inflação recorde, alta das taxas de juro… – não é o resultado de uma obscura coincidência de infortúnios”, mas o sinal de uma grande mudança. “É provável que o consumidor europeu experimente dificuldades que costuma não se lembrar: escassez, desabastecimento, racionamento de energia, inflação de dois dígitos e… medo”. O fim do óbvio, diz Thierry Pech.
O chanceler alemão Olaf Scholz move-se no meio destas águas turbulentas. Em 27 de outubro reuniu-se com Macron em Paris. O baixo perfil midiático do encontro deixou evidente “o momento delicado das relações franco-alemãs, em parte uma consequência do abalo geoestratégico da guerra na Ucrânia”, disse Eusebio Val, correspondente do jornal catalão La Vanguardia em Paris. “O choque provocado pela invasão russa da Ucrânia e seus graves efeitos econômicos trouxeram à tona diferenças de fundo e prioridades que parecem difíceis de conciliar”.
No âmbito da defesa, existem ruídos na cooperação franco-alemã há anos, lembrou, observando que Berlim quer um escudo de defesa antimíssil europeu – com a participação dos Estados Unidos e Israel – enquanto Paris planeja uma alternativa, em aliança com a Itália. “Há vários pontos de fricção”, acrescentou o diretor-adjunto do jornal La Vanguardia, Enric Juliana (na minha opinião, um dos melhores analistas políticos na Espanha), comentando a reunião. E fez uma lista: “a recusa da Alemanha em limitar o preço do gás na Europa por receio de desabastecimento; a generosa ideia alemã para proteger sua indústria, um airbag que outros países europeus não se podem permitir; a relutância francesa diante dos planos alemães de promover gasodutos para o sul da Europa e norte de África em busca de energia mais segura; o escudo antimíssil europeu tornado público pela Alemanha, sem a participação da França, um projeto em que a Espanha ficou de lado enquanto negociava a interconexão energética com os franceses (estamos falando da indústria militar)”.
“Desavenças objetivas e nervosismo decorrentes da guerra na Ucrânia. A França é mais uma vez um barril de pólvora social e a Alemanha decidiu que a principal prioridade é proteger sua indústria. A França continua confiando na sua poderosa planta nuclear; a Alemanha não sabe como será o inverno de 2024. Todos gostariam de acabar com a guerra e ninguém sabe como”, disse Enric Juliana.
Val mencionou Israel, no momento em que um novo governo acaba de se formar nesse país, cada vez mais próximo de uma versão racista nazi, distante de todas as normas internacionais reconhecidas sobre o conflito palestino, que poderia desempenhar um papel cada vez mais desestabilizador no cenário internacional. Ao contrário da Ucrânia, a União Europeia (UE) tem sido muito menos assertiva no conflito de Gaza, como dois jornalistas do jornal El País apontaram a Borrell numa entrevista em San Lorenzo de El Escorial. “Resolver a situação das pessoas presas nessa prisão ao ar livre que é Gaza não está nas mãos da União Europeia. É uma situação escandalosa, uma vergonha, mas não está nas nossas mãos resolvê-la. A comunidade internacional deveria procurar uma solução para as pessoas amontoadas, sem eletricidade, quase sem água potável”, respondeu o chefe da diplomacia da União Europeia. “Somos frequentemente criticados por termos duplos padrões”, lamentou Borrell. “Mas a política internacional é, em grande parte, a administração dos duplos padrões. Não lidamos com todos os problemas com os mesmos critérios. Não há solução para o conflito do Oriente Médio sem um compromisso muito forte por parte dos Estados Unidos. E, depois de tantas tentativas sem sucesso no passado, não há uma saída neste momento. Mas nada disto serve de consolo para as pessoas que lá vivem”.
Um em cada quatro lares britânicos com crianças experimentou insegurança alimentar no mês passado, disse o The Guardian em outubro. Uma ninharia comparada com o que o jornalista indiano Swaminathan Natarajan da BBC World Service noticiou em 16 de outubro. “Ratos, ossos e lama: os alimentos da fome que as pessoas desesperadas comem para sobreviver”, intitulou seu artigo. “Nos últimos dois anos, Lindinalva Maria da Silva Nascimento, uma avó aposentada de São Paulo, Brasil, de 63 anos, tem comido ossos e pele descartados pelos açougueiros locais”, diz ele.
Perto de Chennai, no sul da Índia, Rani, uma mulher de 49 anos, diz-lhe que “come ratos desde a infância e nunca tive quaisquer problemas de saúde. Alimento minha neta de dois anos com ratos. Estamos acostumados”. Trata-se, ao que parece, de uma ratazana do campo, bem diferente das que podemos encontrar em nossas cidades.
A ONU disse que a Somália enfrenta uma fome catastrófica em meio a conflitos armados e à pior seca do país em 40 anos, que já deslocou mais de um milhão de pessoas. Sharifo Hassan Ali, 40 anos e mãe de sete filhos, é uma das deslocadas. “Durante a viagem, comíamos apenas uma vez por dia. Quando não havia muita comida, alimentávamos as crianças e passávamos fome”.
Cada vez mais crianças estão morrendo na Somália em meio a essa seca. Funcionários do governo dizem que uma catástrofe ainda maior pode ocorrer numa questão de dias, ou semanas, a menos que chegue mais ajuda. “Vi minha filha (Farhir, de três anos) morrer na minha frente e não pude fazer nada”, disse Fatuma Omar a Andrew Harding, também da BBC, de Baidoa, Somália. Fatuma caminhou durante pelo menos 15 dias com seus nove filhos de uma aldeia chamada Buulo Ciir para chegar a Baidoa. “Carreguei-a em meus braços durante dez dias. Tivemos que a deixar na beira da estrada. Não tinha forças para a enterrar. Podíamos ouvir as hienas aproximando-se”.
Três dias antes, Washington anunciava mais 725 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. A Europa precisa de 60 milhões de imigrantes para sobreviver, de acordo com estudos demográficos da ONU e grupos de pesquisa internacionais. “Não será suficiente aumentar a idade da aposentadoria, nem trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, ou aumentar a taxa de natalidade. Também não será suficiente robotizar ainda mais a economia”. “Só a imigração pode corrigir este desequilíbrio, e a imigração de origem africana será a forma mais natural de fornecer a mão de obra necessária para manter o crescimento”. “O antagonismo ocidental contra o Oriente foi promovido pelas Cruzadas (1095-1291), assim como a Guerra Fria de hoje é uma cruzada contra as economias que ameaçam o domínio dos Estados Unidos no mundo”, disse Michael Hudson. “Essa fratura global promete ser uma luta de dez ou vinte anos para determinar se a economia mundial será uma economia dolarizada, unipolar, centrada nos Estados Unidos, ou um mundo multipolar, multimoedas, centrado no coração da Eurásia, com economias mistas públicas/privadas”, acrescentou ele.
Na opinião de Michael Hudson, o conflito na Ucrânia não terminará enquanto não for encontrada uma alternativa ao atual conjunto de instituições internacionais centradas nos Estados Unidos. Parece-me claro que a atual ordem internacional se tornou insustentável. Penso que Michael Hudson tem razão.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves