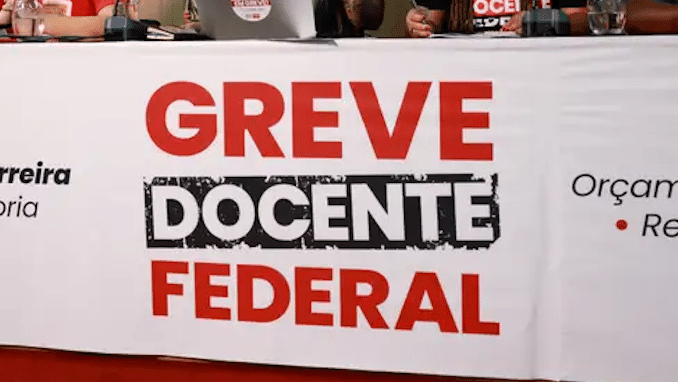Por JEAN-PIERRE TERRAIL
Prefácio do autor
Foi preciso mais de três décadas de investigações sociológicas relacionadas, de uma forma ou de outra, à questão escolar para que eu chegasse a escrever este pequeno livro. Evocar o percurso que me conduziu até aqui me parece uma boa maneira de tornar visível a abordagem da obra.
O encontro com a questão escolar
Foi depois de quinze anos de uma carreira de pesquisador que começa em 1968 que me deparei, de maneira um tanto inesperada, com a questão da escola. Em um contexto em que os intelectuais progressistas eram facilmente acusados de idealizar o proletariado, decidi empreender, no início dos anos 1980, uma tese sobre o Estado que buscava dar conta, por meio de uma investigação empírica, das transformações do mundo operário.
Sem vínculos com esse universo, pus-me a buscar, para iniciar o trabalho, informantes bem instruídos, e comecei a entrevistar alguns colegas que eram oriundos do mundo operário. Em vez, porém, de responder à minha curiosidade e de descrever o mundo social do qual haviam tido, quando crianças, uma experiência íntima, esses pesquisadores tornaram-se antes testemunhas de si mesmos e me relataram a história de seu sucesso escolar, que os havia arrancado de seu meio e dos destinos ligados à fábrica.
Diante da repetição dessa experiência, resolvi mudar de abordagem. Já que é a história deles com a escola que meus interlocutores têm em mente, então, muito bem, vamos abordar essa questão.
A empreitada não era destituída de interesse, pois ela permitia identificar as condições que haviam tornado possível o acesso ao ensino superior de integrantes das famílias das classes operárias, o que era uma situação muito restrita para aquela geração, uma verdadeira aventura da qual Annie Ernaux oferecia, nesses mesmos anos, sua versão pessoal em seus romances. Prossegui, portanto, a investigação, interrogando uma variedade de intelectuais de origem operária sobre seu percurso escolar.
No calor do momento, esse episódio me pareceu muito revelador da maneira por vezes errática e imprevisível com que se desenrola um percurso de pesquisa, e do interesse, como defendem os interacionistas, de se deixar “ensinar pelo campo de pesquisa”. Vi nele também, um pouco mais tarde, uma manifestação da onipresença subterrânea da questão escolar na vida social.
Escola e transformações operárias
O desvio não foi tempo perdido. Descobri ali um aspecto essencial da ‘modernização’ da classe operária nessas décadas. Seus membros haviam se contentado por muito tempo com uma escola que garantisse uma alfabetização mínima, coroada, no melhor dos casos, por uma formação profissional. No decorrer dos anos 1960, eles passaram a considerar cada vez mais a possibilidade de estudos longos: era o caso, mostram algumas raras pesquisas, de 15% deles em 1963, e de 60% em 1972.
É impossível não atribuir essa rápida mudança à reforma que então instituiu a escola única, abrindo a todos o acesso ao ensino secundário. Também é impossível não ver aí o efeito de um objetivo antigo de emancipação, que essa reforma credibiliza e libera: a desindustrialização, o desemprego em massa e a exigência de diplomas para viabilizar as reconversões intergeracionais, que ainda não estavam, de fato, na pauta da época.
Foi uma revolução silenciosa, ignorada na época – inclusive pelos melhores pesquisadores: foi apenas em 1974 que Pierre Bourdieu apresentou como típicas dos habitus populares as atitudes de autoexclusão escolar e de renúncia espontânea aos estudos longos; e que continua amplamente desconhecida hoje, como mostram as frequentes atribuições dos fracassos escolares das classes populares à falta de interesse e de investimento das famílias.
Bons alunos
Minha tese, portanto, destacou essa revolução, ao lado do crescimento do emprego feminino e das práticas de redução da fertilidade, fatores ligados às manifestações da modernização operária. Nela, investiguei as condições mais favoráveis ao sucesso dos trabalhadores, sem ainda abordar a persistência em massa do fracasso escolar. O impacto que esse trabalho teve e a conscientização do papel crucial da escola nos funcionamentos sociais me levaram a permanecer particularmente atento, entre outros temas de pesquisa, aos investimentos das famílias na escolaridade de seus descendentes e aos percursos bem-sucedidos.
Nos primeiros anos da década de 1990, esse interesse me levou a confrontar-me com aquela espécie de enigma sociológico que representava a superioridade escolar das meninas. Em oposição àqueles que reduziam o fenômeno ao efeito de um habitus de gênero (as meninas seriam mais bem preparadas, pelas virtudes de uma educação familiar que cultivava o cuidado, a atenção e a obediência, para atender aos requisitos da escola), observei seu caráter historicamente específico (só a partir da década de 1960 as meninas alcançam os meninos, justamente no momento em que o mercado de trabalho assalariado se abre para elas), e as diferenças ligadas ao pertencimento social (quanto mais se desce na escala social, maior se torna a diferença de desempenho escolar entre os sexos).
Nessas condições, enfatizei não a eficácia escolar atribuída às “qualidades femininas”, mas a hipótese de uma mobilização escolar diferenciada das meninas, sabendo que a qualidade de seus diplomas poderia, sozinha, compensar sua desvantagem relativa no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que lhes garantia, no plano das relações conjugais, uma independência cujo déficit havia sido fortemente sentido, até então, pelas mulheres das classes populares.
Revisitar a questão do fracasso escolar
Em meados da década de 1990, já fazia mais de dez anos que eu me interessava pelos processos de escolarização e por seus efeitos na sociedade francesa, sem ainda ter me arriscado a investigar mais de perto o que se passava dentro da própria escola. Para mim, assim como para grande parte da sociologia da educação, a escola permanecia uma caixa preta. A obra coletiva publicada em 1997, da qual eu havia tomado a iniciativa, é um testemunho claro disso.
Ambicionando fazer um balanço das relações escola/sociedade, apenas um de seus doze capítulos aborda a questão da transmissão do conhecimento – e ainda assim por dois pesquisadores que não pertenciam expressamente à sociologia, e que tratam mais do comportamento dos alunos do que do dos professores. Trata-se do capítulo 6, intitulado Apprendre : des malentendus qui font la différence, por Élisabeth Bautier e Jean-Yves Rochex, ver Jean-Pierre Terrail (coord.), La Scolarisation de la France. Critique de l’état des lieux, La Dispute, Paris, 1997.
Nenhuma indiferença às diferenças
Essa publicação, no entanto, iria me incentivar a entrar no cerne da questão. O tom do livro era, de modo geral, crítico à persistência das desigualdades escolares. Durante os debates públicos suscitados por sua publicação, muitos professores me colocaram contra a parede. Eles também podiam lamentar a situação, mas eu poderia lhes dizer exatamente como pôr fim a ela?
Assim instado a me explicar sobre a persistente questão do fracasso escolar, decidi dedicar-me seriamente a ela, empreendendo, algo que ainda não havia sido feito, um balanço crítico da vasta literatura acumulada sobre o tema ao longo de quatro décadas.
Procedi de forma ampla, interessando-me ao mesmo tempo pela história da instituição escolar, por sua relação com a cultura escrita, pelas dificuldades inevitavelmente encontradas por quem busca adentrar essa cultura e apropriar-se de suas modalidades; e, no plano da investigação empírica, reconstruindo os percursos de alunos em fracasso, bem como a observação em sala de aula, até então pouco praticada, de momentos de aprendizagens elementares, e finalmente, dedicando-me particularmente às modalidades do aprendizado crucial da leitura.
Isso me levou alguns anos. Saí desse trabalho, em 2002, com fortes convicções: sobre o caráter não inevitável do fracasso escolar; sobre a necessidade essencial, para combatê-lo, de observar de perto e transformar as modalidades dos aprendizados cognitivos, em vez de contornar o problema ao culpar a ‘multiplicidade de fatores determinantes’ do fracasso, insistindo na fraca supervisão oferecida pelas famílias populares, seu relacionamento deficitário com o conhecimento e a propensão de seus filhos a se contentarem em cumprir da melhor maneira possível seu ‘papel de aluno’.
E, finalmente, sobre a exigência de revisar a tese bourdieusiana de uma ‘indiferença [da escola] às diferenças [entre seus públicos]’. Esse último ponto me parecia crucial, pois a suposta indiferença da escola é contradita não apenas pelo peso dos efeitos de rotulação desfavoráveis às classes populares na avaliação dos alunos e na gestão de seus percursos, mas também – e talvez sobretudo – pelas diferenciações espontaneamente introduzidas pelos professores na condução dos aprendizados, de acordo com as turmas e os públicos.
A perspectiva de uma escola comum
Essa tendência dos professores em reduzir suas ambições pedagógicas em relação aos públicos populares se inscreve em uma lógica de ‘dar menos àqueles que têm menos’, que organiza todo o sistema educacional. Essa lógica discriminatória, propriamente institucionalizada, não deixa nenhuma chance à ‘igualdade de oportunidades’. Sua aplicação é viabilizada pela competição entre os alunos, como organizada pelo sistema de avaliação, pela classificação hierárquica e pela orientação escolar.
Percebi muito rapidamente, nessas condições, que toda luta verdadeira contra o fracasso escolar e pela generalização dos estudos longos passava pela erradicação dessa lógica e de seu fundamento: a competição entre os alunos. Por muito tempo considerada o meio de realizar a ‘igualdade de oportunidades’, a escola única implantada no início da Quinta República me parecia agora ela própria um obstáculo decisivo à verdadeira democratização da escola, que só poderia ser alcançada por uma ‘escola comum’, baseada em uma escolaridade sem classificação dos alunos e, até o final do ensino médio, sem ramificações.
Sem abandonar a reflexão crítica sobre o que existe, tornou-se agora importante para mim explorar mais a fundo a alternativa da escola comum e avaliar sua credibilidade. Duas grandes questões se impunham ao meu programa de trabalho. Para me certificar do realismo da perspectiva de um ensino ao mesmo tempo de massa e ambicioso, era necessário, por um lado, retomar a temática do ‘todos capazes’, aprofundando o exame crítico da tese do déficit sociocultural.
E, por outro lado, examinar as possíveis formas de condução dos aprendizados que permitissem a todos os alunos acessar normalmente a cultura escrita: suprimir a competição entre os alunos – e, portanto, as notas, a retenção e os itinerários desvalorizados – ainda não diz nada sobre como se pode ajudar os alunos a superarem suas dificuldades cognitivas.
Todos capazes?
A questão da educabilidade de todos me convidava, o que, para um sociólogo, é paradoxal, a abandonar o campo da diversidade das culturas, das diferenças de classe, gênero e geração, para me interessar pelo universal, pelo patrimônio comum dos jovens. A tese do déficit sociocultural tem o bom senso das aparências: se uns têm sucesso na escola e outros não, diz ela, é porque a esses últimos falta a herança cultural de que os primeiros dispõem.
Mas a boa questão não é a da diferença cultural; é aquela que toda iniciativa de democratização escolar coloca, e que pode ser formulada assim: aqueles que, por suas pertenças socioculturais, estão menos preparados para atender aos requisitos da escola, ainda assim possuem recursos suficientes para superar as dificuldades de aprendizados bem conduzidos?
Em vez de falar, por minha vez, sobre o que falta a esses alunos, coloquei-me a questão do que eles possuem. E, no que diz respeito aos recursos intelectuais, o que aproxima todos os seres humanos, independentemente de suas diferenças étnicas e culturais, é a linguagem: o domínio de uma língua qualquer, suficiente aos 6 anos para atender às necessidades do cotidiano e sempre passível de enriquecimento contínuo.
Ora, como atestam tanto a teoria linguística moderna quanto as investigações das etnociências, a aquisição desse domínio acompanha inevitavelmente a formação de um potencial para lidar com a abstração, o raciocínio lógico e o pensamento reflexivo. Essa ferramenta intelectual está disponível e é suficiente para uma entrada normal na cultura escrita, e todo o desafio de uma boa condução dos aprendizados é conseguir mobilizá-la plenamente.
Como ensinar?
Quanto à condução dos aprendizados, tinha dois objetivos: contribuir para o reexame da pedagogia da leitura, cuja baixa eficácia atual compromete seriamente qualquer esperança de reduzir as desigualdades escolares; e compreender mais amplamente por que a grande reestruturação pedagógica das décadas de 1970-1980, marcada pela passagem do princípio de transmitir para o princípio de aprender a aprender, e repleta de boas intenções, produziu tão poucos resultados.
Quanto à leitura, desde 2002 eu havia tomado partido – e contra a corrente da opinião pedagógica progressista, não faltaram pessoas que me fizessem notar isso – a favor do método silábico, cuja crítica e rejeição contundentes estiveram no centro da renovação dos métodos de ensino no final das décadas de 1960/70, e permaneciam muito vivas. O desafio era grande demais para que eu o abandonasse, e me esforcei, em colaboração com Geneviève Krick e Janine Reichstadt, para explorar a questão em todas as dimensões.
Queríamos submeter nossas convicções ao teste da prática, produzindo nosso próprio manual, cuja eficácia foi reconhecida pela pesquisa conduzida por Jérôme Deauvieau em 2013.
Para além da aprendizagem da leitura, era necessário retornar ao espírito da reforma pedagógica, compreender seus efeitos práticos, entender suas limitações e refletir sobre como superá-las. A empreitada pôde se beneficiar de dois pontos de apoio. Por um lado, a criação, em 2008, do Grupo de Pesquisas sobre a Democratização Escolar forneceu um quadro de trabalho particularmente estimulante.
Reunindo pesquisadores entre os quais já haviam surgido colaborações nos anos anteriores, e professores militantes sindicalistas em busca de um ambiente propício às investigações de pesquisa e à reflexão crítica, esse ambiente de trabalho mostrou-se dinâmico e produtivo, com seus membros compartilhando a preocupação com uma verdadeira democratização do sistema educacional, a transformação da sociedade e o desejo de aprofundar a perspectiva de uma escola comum radicalmente inovadora.
Por outro lado, a partir da segunda metade dos anos 2000, as pesquisas conduzidas nas próprias salas de aula, referentes à concepção dos aprendizados e às práticas dos professores, passaram por um relativo crescimento, resultando em levantamentos de observação ricos em ensinamentos sobre a lógica dos dispositivos pedagógicos dominantes e as condições de sua falta de eficácia.
O Grupo de Pesquisas sobre a Democratização Escolar dedicou-se inicialmente a evidenciar a exigência simultânea de novas práticas de ensino e de uma profunda evolução na formação e no recrutamento dos professores. Desde 2012, o coletivo se engajou em uma reflexão abrangente sobre quais poderiam ser os conteúdos de ensino de uma escola comum. Paralelamente, continuei a trabalhar, por minha parte, na condução dos aprendizados, tema ao qual o livro Pour une école de l’exigence intellectuelle se dedica.
Uma escola democrática é uma escola exigente para todos
O que deu início ao projeto do livro foi certamente a percepção do caráter fundamentalmente deficitário daquilo que Marcel Gauchet chamaria de “revolução do aprender”.
Sem dúvida, a renovação pedagógica das décadas de 1970-1980 decorre do reconhecimento de que os aprendizados precisam ser necessariamente ativos e da preocupação em tratar a criança como uma pessoa, atentando ao seu desenvolvimento e florescimento, instruindo-a por meio do jogo e mobilizando sua curiosidade, em vez de recorrer à inculcação e à autoridade.
São esses os valores orientadores destacados desde os anos 1970 por Basil Bernstein, na Inglaterra, e por Jean-Claude Chamboredon, na França, que atribuem sua autoria aos trabalhadores instruídos das novas classes médias, desejosos de aplicá-los a seus próprios filhos. Nunca encontrei razão para contestar a análise e seu prognóstico de que esses valores levariam à implementação de uma “pedagogia invisível” (vazia de conteúdo e de significado), pouco propícia ao sucesso das crianças e dos jovens das classes populares, pois sempre me pareceu plenamente validado pela experiência histórica.
Eu sabia, certamente, que não bastava se limitar à tese de atualização da instituição escolar diante das transformações nas representações da infância e nas práticas educativas. Os trabalhos dos historiadores franceses, por um lado, destacaram o papel que o sentimento de inadequação de parte dos novos públicos que acessavam então o ensino secundário pôde desempenhar na introdução de novos procedimentos para a condução dos aprendizados elementares, que já foram objeto de diversas experimentações a partir dos anos 1960.
Os trabalhos da sociologia da educação, assim como minhas próprias investigações de pesquisa, me convenceram da propensão majoritária entre os professores de moderar suas ambições pedagógicas sempre que lidavam com públicos populares.
No entanto, eu havia subestimado o que me ficou muito claro assim que voltei a examinar mais detalhadamente o período do final dos anos 1960/70, analisando textos dos principais atores da época ou observações de historiadores, como as de Antoine Prost.
De fato, verifica-se que o pressuposto da insuficiência dos recursos mentais, intelectuais e culturais dos alunos das classes populares diante das exigências para uma entrada normal na cultura escrita não é apenas obra dos professores, ou da maioria deles: ele está no cerne da própria renovação pedagógica, desde a motivação inicial, passando pela concepção, até as modalidades práticas de sua implementação.
Nesse sentido, parece-me legítimo falar em “paradigma deficitário” para caracterizar o horizonte de pensamento da renovação pedagógica (escolanovismo, pedagogias novas, pedagogias alternativas, pedagogias do aprender a aprender).
Trata-se, de fato, de uma atualização da escola, impulsionada pelo novo trabalhador assalariado instruído, retomando as análises de Bernstein e Chamboredon, uma forma de adaptação do nosso sistema educacional às transformações históricas das representações da criança e das práticas educativas das famílias, bem como ao modelo econômico neoliberal. Mas é importante destacar o quanto a mudança se realiza, em sua totalidade, sob a égide do princípio deficitário.
A renovação pedagógica estabelece um conjunto muito coerente, que, por isso, se revela dotado de grande estabilidade. As formas institucionalizadas de condução dos aprendizados recorrem, assim como as disposições espontâneas dos professores, aos valores de emancipação das classes médias; tanto umas quanto outras são igualmente marcadas pela relação das classes médias com as classes populares, cujos membros lhes parecem, na competição pelas vagas escolares, dotados de uma inferioridade cognitiva natural.
Assim, talvez seja possível compreender a surpreendente capacidade de resistência que esse dispositivo histórico apresenta frente às contradições da experiência, que, no entanto, demonstra abundantemente a baixa eficácia dos modos de condução dos aprendizados instaurados por esses métodos alternativos e cujo princípio permanece em vigor hoje.
Mudar de paradigma
As observações de campo mais diversas convergem a esse respeito: as práticas de ensino inspiradas pelo princípio deficitário são contraproducentes.
Se se admite, como me esforcei por argumentar detalhadamente em outros momentos, que o preconceito deficitário (da escola alternativa) deixa na sombra a realidade das capacidades intelectuais dos alunos das classes populares, uma verdadeira vontade de democratizar a escola exigiria pôr fim ao lema dos reformadores das décadas de 1960-1970, para os quais era sobretudo necessário evitar colocar esses alunos em dificuldade; e substituí-lo pelo princípio de uma elevada exigência intelectual para todos os alunos.
Ainda me restava, uma vez evidenciada a necessidade dessa mudança em benefício de um paradigma de exigência, investigar as condições para sua implementação, considerando os seguintes aspecto:
(i) o que diz respeito à condução dos aprendizados e à reconfiguração dos dispositivos pedagógicos: que consequências podem ser extraídas da tese de que é preciso mobilizar os recursos intelectuais dos alunos das classes populares, em vez de se adaptar às suas carências? O paradigma da exigência impõe o retorno a um ensino puramente magistral, ou pode deixar espaço para a postura construtivista, que valoriza o percurso autônomo do aluno? Como repensar a questão da ‘motivação’ dos alunos? Que lições podem ser aprendidas com a experiência da educação nova e das pedagogias alternativas?
(ii) o que diz respeito à receptividade possível dos novos princípios pedagógicos pelas novas gerações, sabe-se da dimensão dos comportamentos de rejeição ao saber e à escola, especialmente no colégio (ensino fundamental II). Uma pedagogia de exigência não correria o risco de agravar o problema? Como repensar a questão da autoridade magistral que possa conquistar a adesão dos alunos? E qual pode ser o lugar de uma escola de ambição intelectual na era da revolução das tecnologias da informação e da comunicação, considerando o tempo que os jovens passam diante das telas?
(iii) e à indispensável mobilização dos professores e às transformações concomitantes em sua cultura profissional, nesse campo também a implementação de um núcleo comum e a erradicação da competição entre os alunos revelam-se essenciais. Elas modificam, de fato, a missão confiada ao corpo docente pela instituição escolar e transformam suas condições de trabalho, convidando-os a tratar a dificuldade de aprendizagem por meios exclusivamente intelectuais e pedagógicos, abandonando qualquer recurso a meios institucionais punitivos ainda em uso (nota baixa, reprovação, comparações, competições, etc.).
Sinto que abordei essas questões com a prudência necessária, mas também com a convicção de que debater as condições essenciais para uma verdadeira democratização escolar constitui hoje uma urgência social, tanto no Brasil e na França quanto em outros países interessados na socialização dos conhecimentos historicamente produzidos e acumulados pela humanidade.
*Jean-Pierre Terrail é sociólogo, professor honorário da Universidade de Versailles-Saint-Quentin. Autor entre outros livros de De l’inégalité scolaire (La Dispute). [https://amzn.to/497earT]
Tradução: Julio Cesar Francisco.
Referência

Jean-Pierre Terrail. Pour une école de l’exigence intellectuelle. Changer de paradigme pédagogique. Paris, La Dispute, 2016. [https://amzn.to/48LKH7N]
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A