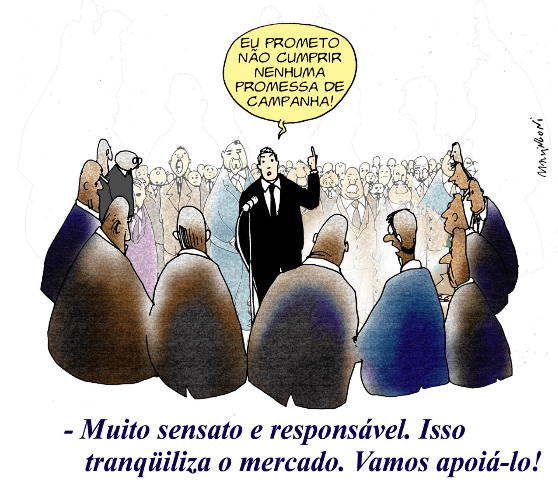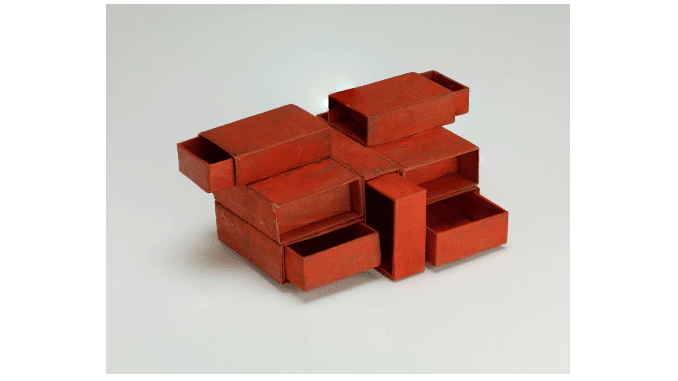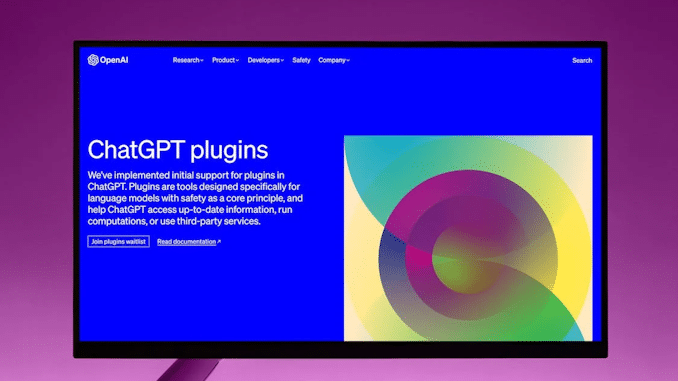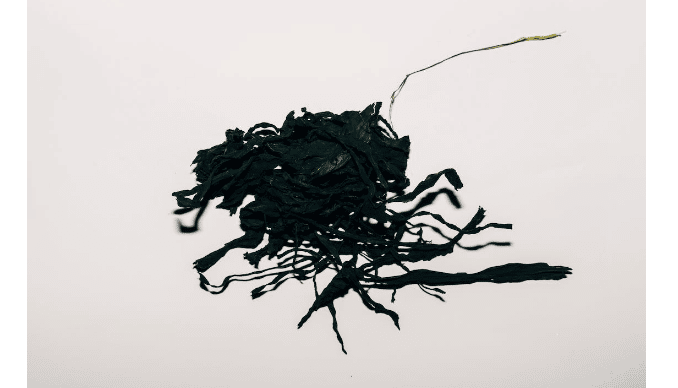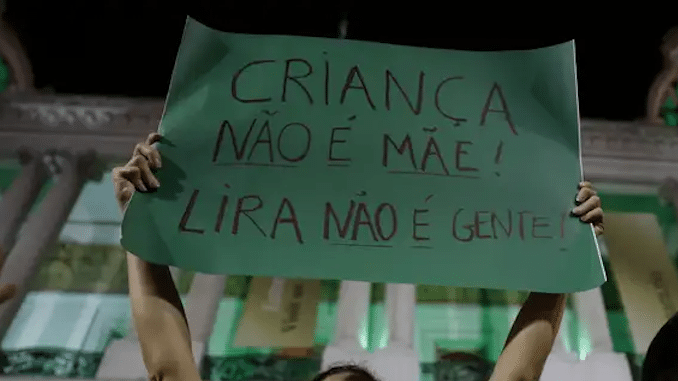Por FRANCISCO TEIXEIRA*
O debate entre a valorização cultural de Gilberto Freyre e o materialismo de Caio Prado Júnior revela o abismo epistemológico que molda as interpretações sobre a contribuição negra e a herança escravista no Brasil
A ruptura metodológica de Gilberto Freyre
No Brasil, a historiografia da escravidão estruturou-se a partir de diferentes matrizes teóricas. A primeira delas, inaugurada por Gilberto Freyre, toma de empréstimo de Franz Boas um argumento central de Casa-Grande & Senzala: a separação entre raça e cultura.
Amparado nessa distinção, Gilberto Freyre pôde romper com o racismo que marcava boa parte da produção teórica – em grande medida importada da Europa – vigente no país até a década de 1930. Esse movimento de ruptura teórico-metodológica abriu espaço para que ele recuperasse positivamente as contribuições das diversas culturas africanas para a formação da sociedade brasileira.
Essa mudança de abordagem torna-se ainda mais significativa quando comparada às visões teóricas que a antecederam. Entre elas, destacam-se as formulações de Jean Louis Rodolph Agassiz (1807-1873) e Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882). O primeiro esteve no Brasil entre 1865 e 1866, enquanto o segundo chegou ao país em 1869, na condição de representante diplomático da França.
Ambos sustentavam a ideia de que a sociedade brasileira estaria condenada a um estado permanente de estagnação e paralisia social, como resultado direto da miscigenação. Partilhavam a crença de que o cruzamento entre “raças” distintas conduziria inevitavelmente a uma forma de esterilidade – não necessariamente biológica, mas sobretudo cultural –, inviabilizando qualquer projeto de desenvolvimento civilizacional. Gobineau, por exemplo, defendia que a população nativa estaria destinada a desaparecer em virtude de sua suposta “degenerescência genética” (Skidmore, 2012, p. 70) e afirmava que “o brasileiro é um homem apaixonado por viver em Paris” (Gobineau, apud Raeders, 1896, p. 81).
O determinismo biológico defendido por esses autores europeus exerceu forte influência sobre o pensamento da elite intelectual brasileira. Com poucas exceções, os intelectuais atuantes entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX acreditavam na inferioridade das “raças” não brancas – especialmente a negra – e na degenerescência do mestiço, cuja consequência inevitável seria o seu desaparecimento. Diferentemente, porém, de Jean Louis Rodolph Agassiz e Joseph Arthur de Gobineau, essa corrente sustentava que a miscigenação poderia reverter a tendência à degeneração da população de cor, na medida em que promoveria o processo de “branqueamento”, então considerado o caminho para a regeneração da sociedade brasileira.
A despeito do maior otimismo dessa segunda corrente, ambas avaliavam negativamente a presença do negro na sociedade. Entre elas, contudo, havia divergências relevantes. A primeira sustentava que nada de positivo poderia resultar da miscigenação, por considerar inevitáveis os efeitos degenerativos do cruzamento entre “raças”. A segunda, por sua vez, via na intensificação da miscigenação um instrumento para o embranquecimento da população, o que, em sua perspectiva, acabaria por erradicar a herança negra.
Independentemente da forma como cada uma dessas correntes interpretava a miscigenação, ambas partilhavam uma crença comum: a supremacia da raça branca.
É a partir dessa preocupação central que Gilberto Freyre intervém na disputa intelectual da época, sentenciando o esgotamento das concepções racistas que haviam orientado grande parte da produção teórica vigente. Amparado na distinção entre raça e cultura – aprendida com Franz Boas na Universidade de Columbia –, Gilberto Freyre passa a interpretar negros e mulatos fora dos esquemas racialistas dominantes, o que lhe permite reconfigurar o horizonte interpretativo sobre a formação brasileira. Assim, pôde reivindicar, em pé de igualdade, as contribuições do negro, do português e, em menor medida, do indígena para a cultura nacional, demonstrando que aquilo tomado como “inferioridade racial” era, na realidade, efeito de condições sociais historicamente determinadas.
Além dos ensinamentos da antropologia boasiana, Gilberto Freyre foi também influenciado – ainda que de modo seletivo – pelo materialismo histórico. Mesmo sem aderir integralmente à concepção marxista da história, reconhece, possivelmente em diálogo com pesquisas de Roquette-Pinto, que as condições de produção e reprodução econômica exercem influência decisiva sobre a estrutura social e, por extensão, sobre a vida moral e cultural.
Nesse ponto, sua posição é inequívoca. Em oposição às concepções eugenistas então em voga, Gilberto Freyre argumenta que “muito do que se supõe, nos estudos ainda tão flutuantes de eugenia e de cacogenia, resultado de traços ou taras hereditárias preponderando sobre outras influências, deve-se antes associar à persistência, através de gerações, de condições econômicas e sociais, favoráveis ou desfavoráveis ao desenvolvimento humano” (Freyre, 2001, p. 45). Assim, o que os eugenistas classificavam como um problema biológico revela-se, para Freyre, um fenômeno social, econômico e histórico.
Desse modo, ao subordinar supostas “taras raciais” às condições concretas de existência, Gilberto Freyre desloca o problema da raça para o terreno da sociedade. Para ele, não é a raça que explica a miséria ou a degeneração social, mas a história e a estrutura social que moldam as possibilidades de vida.
O alcance desse deslocamento teórico torna-se ainda mais evidente em um episódio decisivo, narrado pelo próprio Gilberto Freyre, que lhe despertou a percepção da ruptura entre raça e cultura. Com base nos argumentos derivados da antropologia de Franz Boas e na concepção materialista da história – reinterpretada à luz das pesquisas de Roquette-Pinto –, Gilberto Freyre percebeu que aquela “gente de aspecto assustador” que vira “descendo […] pela neve mole de Brooklyn” não eram “mulatos ou cafuzos” representativos do Brasil, como supusera, mas sim “mulatos e cafuzos doentes” (Freyre, 2001, p. 45), conforme demonstravam os estudos de Roquette-Pinto.
Gilberto Freyre arma, assim, o cenário a partir do qual passa a investigar o papel da miscigenação na formação da sociedade brasileira (Araújo, 1994). Para ele, a miscigenação não é um fenômeno exclusivamente brasileiro: muito antes de chegar ao Brasil, o português já havia passado por um intenso processo de cruzamento com outros povos. Com efeito, “nenhum povo colonizador, dos modernos, excedeu ou sequer igualou nesse ponto aos portugueses”.
Para o autor de Casa-Grande & Senzala, foi, portanto, “misturando-se gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e multiplicando-se em filhos mestiços” que “uns milhares apenas de machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas e competir com povos grandes e numerosos na extensão de domínio colonial e na eficácia de ação colonizadora”.
Por isso, Gilberto Freyre entende que a “miscibilidade, mais do que a mobilidade, foi o processo pelo qual os portugueses se compensaram da deficiência em massa ou volume humano para a colonização em larga escala e sobre áreas extensíssimas. Para tal processo preparara-os a íntima convivência, o intercurso social e sexual com raças de cor, invasoras ou vizinhas da Península – uma delas, a de fé maometana, em condições superiores, técnicas e de cultura intelectual e artística, à dos cristãos louros” (Freyre, 2001, p. 83–84).
É essa leitura que permite a Gilberto Freyre compreender a miscigenação como um fenômeno cultural que teria influenciado de modo decisivo a formação da sociedade brasileira. Nesse sentido, ele a interpreta como algo que vai muito além de sua mera função como fator de criação de mão de obra para a produção açucareira. Diferentemente do que teria ocorrido nos Estados Unidos – onde a ideologia racial não teria permitido um lugar social para a pessoa mestiça –, no Brasil as relações sexuais entre dominadores e dominados não teriam se dado sob uma atmosfera exclusivamente marcada pela hostilidade.
É lícito, contudo, registrar que Gilberto Freyre não ignora completamente o caráter abusivo dessas relações entre brancos e mulheres de cor. Mais importante do que o aspecto opressivo dessas práticas, argumenta o autor, teria sido a necessidade sentida pelos colonos de constituírem família. Por essa razão, tais relações teriam sido, segundo Gilberto Freyre, “adocicadas”, produzindo “zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos” (Freyre, 2001, p. 46).
Mais do que isso, a criação dessas zonas de confraternização teria implicado, no entendimento freyriano, uma atenuação da distância social entre senhores e escravos. Os mestiços libertos, em sua maioria, eram filhos de senhores proprietários de terras e engenhos. Beneficiaram-se não apenas da influência paterna para alcançar posições de destaque na burocracia estatal, como também herdaram parte de suas fortunas.
As relações entre senhores e mulheres escravizadas – sejam na forma de casamentos ou de “amigações” – teriam, segundo Gilberto Freyre, agido “poderosamente no sentido da democratização social no Brasil”. Entre os filhos mestiços, legítimos e mesmo ilegítimos, nascidos dessas uniões, “subdividiu-se parte considerável das grandes propriedades, quebrando-se assim a força das sesmarias feudais e dos latifúndios do tamanho de reinos” (Freyre, 2001, p. 46).
É dessa leitura freyriana que decorre a ideia segundo a qual, no Brasil – como já afirmava Joaquim Nabuco –, “a escravidão […] não azedou nunca a alma do escravo contra o senhor […] nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que existe naturalmente entre opressores e oprimidos” (Nabuco, 2000, p. 16).
Consequentemente, a sociedade brasileira teria sido governada pelo que mais tarde se convencionou chamar de democracia racial, fundada na crença de que, no Brasil, a miscigenação – tal como interpretada por Gilberto Freyre – não resultou numa separação racial rígida entre brancos e mestiços, como teria ocorrido no caso norte-americano.
A leitura de Caio Prado Júnior sobre a escravidão
Caio Prado Júnior não rejeita de modo absoluto a leitura freyriana da escravidão. Em um ponto essencial, ele concorda com Gilberto Freyre: o papel decisivo da mistura de raças no processo de colonização do Brasil. Assim como o autor de Casa-Grande & Senzala, Caio Prado sustenta que a “mestiçagem […] resulta da excepcional capacidade do português em cruzar com outras raças”. Graças a esse traço, afirma, “o número relativamente pequeno de colonos brancos que veio povoar o território pôde absorver as massas consideráveis de negros e índios que para ele afluíram ou nele já se encontravam; pôde impor seus padrões e cultura à colônia, que mais tarde, embora separada da mãe-pátria, conservará os caracteres essenciais de sua civilização” (Prado Júnior, 2007, p. 107).
Mas, ao contrário de Gilberto Freyre – para quem a escravidão não impediu a contribuição do negro para a formação cultural brasileira –, Caio Prado Júnior sustenta que o trabalho escravo inibiu, quando não interditou, o desenvolvimento do legado africano na constituição do modo de vida brasileiro. Isso porque, para ele, as relações sociais do período colonial não ultrapassavam o terreno puramente material em que se originavam, o que dificultava quase por completo a formação de uma “superestrutura mais complexa”.
Segundo ele, “o trabalho escravo nunca irá além do seu ponto de partida: o esforço físico constrangido; não educará o indivíduo, não o preparará para um plano de vida humana mais elevado. Não lhes acrescentará elementos morais; e, pelo contrário, degradá-lo-á, eliminando mesmo nele o conteúdo cultural que porventura tivesse trazido do estado primitivo” (Caio Prado Júnior, 2007, p. 342-43). Daí decorre, para Caio Prado Júnior, que as relações servis nada, ou quase nada, “acrescentarão ao complexo cultural da colônia”.
Caio Prado Júnior não poderia ter sido mais claro: para ele, o caráter material e restritivo das relações escravistas de produção teria impedido a formação de uma superestrutura capaz de incorporar ou desenvolver elementos culturais africanos. Com isso, acaba pressupondo, ainda que implicitamente, que a produção da vida material determina de modo direto a esfera espiritual da vida social.
Ora, a relação entre base e superestrutura está longe de se reduzir a uma causalidade mecânica, como se a superestrutura fosse um simples reflexo imediato da infraestrutura.
É o próprio Marx quem adverte que essa relação não obedece a uma causalidade unilinear. No texto de 1859, ao formular a tese de que “o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral”, ele esclarece posteriormente, em O capital, que tal proposição é válida apenas para o mundo moderno, “onde dominam os interesses materiais”. Em formações sociais como a Idade Média, marcada pela centralidade do catolicismo, ou nas sociedades antigas de Atenas e Roma, nas quais a política ocupava lugar predominante, essa premissa não se aplicaria de maneira imediata.
Como ele próprio observa, “é claro que a Idade Média não podia viver do catolicismo, assim como o mundo antigo não podia viver da política. Ao contrário, é o modo como eles produziam sua vida que explica por que lá era a política, aqui o catolicismo que desempenhava o papel principal” (Marx, 2017, p. 157, nota 33).
Na Idade Média, o catolicismo desempenhava um papel decisivo porque, nesse mundo, predominavam a economia camponesa, a dependência senhorial e a fraca dinamização mercantil. Por isso, a religião se afirmava como uma instituição organizada, dotada de autoridade moral e político-jurídica. Por sua vez, em Atenas, graças à organização da cidade-Estado grega e às práticas cívicas, a política constituía o epicentro da vida social.
Com esses exemplos históricos, Marx mostra que não se pode estabelecer uma correspondência direta e unilinear entre a forma econômica e a preponderância institucional.
Nem mesmo no capitalismo tal correspondência é imediata. Com efeito, referindo-se à Alemanha, Marx constata que neste país, “as condições são muito piores que na Inglaterra, pois aqui não há o contrapeso das leis fabris. Em todas as outras esferas, atormenta-nos, do mesmo modo como nos demais países ocidentais do continente europeu, não só o desenvolvimento da produção capitalista, mas também a falta desse desenvolvimento. Além das misérias modernas, aflige-nos toda uma série de misérias herdadas, decorrentes da permanência vegetativa de modos de produção arcaicos e antiquados, com o seu séquito de relações sociais e políticas anacrônicas. Padecemos não apenas por causa dos vivos, mas também por causa dos mortos. Le mort saisit le vif! (Marx, 2017, p, 79).
A partir dessa interpretação, pode-se retomar o argumento formulado por Caio Prado Júnior acerca da relação entre o trabalho escravo e a superestrutura, isto é, entre as relações escravistas de produção e o modo de vida espiritual da sociedade colonial. Para o autor de Formação do Brasil Contemporâneo, a base material da economia colonial não teria sido capaz de engendrar uma superestrutura mais complexa.
À luz de uma exegese ancorada no próprio Marx, contudo, impõe-se a seguinte indagação: ao sustentar tal tese, não estaria Caio Prado Júnior pressupondo uma relação de determinação direta entre estrutura econômica e superestrutura? Se essa questão se mostra pertinente, então sua formulação revela-se, no mínimo, conceitualmente imprecisa.
Mas esse não foi seu maior deslize teórico. Para afirmar que as relações de trabalho escravistas foram incapazes de engendrar uma superestrutura complexa, Caio Prado Júnior só poderia fazê-lo ignorando o enquadramento mais amplo do sistema colonial. Isso equivale a tratar o escravismo como uma forma de produção relativamente autônoma, explicada quase exclusivamente por suas relações econômicas internas.
Mas tal interpretação constituiria um verdadeiro absurdo metodológico, pois entraria em desacordo direto com a tese do “sentido da colonização”. De fato, “a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É esse o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução históricas dos trópicos americanos” (Caio Prado Júnior, 2007, p. 31).
Assim, é a partir do próprio Caio Prado Júnior que se podem encontrar elementos que tensionam – senão negam – a tese de que a colônia carecia de uma superestrutura complexa. Com efeito, não se pode ignorar que a exploração das colônias tropicais dependia, no mínimo, da existência de uma superestrutura política e jurídica capaz de assegurar o exercício do poder metropolitano. O escravismo colonial, portanto, não pode ser compreendido apenas a partir de sua dinâmica interna: ele estava inscrito em um sistema global, comandado pelas metrópoles, que regulava o comércio, a guerra, a legislação e as próprias formas de dominação.
Se a leitura aqui proposta de Caio Prado Júnior merece algum crédito, cabe ao leitor julgá-la por si mesmo. Cumprida essa etapa, pode-se então retornar a Gilberto Freyre e analisar como ele entende a contribuição do negro para a formação cultural do Brasil.
A cultura africana – herança bastarda
Não é simples sustentar, sem enfrentar objeções consistentes, que a população negra tenha desempenhado um papel decisivo na formação cultural do Brasil. No campo da religião – para mencionar apenas essa dimensão da vida social –, os africanos escravizados foram constrangidos a ocultar suas práticas e crenças sob o véu do cristianismo. A imposição da fé cristã obrigou-os a esconder ou a disfarçar conscientemente seus próprios sistemas religiosos.
É isso o que demonstra Abdias Nascimento, para quem “os escravos foram compelidos a cultuar, aparentemente, deuses estranhos; mas, sob o nome dos santos católicos, guardaram – no coração aquecido pelo fogo de Xangô – suas verdadeiras divindades: os orixás. […] O sincretismo é simplesmente uma máscara posta sobre deuses negros para benefício dos brancos […]. Para manter a completa submissão do africano, o sistema escravista necessitava acorrentar não apenas o corpo físico do escravo, mas também seu espírito” (Nascimento, 2016, p. 133–134).
É nessa mesma perspectiva que caminha Emília Viotti da Costa. Assim como Abdias Nascimento e Clóvis Moura, ela argumenta que a aceitação do cristianismo pelos negros era, em geral, puramente exterior. Isso se evidencia, por exemplo, “nas congadas, imbuídas de caráter tipicamente africano, onde se uniam danças profanas e festas religiosas cristãs. A intromissão de certos elementos das culturas negras, nessa forma de catolicismo desnaturado, possibilitava a preservação de valores africanos nativos, embora disfarçados sob a máscara cristã” (Costa, 1989, p. 260).
Além dessa distorção da religião africana, sua cultura, em geral, passou pelo que Nascimento denomina “bastardização da cultura afro-brasileira”. Tal processo chega ao ponto de reduzir a cultura africana a um simples instrumento de folclorização: “uma sutil forma de etnocídio”, diz ele, que começa com a venda do “espírito africano na pia do batismo católico”, bem como pela ação da indústria turística, que comercializa o negro “como folclore, como ritmos, danças e canções” (Nascimento, 2016, p. 1487).
Por tudo isso, pode-se afirmar que a herança cultural africana no Brasil foi profundamente distorcida. Aquilo que o país de fato incorporou ocorreu de maneira deturpada, e o sincretismo religioso é talvez a evidência mais clara desse processo.
Mas nem mesmo sob a forma dessa herança distorcida Caio Prado Júnior admite que o negro tenha desempenhado algum papel positivo na formação cultural brasileira. Para ele, o negro teria contribuído pouco – ou quase nada – para a elaboração de um plano de vida culturalmente elevado. Leitor de Gilberto Freyre, concorda com este autor que, para apreender a participação do negro na formação do país, é preciso distinguir “entre o papel do escravo e do negro”. Contudo, ao contrário de Freyre, Prado Júnior considera essa distinção, se não impossível, ao menos muito difícil. Por quê? Porque, segundo ele, “ambas as figuras se confundem no mesmo indivíduo, e a contribuição do segundo se realiza quase sempre através do primeiro”.
Mesmo quando houve contribuição positiva do negro para a formação do país, isto, afirma Caio Prado Júnior, “se anulou na maior parte dos casos, deturpou-se em quase tudo mais”. Isso porque, conclui, “a escravidão, como se praticou na colônia, o esterilizou, e ao mesmo tempo que lhe amputava a maior parte de suas qualidades, aguçou nele o que era portador de elementos corruptores ou que se tornaram tal por efeito dela mesma”.
E o que é mais grave: Caio Prado Júnior parte do pressuposto de que a cultura ocidental é superior à africana, pois entendia que “o baixo nível de sua cultura [do negro], em oposição ao da raça dominante, impediu-lhe de se afirmar com vigor e sobrepor-se à sua miserável condição…” (Prado, 2007, p. 343–344).
Ao contrário de Caio Prado Júnior, cujo preconceito cultural o impediu de reconhecer qualquer contribuição do negro para a formação cultural do país, Gilberto Freyre sustenta que o negro foi “o verdadeiro colonizador do Brasil”. É assim que Élida Rugai Bastos, em sua reconstrução crítica da obra freyriana – com particular destaque para Casa-Grande & Senzala –, interpreta o papel que Freyre atribui ao negro na colonização dos trópicos brasileiros. Segundo Bastos, o negro aparece, nessa obra seminal, como “o maior e mais plástico colaborador do branco” na edificação da civilização portuguesa em terras brasileiras.
Nesse processo, desempenharia uma “missão civilizadora” tanto em relação ao indígena quanto ao português. Ao negro caberia o domínio “da cozinha, da vida sexual, das profissões técnicas” e da música, bem como a transformação da língua, atuando como amante e confidente. Letrados, observa Bastos, seriam “felizes os meninos que aprenderam a ler e a escrever com professores negros, doces e bons” (Bastos, 2006, p. 53).
Essa comparação entre Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre suscita indagações fundamentais acerca do método e do objeto de interpretação. Com efeito, há entre ambos um profundo abismo epistemológico, que deve ser levado em conta em qualquer análise comparativa de suas interpretações do Brasil. Não obstante essa distância, os dois autores convergem na compreensão de que a colonização não constitui apenas um fato histórico encerrado no passado, mas um processo formador cujos efeitos estruturam de modo duradouro a vida social brasileira.
Não é exagero afirmar, portanto, que, nesse sentido, ambos reconhecem que, na formação social brasileira, o moderno e o arcaico, o velho e o novo, se articulam de tal maneira que o presente é vivido como portador de formas e conteúdos herdados do passado.
Essa convivência do velho com o novo, isto é, essa conjugação de temporalidades dissonantes, é, contudo, pensada de forma radicalmente distinta. Em Gilberto Freyre, tal dissonância não se traduz em contradições disruptivas. Para o autor, as tensões sociais, econômicas e políticas tendem antes à acomodação e ao equilíbrio do que ao conflito aberto. Não poderia ser diferente, uma vez que Freyre se apropria da noção spenceriana de evolução social para conceber os antagonismos como forças que, longe de se anularem ou se superarem por ruptura, continuam a coexistir de modo relativamente harmonioso no interior da formação social brasileira.
Conforme observa Pallares-Burke (2015), por meio da leitura direta de Spencer e, indiretamente, como aluno de Franklin Giddings – considerado um dos principais comentadores da obra spenceriana –, Gilberto Freyre “tropicalizou” o conceito de equilíbrio, concebendo-o como um processo de contemporização entre forças antagônicas, a partir do qual elaborou uma nova interpretação do Brasil.
Bem diferente de Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior não contemporiza as contradições que conformam o presente vivido. Como intérprete de Marx, apoia-se na pesquisa histórica para apreender as determinações fundamentais de seu objeto de estudo e, a partir delas, expor sua dinâmica contraditória, isto é, sua dialeticidade. Para ele, portanto, as contradições aparecem como força motriz do movimento dos opostos, e não como elementos conformadores de um todo permanentemente equilibrado, como ocorre na interpretação freyriana.
À luz dessas considerações acerca dos fundamentos do conhecimento em Gilberto Freyre e Caio Prado Júnior, o leitor poderá agora avaliar a contribuição de cada um para a interpretação da escravidão nos trópicos brasileiros. Sem esquecer, evidentemente, que essas diferenças epistemológicas situam esses pensadores em universos teóricos distintos, a partir dos quais elaboram concepções divergentes sobre o papel do escravizado na formação nacional. Nesses termos, torna-se possível examinar criticamente cada uma dessas interpretações de modo mais objetivo, evitando juízos fundados em preferências meramente subjetivas.
*Francisco Teixeira é professor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e professor aposentado da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Autor, entre outros livros, de Pensando com Marx (Ensaios) [https://amzn.to/4cGbd26]
Referências
Araújo, Ricardo Benzaquen de. Guerra e paz: casa-grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1994.
Bastos, Elide Rugai. As criaturas de prometeu: Gilberto Freyre e a formação da sociedade brasileira. São `Paulo: Global, 2006
Costa, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. São Paulo: Brasiliense, 1989.
Freyre, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Record, 2001.
Moura, Clovis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2019.
Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2016.
Palares-Burque, Maria Lúcia Garcia. Gilberto Freyre: um vitoriano dos trópicos. São Paulo: Unesp, 2005.
Prado Júnior, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 2007.