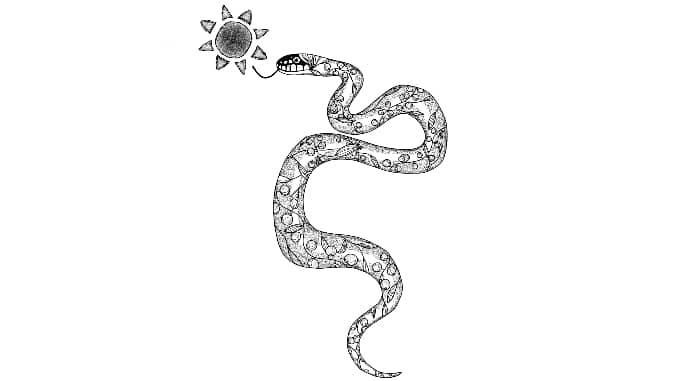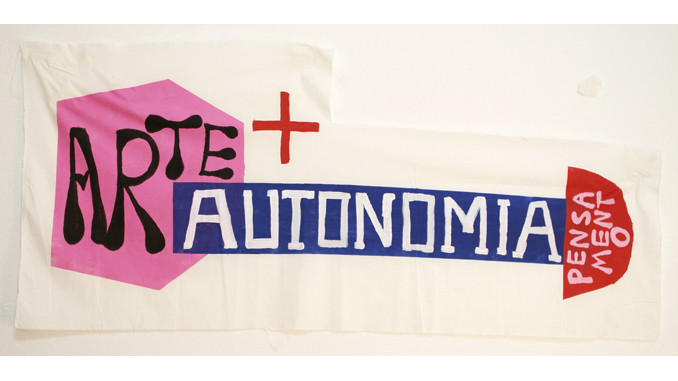Por JALDES MENESES*
Melhor seria invocar a adaptação/inversão de Foucault do “aforismo” de Clausewitz: magníficas, coligidas no livro Em Defesa da Sociedade: “A política é a guerra continuada por outros meios”
Sempre estivemos em guerra – Ailton Krenak
Da defensiva à ofensiva e de volta à defensiva?
O massacre do Alemão e da Penha, ocorrido na terça-feira (28/11) desta semana, alterou a pauta da política nacional. Em termos de negatividade, é um acontecimento seminal. A anistia e o tarifaço continuam temas fundamentais, mas saíram, pelo menos por enquanto, do centro da cena. Até então, estávamos ganhando a guerra de narrativas contra a extrema direita.
Desde o processo eleitoral de 2018, que elegeu Bolsonaro, a extrema direita sempre operou na ofensiva. Em todas as crises, mesmo na pandemia – a mais grave de todas –, sempre dobrou a aposta. Recentemente, o governo Lula passou da defensiva (alguns chegavam a dizer que o governo “estava nas cordas”) para a ofensiva. Os temas da pauta começaram a nos favorecer.
A questão do IOF evidenciou o conflito distributivo e a concentração de renda. Mas foi o aumento de tarifas nos moldes propostos por Donald Trump que revelou, de forma incontornável, uma conjuntura marcada – não apenas para o governo, mas para todas as forças sociais nacionais conscientes – pela retomada de duas velhas e conhecidas “toupeiras”: a assim chamada “questão nacional” e a urgência da “luta anti-imperialista”.
Agora a pauta girou: a agenda antiga continua, mas o proscênio, a partir dos acontecimentos do Alemão e da Penha, passou a ser ocupado pela Segurança Pública. A liderança de Bolsonaro na construção da narrativa está sendo eclipsada. O consórcio dos governadores de extrema direita, que comandam as principais economias brasileiras, assume a dianteira.
Lênin perguntava: o que fazer?
Nosso discurso de enfrentamento tem quatro eixos principais:
1. Conceito: narcotráfico versus terrorismo;
2. Operação carbono versus operação contenção (com números);
3. PEC da Segurança;
4. Investigação das relações de Castro com as milícias e o crime organizado de colarinho branco (Refit).
Será suficiente?
Ao que parece, na dinâmica do processo, Lula autorizou Lewandowski a costurar um acordo com o governador Cláudio Castro. Diz-se “acordo”, mas, no fundo, assemelhava-se a um armistício entre os governos federal e do Rio. Ambos pareciam reconhecer uma situação de “equilíbrio instável”, na qual se sentiam mutuamente inseguros. Some-se a isso certas injunções da política carioca que, por ora, não valem a pena detalhar.
Contudo, a reunião de ontem dos governadores de extrema direita tem outro significado, e a criação demagógica de um tal “Consórcio da Paz” (nome inspirado no Consórcio de governadores do Nordeste) dista de qualquer armistício. Sem dourar a pílula, os governadores se pintaram para a guerra, no objetivo sem disfarces de abrir a possibilidade de uma crise federativa gigantesca.
O cerne do problema da atuação da esquerda, no entanto, é que no Rio o seu discurso perdeu acolhida na questão da violência. A discussão sobre a correção do modelo adotado por Cláudio Castro é insuficiente porque, no fim, a retórica de “inteligência” não se sustenta. Sozinha, ela não resolveria a questão. A lógica efetiva passaria pela desarticulação financeira do crime organizado e pela ocupação efetiva dos territórios, mesmo que em um primeiro momento isso signifique uma presença ostensiva das polícias.
A questão crucial é que o governo parece saber que talvez não conte, nas atuais condições de correlação de forças, com meios para tanto. Ocorre que, ao ocupar apenas um local, o crime simplesmente se desloca para outro.
A Gramática Belicista da Extrema Direita: De Clausewitz à Bukelização
Em um tuíte recente, o governo de Tarcísio Freitas fornece pistas do conteúdo do projeto da extrema direita. Invoca falaciosamente Clausewitz. Precisamos desconstruir esse debate. Escreveu, no clássico Da Guerra, o famoso militar prussiano, “a guerra é a continuação da política por outros meios”, uma dessas frases muito citadas e pouco compreendidas. Melhor seria invocar, para o caso do Rio de Janeiro, a adaptação/inversão de Foucault do “aforismo” de Clausewitz, pronunciadas nas aulas, magníficas, coligidas no livro, histórica e historiograficamente polêmico, Em Defesa da Sociedade: “A política é a guerra continuada por outros meios” (p. 22).
Enquanto Clausewitz via a guerra como um instrumento da política, Foucault propõe, digamos assim, que a guerra é o fundamento oculto do poder. A relação política fundamental não é o contrato, mas o embate, a dominação e a subjugação estabelecidas por um conflito histórico. A política é a própria guerra, mas travada de forma institucionalizada. As instituições, as leis, a justiça e o Estado não são o oposto da guerra; são suas herdeiras. Elas organizam, administram e perpetuam os desequilíbrios de força de uma guerra que nunca terminou, apenas mudou de arena. O poder, portanto, é uma relação de força. A “paz social” não é o fim do conflito, mas sua suspensão temporária e a sua gestão por meio de mecanismos de controle, norma e disciplina.
Em suma, Foucault desloca o foco: não é que eventualmente a política recorra à guerra. A própria estrutura da sociedade e do poder político é beligerante. A política é o campo onde a guerra se disfarça de ordem, mas onde as mesmas relações de dominação, agora burocratizadas, continuam a operar.
Aliás, Eduardo Bolsonaro já deu a senha: a “guerra contra as drogas” seria travada em termos de “bukelização do país (referência ao presidente “novo fascista” Nayib Kukele, de El Salvador) – um eufemismo para a necropolítica. Em suma, uma posição de esquerda precisa atuar em duas frentes: conquistar o “território” sem promover o massacre de pretos e quase pretos de tão pobres.
Quando se aplica a lógica bélica de “conquistar território”, “destruir poder militar” e “subjugar a vontade” às favelas, legitima-se um estado de exceção permanente. Nesse contexto, os moradores se tornam vítimas de violência institucional, operações policiais de alta letalidade e suspensão de direitos. Não se trata de uma guerra entre exércitos, mas de um projeto de controle territorial e social que reiteradamente elimina jovens pobres e pretos sob o discurso do “combate ao tráfico”.
Além disso, a comparação com Clausewitz – Tarcísio, para quem não sabe e até, com certeza, para ele mesmo, aparenta se transformar em (quem diria?) uma introversão “foucaultiana” – esvazia-se na prática: não há “tratados de paz” possíveis, não há rendição, não há fim anunciado. A “guerra” torna-se um ciclo autoperpetuado, útil do ponto de vista político-eleitoral, mas, mais do que isso, sintomático do fascismo social brasileiro.
O ponto é justamente esse: guerra é uma coisa, o monopólio legítimo da força pelo Estado é outra. O problema reside na politização do uso da força contra a própria população, em especial as comunidades negras e periféricas, tratadas como “inimigo interno”.
Enfim, Canudos reencarnou no Alemão e na Penha. Esta é a dimensão histórica da Chacina havida esta semana nos morros do Rio de Janeiro, a maior chacina urbana da história brasileira. 111 presos pretos e quase pretos de tão pobres morreram no Carandiru. Alemão e Penha superaram a marca e bateram o novo recorde: 123 são quase todos pretos. Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres, como cantou Caetano Veloso em Haiti (que é aqui).
Walter Benjamin escreveu em “Teses sobre o conceito de história” que as vítimas da barbárie, de Canudos, de Carandiru, de Gaza, de todos os massacres da história ficarão congeladas no tempo dialético da ira justa, no dia da vingança dos oprimidos há “o salto dialético”, um “salto de tigre no passado”, uma irrupção no presente, no “tempo de hoje”. O Brasil jamais se completará como nação enquanto não purgar todos os massacres de pretos e quase pretos de tão pobres.
*Jaldes Meneses É Professor Titular do Departamento de História da UFPB