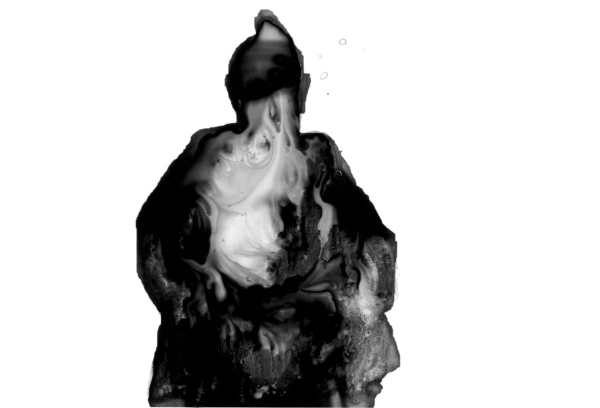Por PEDRO LIMA VASCONCELLOS*
Introdução do autor ao livro recém-lançado
“Em nome de Deus, deixem a Palestina em paz!” (Yusuf al-Kalidhi, prefeito de Al-Quds/Jerusalém, em carta a Theodor Herzl, criador do movimento sionista, 1898).
“Nós exigimos a Palestina porque ela é nosso país” (Congresso sionista,1937).
1.
A tragédia vivida de maneira ineditamente aguda pelo povo palestino vem de antes mesmo que se impusesse, em 1948, o Estado sionista no território por ele habitado, algo experimentado pela população ali enraizada como Nakba (tragédia, em árabe), a catástrofe experimentada ao longo do século XX e nas primeiras décadas deste, na forma de um avanço colonial, racista, supremacista.
O assunto veio à tona de forma mais intensa a partir de 7 de outubro de 2023, quando ocorreu a incisiva manifestação da resistência palestina. Mas é importante se dar conta de que o que ocorreu naquele dia veio na sequência de eventos, no curto, médio e longo prazo, dos quais, em geral, não se tem conhecimento.
Isto deveria parecer óbvio, mas não o é, já que a informação corrente, certamente por conta de poderosos influxos despejados dia e noite por uma avalanche midiática comprometida quase sem exceção – e de modo visceral – com os interesses sionistas (que são os do império), mas não só por eles, faz daquele 7 de outubro como que o big bang da questão palestina.
A tragédia palestina tem história e se patenteou no território em inícios do século XX; agora que o problema recrudesceu e ganhou as manchetes e as telas – apesar de todas as censuras dos meios dominantes de comunicação – e a brutalidade do Estado sionista se escancarou, tornando impossível não ver a vigência de uma guerra de limpeza étnica e, no extremo, de extermínio; isto a despeito de todas as afirmações em contrário, que cada vez mais rareiam, sob o silêncio cúmplice de grande parte da “comunidade internacional”.
A questão palestina se nos apresenta como a mais dramática de nossos dias; os horrores praticados na Faixa de Gaza (e fora dela) pelo Estado sionista, financiados pelas principais potências do mundo, estão diante de nossos olhos, apesar de sistematicamente encobertos pela mídia subordinada à lógica do capital. O que hoje vemos neste território resulta de uma história, algumas vezes milenar, tecida de muitos e variados fios, e nela as religiões vêm ocupando espaços e atribuições decisivas. Principalmente aquelas denominadas monoteístas (ou abraâmicas) têm no sítio palestino lugares de definição, de intervenção, de configuração.
Com isso chego ao ponto. Em meio a este horror generalizado e aos modos de o registrar e comunicar, algo me chamou a atenção. As análises a respeito do assunto têm destacado elementos fundamentais, como a questão geopolítica, a correlação de forças entre as potências que dominam o mundo, os interesses regionais relacionados ao petróleo, no assim chamado Oriente Médio, região muito cobiçada por conta disso.
Mas justamente a faceta que pretendo aqui problematizar – a das religiões – é pouco mencionada ou considerada, quando não simplesmente ignorada, como se fosse de menor ou nula importância.
Vejamos. O referido (contra)ataque do dia 7 de outubro foi nomeado, por quem o organizou e efetivou, “Operação Dilúvio de Al-Aqsa”. Em defesa de Al-Aqsa. Mas o que é Al-Aqsa? É o nome de uma mesquita muçulmana situada no coração da cidade de Jerusalém, e que, por extensão, é usado para designar o complexo arquitetônico que inclui, em seu centro, o edifício conhecido como “Domo da Rocha” (o complexo leva também o nome de Haram al-Sharif, que significa “O Nobre Santuário”, e ainda “Esplanada das Mesquitas”, expressão imprecisa, pois que o “Domo” não é propriamente uma mesquita).
E aí chamo a atenção para o nome Al-Quds (A [cidade] sagrada): ele pode não ser de conhecimento geral, mas ainda há outro: Bayt al-Maqdis (A casa sagrada). Estes são os nomes em árabe da cidade em geral por nós conhecida como Jerusalém. E por que esta diversidade de nomes, e por que um deles nos é conhecido e não os outros?
Ora, isso tem a ver justamente com disputas e intercâmbios que envolvem, histórica e visceralmente, símbolos e referências das religiões presentes, atuantes, configuradoras deste espaço tão carregado (“historicamente conotado”, dirá Freud em documento fundamental que deverá ser abordado no final deste livro[i]) como é a Palestina. O que significa dizer que não é suficiente tratar a questão palestina apenas no século em que ela se viu configurada, ou seja, o século XX.
2.
Mas justamente o lugar do operador religioso, estampado nesta paisagem como aquele que atravessa toda a questão, continua a não merecer a atenção que lhe é devida. Costuma-se dizer: “o problema entre Israel e Palestina não é religioso, não se trata de uma guerra religiosa”, considerando-se, provavelmente, que alguém pudesse tomar o que ora ocorre na perspectiva da reedição das cruzadas medievais, por exemplo.
Mas, com essa negativa, acaba-se por retirar de cena o tema, como se fosse possível pensar a questão da Palestina sem levar em consideração o construto religioso ou os construtos religiosos ali presentes, interativos, eventualmente conflitantes entre si. Isso para não dizer das apreciações que os tomam de passagem, ou com um misto de descuido, superficialidade e desdém.
A defesa de Al-Aqsa, o nome da Mesquita no coração de Al-Quds: como é possível ignorar as tensões que reverberam nestes nomes e títulos? E ainda mais: como ignorar que as religiões não estão apenas de um lado do conflito? Como ignorar que os defensores mais furibundos da limpeza étnica, do extermínio, dentro do governo de Benjamin Netanyahu, sejam vozes oriundas dos chamados “partidos religiosos” em Israel? Como é possível tratar da presente “questão palestina” ignorando que as religiões jogam ali um papel absolutamente crucial na configuração daquele espaço, há milhares de anos?
Decido por explorar aqui este quadro, o quanto possível, começando desde a Palestina naqueles tempos que, pela força poderosa de uma certa tradição, costumam ser chamados “bíblicos”, até os dias de hoje, considerando principalmente questões que dizem respeito às dinâmicas religiosas que permeiam e compõem a vida social e política, em meio a não poucos choques e guerras.
Desde já, quero colocar, como ponto de partida, que no momento oportuno deverá ser justificado: aquele Israel de que se fala nas páginas das escrituras das religiões monoteístas se formou como povo na Antiguidade, dentro da Palestina.[ii] E a Palestina nunca deixou de ser assim chamada, Palestina – com flutuações, é claro –, mesmo depois que Israel aí se formou como uma grandeza – atenção – distinta daquela de Judá (da qual derivarão nomes como “Judeia” e “judeu”).
Constatá-lo muda completamente a chave a partir da qual se adentra o território em seu delinear histórico, para vasculhar quais os elementos que o constituem, as etnias que o compõem e o habitam, as tradições culturais, as práticas religiosas. Daí vem toda uma história complexa e multifacetada, com estas marcas presentes de maneira radical.
Mas é preciso toda a atenção às armadilhas preparadas no caminho, para além das bombas e morteiros de todo tipo que alvejam aquele território tão pequeno,[iii] arrasando mesquitas e igrejas: elas se constituem em alvos selecionados previamente para serem eliminados, junto com hospitais, residências, universidades.
O que está em jogo nesse território assim tão minúsculo, tão pobre do ponto de vista econômico, no que diz respeito aos recursos naturais? Um território em que falta água, em que o único curso permanente de algum vulto neste território é o rio Jordão, que inclusive faz divisa com outro país, a Jordânia; insisto: o que aguça tanto os interesses, mas também os humores, as raivas, os ódios?
3.
Trago aqui um parágrafo da obra de um autor que deverei trazer em consideração ao longo do livro, um chileno de nascimento, mas fundamentalmente um estadunidense: William Fox Albright. Ele se destacou na primeira metade do século passado por ter desenvolvido, durante décadas, pesquisas arqueológicas no chão da Palestina, buscando as evidências materiais (restos de cerâmica, de construções, de muros, casas, utensílios os mais variados) que comprovassem a veracidade e a credibilidade histórica dos textos bíblicos.
Contudo, além de um arqueólogo muito respeitado, William Fox Albright foi também um missionário cristão evangélico. Ele investigou na Palestina aquilo que pudesse encontrar no solo, e principalmente abaixo dele, que sustentasse a validade, do ponto de vista factual, de narrativas que estão na escritura judaica, como, por exemplo, a conquista da terra da Palestina (aí chamada de Canaã) pelo povo de Israel, comandado por Josué, o sucessor de Moisés na história bem conhecida.
Nesse sentido, é importante pensar não só nos resultados a que ele terá chegado, mas no espírito com que ele fazia o seu trabalho, que o levou a ter sido o primeiro não judeu a receber o título de cidadão de Jerusalém, alguns anos após a imposição do Estado sionista ao território palestino. O que terá feito este conhecido pesquisador para o merecer? Com que espírito ele desenvolveu sua obra de escavador, investigador, historiador?
Vamos a um texto seu, de meados do século passado, decorrido algum tempo da referida imposição: “A extraordinária influência exercida pela Palestina no curso da história mundial sempre se apresentou como um paradoxo aos olhos de qualquer historiador imbuído de preconceitos pragmáticos. Que um país tão pobre e de tão pequenas proporções tenha podido dar origem ao judaísmo e ao cristianismo e, através destes dois movimentos, exercer uma influência sem paralelo no envolvimento das atividades humanas durante os últimos dois mil anos, parece absolutamente absurdo a todos aqueles que visitam na Palestina pela primeira vez”.[iv]
Há uma omissão perturbadora neste parágrafo. William Fox Albright fala da Palestina como o lar de origem de duas religiões. Mas a Palestina que ele visita, escava e devassa é majoritariamente muçulmana! E esta Palestina muçulmana lhe escapa completamente aos olhos? Arrisco mais: por que Albright vai às ruínas?
Ele escava o chão palestino porque, na superfície, (quase) tudo é (ou era?) muçulmano, há mais de mil anos. Precisa fazê-lo para descobrir o que está por baixo daquilo que a superfície lhe mostra e contrapor uma camada a outra. E, ao ignorar o que está ao rés do chão, ao removê-lo, ele contribui para o apagamento que a política e a força se estão encarregando de realizar, justamente do que ainda está na paisagem tradicional.
William Fox Albright é representante de um olhar para o território da Palestina que ignora o presente da Palestina. O que ele tem diante dos olhos é uma população palestina majoritariamente muçulmana; e os sítios são/eram, em sua maioria, associados a tradições muçulmanas. Mas disso Albright não quer saber: ele parece atuar tomando o que está na superfície como marcas da usurpação de um território que arbitrariamente toma como judeu e cristão, nada mais. O que ele vê na superfície é preciso converter em entulho e remover, porque produção indevida.
4.
Esta observação se junta a um lema associado ao movimento sionista estabelecido no fim do século XIX: “Uma terra sem povo para um povo sem-terra”. Terei oportunidade de problematizar tanto o lema como sua origem. Por ora me pergunto: era uma questão de desinformação? Sionistas não sabiam que havia gente na Palestina?
É que o problema era de outra ordem: eles entendiam que a população ali residente tomava como seu o território que, rigorosamente, não lhe pertencia. Nesta versão infamante, aquela população é tomada como invasora daquele território há séculos e, portanto, deve ser convertida em estrangeira e removida dali; se necessário, eliminada. Veja-se, portanto, como, de maneira muito sutil, o empreendimento arqueológico de um William Fox Albright (e há outros!) se soma ao projeto político excludente encarnado pelo sionismo; não é à toa, portanto, que ele recebe o título de cidadão honorário de Jerusalém, em 1956.
Será preciso desencavar o nervo político-ideológico da arqueologia. Quando começaram as escavações no território da Palestina? Essas escavações, no século XIX basicamente, depois das invasões napoleônicas ali no Egito, ocorreram porque a Europa havia despertado avidamente – a rigor, nunca dormira – para as culturas antigas daquela região, que começaram a ser estudadas.
Os textos egípcios passaram a ser lidos, agora que o sistema de escrita neles estampado acabava de ser decifrado; semelhantemente ocorreu com os povos antigos da Mesopotâmia e seus textos. Mas o olhar europeu, ao se direcionar para a Palestina, não mirou interesses – digamos – exclusivamente científicos: viu na população que ali residia (como parte do Império Otomano) um contingente de todo estranho ao território.
A esse olhar não interessavam tanto os seus monumentos, nem os seus símbolos, nem as suas referências fundamentais: interessava, além de poucos ícones constitutivos do que então denominavam “Terra Santa”, o que estava no subsolo. E aí cabe notar o deslocamento dos nomes: esta arqueologia que começa a ser praticada no século XIX, em sua segunda metade principalmente, que era chamada na época de “arqueologia palestina” ou “da Palestina”, com o passar do tempo vai sendo denominada preferencialmente “arqueologia bíblica”.
Por quê? Por conta desse movimento que buscarei aqui explicitar: a Palestina é tomada como a terra do judaísmo e do cristianismo – foi o que William Fox Albright acentuou – ao mesmo tempo que habitada por palestinos, majoritariamente muçulmanos. Mas ela tem de ser uma terra habitada pelos herdeiros legítimos de Abraão, que advêm da linhagem Isaac-Jacó: só a estes contingentes é ela destinada – assim leem no relato sagrado judeu, da terra prometida ao patriarca ancestral.
5.
E já que mencionei o sionismo – do qual, obviamente, terei de tratar largamente – vale recordar que, nas discussões iniciais que ocorriam em seu interior, se chegou a pensar num projeto visando deslocar massas judias da Europa na direção do interior da Argentina! Sim, da Patagônia, cuja população originária fora quase dizimada pela ação “civilizatória” do governo de Buenos Aires. Mas a ideia não prosperou. E por quê? “Porque a terra ora denominada Palestina é nossa”; eis o teor da resposta que se impõe no interior do movimento, mesmo que ainda não verbalizada nestes termos.
Theodor Herzl, de quem terei de tratar umas tantas vezes, em algum momento do seu livro O Estado dos judeus[v], de 1896, menciona estas discussões internas ao sionismo, acentuando a direção que, enfim, o movimento por ele liderado deve assumir. Mais ainda: ele manifesta a expectativa de que, com a dádiva da Palestina para a implantação do Estado sionista, aquele território seja convertido num baluarte da Europa contra a barbárie representada pela Ásia.
E, por Ásia, ele considera primariamente a população semita, muçulmana, que habita aquela região que, não por acaso, cada vez mais passou a ser nomeada “Oriente Médio” em lugar do tradicional “Mundo Árabe”. Uma extensão da Europa na Ásia, para ser habitada por uma população basicamente branca, culturalmente superior.
Ou seja, o projeto sionista – que terei de abordar mais detidamente no momento oportuno – comporta o supremacismo em sua definição mesma, e assim tem operado inclusive em relação aos próprios segmentos que se definem como judeus; combina, em graus variados, a depender das circunstâncias, dos sujeitos e das agendas, concepções de superioridade étnica e de nacionalismo exclusivista; e carrega, de maneira cada vez menos dissimulada e cada vez mais histriônica e truculenta, intentos claros de guerra religiosa.
Está em curso um projeto de “judaização” não só de Al-Aqsa[vi] ou de Gaza, mas de toda a Palestina. Este é um componente que, definitivamente, não pode ser ignorado nas considerações que se fazem sobre o tema, abordado tanto na curta como na média e longa duração histórica.
Assim sendo, o que procurarei salientar nas páginas deste livro é a presença insofismável, complexa, multifacetada do referencial religioso na composição da atual “questão palestina”, num percurso que articulo em trinta capítulos, pensados tendo a cronologia como referência – afinal, esta é uma história que, para o que importa, beira quatro mil anos. Mas não me atrelarei a ela: alguns capítulos tratarão de trajetos paralelos; em outros, o alcance temporal é o que o livro todo procura abranger, e outros mais estarão focados em conjunturas estritas.
Como o foco da obra é “a questão palestina”, muitas vezes o acento recairá mais naquilo que fizeram da Palestina do que naquilo que a gente palestina fez do que fizeram dela/contra ela, tratando de perceber, em torno dos variados temas, como o religioso – nas religiões e para além delas – se foi configurando e presentificando na vida dos grupos humanos no território e daqueles com ele envolvidos de variadas formas, e de que modos ele tem oferecido vasto, quase inesgotável repertório para a definição de olhares e posicionamentos quanto a este território e suas populações.
Vasculho as fontes, de toda forma, em busca de constatar como a população residente no território palestino veio fazendo sua história ao longo destes milênios aqui em questão. Interessam-me mais as trajetórias de protagonistas comuns; no campo das religiões, importam-me mais os caminhos das múltiplas devoções, tais quais experimentados no cotidiano da vida devota, que as determinações institucionais.
No entanto, dado o olhar cobiçoso que a região sempre suscitou da parte de potências, impérios, instituições de variada ordem, inevitavelmente veremos as vidas das várias gentes da Palestina sacudidas por incursões militares, conquistas truculentas, imposições culturais; particularmente nos últimos capítulos de meu relato, referentes ao que vem do século XIX até agora, os agentes serão principalmente generais, políticos, lordes, militares, diplomatas, comandantes, terroristas de Estado.
E não escaparão de minha atenção os fios de religião que configuram os horizontes e perpassam as ações destes sujeitos e das instituições que eles representam (e/ou manipulam). Ou seja, tratarei da posição da religião e seu além na cultura, que invade, perfura e remexe todas as dimensões e esferas da vida na sociedade em que viveram e vivem estes sujeitos, em interação e conflito.
6.
Isto posto, apresento o desenrolar do percurso da seguinte forma: depois de apresentar algumas referências básicas, visando problematizar a questão a ser enfrentada na diacronia, bem como as ferramentas teóricas de que me servirei para minha aproximação ao tema, recuo aos tempos em que aparecem as primeiras referências ao nome “Palestina” como designação do território em questão, ou seja, aos séculos XIII-XII antes de nossa era, em meio à vastíssima documentação do mundo do antigo Egito, e, portanto, quase um milênio e meio antes de quando se costuma situar a invenção deste nome.
Sigo a partir deste momento da história, tratando de notar como Israel se formou dentro da Palestina, em meio e em relação com outras identidades presentes naquele território, ou seja, no interior de uma Palestina multicultural, multiétnica e multirreligiosa. E passarei por Jesus, um palestino que, sendo galileu, era judeu: faço a pergunta sobre como estes três qualificativos se articulam na identificação deste decisivo personagem que foi crucificado, a mando do poderio romano, na cidade de tantos nomes ao longo de sua história.
Um marco decisivo na história palestina é representado por aqueles tempos em que todo o mundo no entorno oriental do Mediterrâneo foi paulatinamente fazendo-se árabe. Refiro-me às transformações radicais que a região vivenciou entre os séculos VII-VIII, no bojo das quais se configurou um novo sistema religioso, o islã, em simbiose, interação e diferenciação em relação a tantas expressões de judaísmo e cristianismo – junto ainda a outras manifestações ali presentes.
O quadro que resultaria daí redefiniu decisivamente a paisagem sociorreligiosa de forma incisiva, e é preciso caracterizá-lo considerando o longo percurso de uma presença muçulmana enraizada no território, em meio a conflitos como os representados pelas cruzadas, mas também em tempos em que negociações e autonomias conquistadas fizeram frente às formas de dominação, como foram aqueles denominados “otomanos”.
A invasão napoleônica do Egito e da Palestina, na virada para o século XIX, abre a região às cobiças imperialistas francesa e britânica, e a Palestina, com suas especificidades, à sanha colonizadora europeia. Por óbvio, a “questão palestina” que se estampa ante nossos horrorizados olhos ganha seus contornos cada vez mais precisos a partir daí, com o aguçamento e a sequência de declarações de guerra a sua gente que caracterizaram o século passado e o primeiro quarto deste; mas as matérias-primas de que ela é feita têm larguíssimo lastro histórico.
Este roteiro é precedido de dois capítulos que, junto com esta introdução, oferecem uma apresentação ao tema feita num processo de aproximações sucessivas.
Como ilustração sumária da complexidade do que me proponho a desbravar, dois lances: (i) existe em Jerusalém/Al-Quds a Basílica do Santo Sepulcro, edifício cristão construído no lugar onde, segundo a tradição, Jesus fora sepultado. As disputas entre os segmentos cristãos (católico, protestante, ortodoxo de vários matizes) pelo controle deste sítio transcendental eram de tal monta que, já faz séculos, o cuidado dele foi confiado a famílias tradicionais palestinas, muçulmanas.
(ii) Quando ficou evidente o compromisso do Ocidente com a causa sionista, ou melhor, quando ficou claro que a opção pela qual se decidiu que a resolução da europeia “questão judaica” seria convertê-la em “questão palestina”, com a descarada “Declaração Balfour” de 1917 e a consequente invasão britânica de Jerusalém/Al-Quds, a primeira forma institucional que a resistência palestina assumiu foi a de um partido político cristão-muçulmano. Estes não são detalhes isolados; assentam-se em intrincada e complexa história que cumpre devassar.
Enfim, o percurso está proposto, abordando esses e outros temas, até chegar ao século XX, em que a questão sionista se coloca e a tragédia, a Nakba, se estabelece, não sem o concurso, não sem a presença, não sem estar atravessada desta engrenagem que vem do passado.
*Pedro Lima Vasconcellos é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Referência

Pedro Lima Vasconcellos. A questão palestina: a nervura religiosa da catástrofe. Curitiba, Kotter Editorial, 2025, 800 págs. [https://amzn.to/3KO0KZc]
Notas
[i] Veja o capítulo 30.
[ii] As quatro grandezas escriturísticas aqui em jogo são: a Torah (matriz do samaritanismo), a TaNaK (judaica), a Bíblia (cristã) e o Corão (muçulmano). No capítulo 8 estabelecerei algumas notações básicas sobre o nome TaNaK (na verdade um acrônimo), sua distinção em relação à Torah e à Bíblia, bem como sobre a relação entre ela e o Antigo Testamento cristão.
[iii] São mais de 2.000.000 de habitantes – a despeito de toda mortandade perpetrada – numa área de 365 km2, numa das maiores densidades demográficas no mundo.
[iv] William F. Albright. L’archeologia in Palestina. Firenze: Sansoni, 1961, p. 351.
[v] A tradução mais adequada do título é essa, pois que Herzl escreveu, em alemão, “Judenstaat”, e não “Jüdische Staat” (que se traduz por “Estado judeu”, expressão com que o livro veio a ser apresentado nas traduções francesa e inglesa que logo se fizeram dele). Fala-se mesmo de uma ambiguidade tecida no interior do sionismo nascente: tratar-se-ia ia de criar um Estado que servisse de proteção para judeus? Ou o que deveria ser buscado era um Estado judeu, no sentido de uma instituição não secular, comprometida e vinculada a um ideário religioso específico? Por outro lado, não se pode deixar de notar que a expressão alemã adotada por Herzl traz embutida a noção da vinculação do ente político a ser criado com apenas uma etnia, evidenciando o viés supremacista e exclusivista – e, portanto, higienista – do projeto.
[vi] Como bem mostra importante documentário, disponível no YouTube, “A corrida para a judaização de Al-Aqsa” (https://www.youtube.com/watch?v=WV38fTtLJ4k
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A