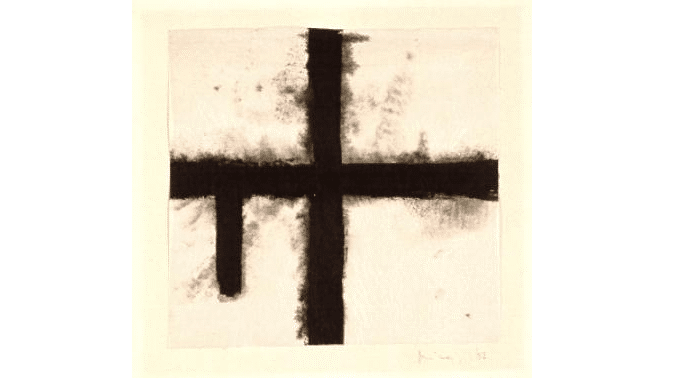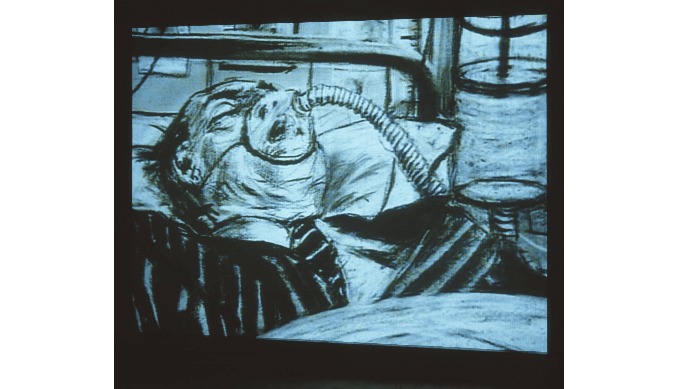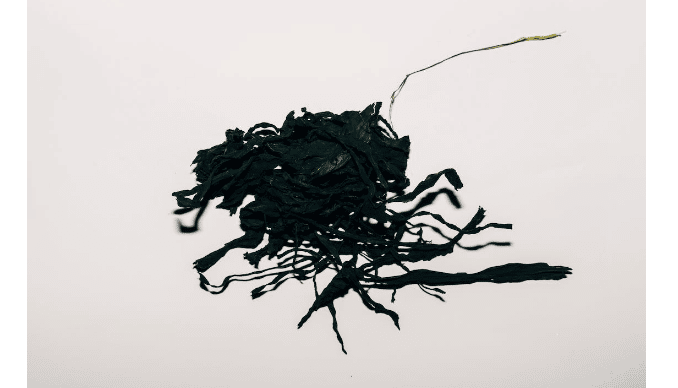Por EMILIO CAFASSI*
O veto presidencial, fóssil monárquico na democracia, é a arma predileta de Milei: uma ferramenta de demolição legislativa que transforma a república em teatro de autoritarismo neoliberal
Presidencialismo, parlamentarismo e o legado do veto
Na cartografia dos poderes, o presidencialismo e o parlamentarismo emergem como duas arquiteturas políticas que, embora compartilhem os mesmos elementos — leis, votos, instituições —, distribuem de forma diferente os encargos e as chaves de comando. O primeiro, nascido da experiência norte-americana e multiplicado nas Américas como legado ibero-americano, concentra a liderança do Estado e do governo em uma figura unicéfala. O segundo, modelado na tradição europeia, separa simbolicamente as duas coroas e submete o executivo à pressão constante do parlamento, que lhe dá origem e pode também retirar-lhe a confiança.
No presidencialismo, a legitimidade é bifurcada: o presidente recebe seu mandato diretamente do povo, enquanto o Parlamento mantém sua própria origem eleitoral. Os dois monitoram, competem e, às vezes, bloqueiam um ao outro. No parlamentarismo, por outro lado, a soberania é concentrada no legislativo, que simultaneamente engendra e supervisiona o executivo. O primeiro prospera na estabilidade proporcionada por um mandato fixo, um contrato de aluguel de poder com data de expiração; o segundo, na flexibilidade que permite que o leme político seja ajustado diante de tempestades ou falhas governamentais. Essa diferença contém uma chave: enquanto o parlamentarismo dilui o poder na dinâmica das maiorias, o presidencialismo o concentra na figura de um líder, com maior capacidade de impor sua marca pessoal e, se necessário, obstruir a vontade do parlamento.
Nesse mapa de equilíbrios e tensões, o veto surge como uma porta blindada que o Executivo pode fechar contra iniciativas legislativas. Herdeiro da intercessão romana, é um poder de dizer “não” que interrompe a vigência de uma lei já aprovada pelas câmaras. Pode ser absoluto, qualificado, suspensivo ou parcial, e sua força depende da facilidade — ou impossibilidade — com que o Parlamento consegue derrubá-lo. Nas mãos de um presidente, torna-se um instrumento estratégico: um freio institucional para conter excessos, ou uma arma política para impor uma queda de braço despótica com a maioria legislativa. Não se trata de um capricho local: o poder de veto dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU opera com a mesma lógica, paralisando a comunidade internacional mesmo diante de crimes em massa como o genocídio em Gaza, e revelando que, onde uma única voz pode calar a vontade coletiva, a democracia — seja nacional ou global — se reduz a uma peça teatral cujo espetáculo é cancelado antes do primeiro ato.
Na Argentina de Javier Milei, essa instituição parece feita sob medida: ela se encaixa como uma luva em um estilo de governo que beira o autoritarismo quase golpista, permitindo-lhe blindar sua vontade contra um Congresso que ele vê mais como um obstáculo do que como um contrapeso. Sua sobrevivência nas constituições modernas revela até que ponto, sob o verniz democrático, persiste um vestígio da autoridade unipessoal característica das monarquias. Esse vestígio, que em outras latitudes foi atenuado ou desaparecido, permanece aqui como um privilégio institucional que, em contextos de liderança forte, multiplica o risco de abusos violentos.
O laboratório argentino
O veto de Milei não é uma medida excepcional, mas sim a peça central de uma coreografia que combina negações rápidas e decretos de necessidade e urgência como ações reflexas. Seu governo transformou esse poder contra majoritário em uma dobradiça para fechar as portas abertas pelo Congresso e, imediatamente depois, substituir o conteúdo revogado por um texto próprio, livre de negociação e endosso legislativo.
O resultado é um sistema presidencial hipertrofiado, onde o legislativo é reduzido a um espelho distorcido: reflete uma imagem de deliberação, mas carece da capacidade de influenciar o curso real das políticas. Desde fevereiro de 2024, o padrão se repete com a monotonia de uma máquina bem lubrificada, respondendo mais a um projeto premeditado do que a circunstâncias isoladas.
O restabelecimento da mobilidade previdenciária foi revogado com veto total e substituído pelo Decreto de Necessidade e Urgência (DNU) 274/2024, que estabeleceu uma fórmula de reajuste inferior à inflação, condenando as aposentadorias a uma perda anual de 18%, com um corte original de 7,2%, que o parlamento agora tenta restabelecer e Milei tenta vetar. O mesmo bisturi presidencial caiu sobre a Lei do Aluguel, a Lei das Zonas Úmidas e a reativação dos subsídios à energia: vetos totais seguidos de decretos que desregulamentaram mercados, permitiram a exploração de zonas úmidas ou aplicaram aumentos tarifários de até 300%, beneficiando diretamente incorporadoras imobiliárias, empresas extrativas e empresas privadas de energia.
A “Lei Ônibus” sofreu um veto cirúrgico parcial — 32 artigos foram eliminados —, o que devolveu o controle das privatizações estratégicas ao Poder Executivo, posteriormente aceleradas pelo Decreto 298/2024, em um claro desvio da resistência parlamentar. A Emergência Alimentar, aprovada por unanimidade em janeiro de 2025, foi rejeitada e substituída pelo Decreto 12/2025, que transferiu a assistência para um sistema de “vouchers” administrado por ONGs simpatizantes, deixando sete em cada dez cozinhas comunitárias sem assistência efetiva e desmantelando de fato a política pública de contenção da fome.
As reformas trabalhista, energética e de promoção de pequenas e médias empresas e de energias renováveis seguiram o mesmo roteiro com seu martelo demolidor legislativo: veto, decreto substitutivo e um resultado final contrário ao espírito da lei original. Mesmo quando o Congresso chegou perto de alcançar a votação de dois terços — como nas leis de Medicamentos e Alimentos de Emergência — a diferença de um ou dois votos, impulsionada pela pressão sobre governadores e ausências calculadas, manteve os vetos intactos. A substituição por DNUs[1] não apenas preservou a vontade presidencial, mas também aprofundou suas características: liberalização total dos preços dos medicamentos, “falências expressas” para pequenas e médias empresas, desregulamentação ambiental e flexibilidade trabalhista.
Esse mecanismo, repetido com uma disciplina quase militar, transforma a presidência num laboratório de um tipo de governança sem freios, onde as leis são elaboradas e revogadas na mesma mesa, sem outras formalidades além da vontade pessoal do presidente.
O veto presidencial, mesmo envolto nas vestes solenes da Constituição, é um fóssil monárquico incrustado de ouro velho e poeira de séculos no coração de muitas repúblicas modernas. Sua genealogia remonta a uma época em que um único indivíduo podia anular, com um gesto, a vontade de todo um povo, sob a premissa de uma sabedoria superior que hoje nada mais é do que um privilégio institucionalizado.
Em teoria, justifica-se como contrapeso; na prática, concentra poder, amputa consensos e, como no caso argentino atual, desmantela direitos com a mesma frieza com que se assina um memorando. A presidência de Javier Milei elevou essa engenhoca antiquada a um método de governo: seus vetos não protegem a nação de explosões legislativas, mas bloqueiam sistematicamente leis destinadas a garantir direitos ou ampliar conquistas sociais – mobilidade para a aposentadoria, proteção ambiental, assistência alimentar, regulamentação de aluguéis – para substituí-las por decretos que consagram a desregulamentação, a austeridade e a privatização.
Cada veto não é apenas um ponto negativo: é a porta de entrada para uma transferência monumental de renda dos setores populares para grupos econômicos privilegiados, um dreno que transforma a assinatura presidencial em uma máquina de redistribuição ascendente.
Longe de ser uma exceção, essa prática faz parte de uma tradição que, na Argentina e em outros países da região, tem servido para blindar interesses corporativos, abortar políticas redistributivas e enfraquecer conquistas democráticas. Como já apontei em outras ocasiões, o veto é o “carrasco do voto” (5 de fevereiro de 2012), um verdadeiro coveiro da soberania: anula a deliberação parlamentar e suplanta a soberania popular com o capricho de um indivíduo investido de um poder que contradiz a própria essência da república.
Enquanto essa instituição sobreviver, as maiorias governarão apenas na aparência, e a democracia continuará a habitar um cenário vazio, meramente formal, onde o poder executivo desempenha o papel de monarca absoluto e o veto, mais do que um instrumento constitucional, uma ferramenta de dominação.
Nesse cenário, o veto deixa de ser apenas um vestígio histórico incrustado na arquitetura institucional: é a pedra angular de uma estratégia de poder que confunde autoridade com propriedade estatal. Milei o exerce como um direito feudal sobre o direito consuetudinário, demolindo acordos parlamentares e reescrevendo a agenda pública com um único decreto. Isso levanta uma questão não retórica, mas urgente: até que ponto uma república pode tolerar que a vontade de um prevaleça sistematicamente sobre a decisão de todos? A resposta, por mais dolorosa que seja, determinará não apenas o futuro desta administração.
O poder como submissão
A república, em termos clássicos, não é um altar vazio, mas uma coreografia de limites: a lei como bússola e o controle recíproco como partitura. Nesse contexto, Max Weber é menos um adepto da vontade imediata do que um realista do conflito. Em sociedades heterogêneas, ele sugere, a democracia direta se atola na complexidade e abre caminho para dispositivos opressivos; basta que uma única pessoa exerça o poder de veto para distorcer o resultado coletivo e distorcê-lo “opressivamente”. O aviso soa seco, quase burocrático, mas é cirurgicamente sóbrio: um dedo levantado basta para escurecer a sala e deixar todos gritando nas sombras. Nessa tensão, Weber reserva para a representação uma tarefa moral e técnica: processar a dissidência sem absolutizá-la, para impedir que uma mão solitária congele o movimento de todas as outras.
Daí sua insistência no compromisso como músculo vivo da política representativa: negociar sem abdicar, ceder sem capitular, modular sem renunciar. Não há mandato imperativo em Weber, nem liturgias de obediência automática; há uma autorregulação laboriosa, a “ética da responsabilidade” traduzida em procedimento, onde a lei nasce do atrito e não do relâmpago. O fundamento republicano, portanto, repousa não na pureza de uma vontade indivisa, mas na disciplina das costuras que preservam o pluralismo do rompimento. Nesse contexto, o veto deixa de ser uma garantia neutra e se torna uma anomalia: uma mola pessoal que desarma a engenharia do compromisso.
Rousseau, por sua vez, leva a soberania ao extremo: ela não é representada, é exercida sem mediação; os deputados não são senhores, são meros agentes. A lei é válida se provém do povo reunido, e o governo por maioria compromete o todo. Essa arquitetura — sublime e severa — olha com desconfiança qualquer prerrogativa que permita a uma única pessoa interromper o veredito comum: como poderia caber ali um veto que não emana da vontade geral, mas a anula? Se a república, em Rousseau, é o cidadão em ação, o veto é a sombra que se projeta quando o corpo se dispersa e a mão alheia apaga a luz.
Na visão de Marx, a Comuna de Paris funciona como um laboratório contracorrente: responsabilidade e revogabilidade dos mandatos dos eleitores, sufrágio universal, concentração simultânea das funções legislativa e executiva e uma subjetividade política forjada na ação. Em vez de vetar, a Comuna preenche a lacuna entre a tomada de decisão e a execução: os cidadãos não se observam de um camarote; eles sobem ao palco. Nesse experimento, o veto é um corpo estranho: não corrige, intervém; não institui, desfaz. A epopeia comunarda, com sua economia de mediação, recoloca a questão da substância da soberania: quem detém quem quando a multidão decide?
Com esses três traços, o mapa se torna um pouco mais claro: Weber e sua prudência representativa alertam contra a tirania de um só (o veto como um laço); Rousseau brande a espada da vontade geral contra qualquer usurpação da decisão comum; a Comuna marxista testa uma política sem atalhos, onde o povo não delega o pulso de sua lei. Se lembrarmos que o veto descende da antiga intercessio romana — aquele “eu proíbo” que bloqueia a mudança, mas não a cria — fica claro por que, lido nos clássicos, ele parece um fóssil que preserva muito bem as características de sua linhagem: prerrogativa concentrada, uma pátina de legalidade, eficácia em deter em vez de estabelecer.
Lido à luz de Weber, Rousseau e Marx, o veto revela seu anacronismo com uma clareza quase desconfortável. Não se trata de um ponto de equilíbrio entre poderes, mas de um gesto que concentra em uma única mão a capacidade de conter o fluxo da soberania popular. A prudência weberiana permite a contenção quando mediada por concessões, mas o veto presidencial contemporâneo atua sem esse contrapeso; Rousseau o condenaria por se estabelecer como uma vontade particular contra a vontade geral; e a Comuna marxista o descartaria como vestígio de uma arquitetura que depende mais de guardiões do que de cidadãos.
Essa continuidade entre a crítica clássica e a experiência argentina recente não é uma mera analogia acadêmica: é a confirmação de que a história institucional preserva fósseis perigosamente intactos. Na anatomia do veto, reconhecem-se os velhos ossos da autoridade pessoal, a mesma autoridade que, nas mãos de Milei, é usada não para salvaguardar o equilíbrio republicano, mas para desmantelar direitos, deter redistribuições e reorientar a política para um projeto em que as maiorias contam menos do que a assinatura presidencial. E, como alertaram os clássicos, onde se pode apagar o que o todo escreveu, a república se torna teatro e poder, um monólogo.
Como alertaram Weber, Rousseau e Marx, qualquer instituição que permita a um indivíduo anular a decisão da maioria carrega consigo as sementes da opressão. Em nossa história recente, essa semente não apenas floresceu nas práticas institucionais, mas também espalhou suas raízes pela linguagem e pela cultura política. O veto como “carrasco do voto” encontra seu reflexo na palavra como carrasco da dignidade: ambas são formas de negar o outro como sujeito político.
O autoritarismo de Milei não se limita ao âmbito institucional ou ao golpe seco do veto; projeta-se, com igual intensidade, na gramática de seu discurso público. Ali, a violência deixa de ser um efeito colateral e se torna um código político. Suas metáforas sexuais não buscam humor ou sagacidade, mas sim estabelecer a imagem da submissão como paradigma de vitória: o adversário não é persuadido, mas sim “possuído”, “penetrado” ou “tomado” num sentido que anula sua vontade e nega toda reciprocidade. Não há prazer compartilhado em suas metáforas eróticas, apenas a reafirmação unilateral do poder; não há música de sedução, apenas o tilintar de correntes; não há eros, há dominação tanática. Essa retórica é consistente com uma visão hierárquica da sociedade, onde a política é concebida como a arte da subjugação e a vitória como a redução do outro a um objeto.
O caso Moche exemplifica esse padrão. Uma criança com autismo e sua família foram alvo de ridículo e desprezo em sua conta oficial no X. Quando confrontado com a denúncia, Milei não recuou: alegou que suas contas nas redes sociais não o representam como presidente e que chamar um menor com deficiência de “kukas” não é uma agressão[2]. Uma defesa digna de um manual de autoajuda para valentões em apuros. A resposta judicial revelou o mesmo roteiro do Congresso: negar a legitimidade dos outros, repudiar as próprias ações e, em última análise, normalizar a humilhação e os xingamentos como ferramentas de confronto. O eco social dessa atitude não se limita à situação atual: estabelece a ideia de que certos corpos e certas vozes — por mais frágeis que sejam — podem ser descartados sem consequências.
Na visão de Milei, veto e insulto se retroalimentam. Da cadeira presidencial, o veto corta o fio da decisão coletiva e o substitui pela vontade única do líder; do púlpito digital, o insulto degrada o adversário até que ele se torne uma caricatura ou uma zombaria. Ambos os gestos operam com a mesma lógica: suprimir a agência dos outros, seja pela letra de um decreto ou pela ponta de uma palavra. E em ambos os casos, o propósito é idêntico: construir uma ordem na qual o único desejo que conta é o de poder, enquanto o outro — seja ele legislador, cidadão, jornalista ou criança — é reduzido ao papel de receptor passivo de uma imposição que não admite resposta.
Assim, autoritarismo institucional e violência simbólica não são capítulos separados, mas partes de uma mesma obra. A república, já enfraquecida por um Executivo que legisla por veto, também se acostuma a falar a linguagem da humilhação. E quando a maioria aceita que a agressão sexualizada e o desrespeito à deficiência são “modos de fazer política”, a deterioração não é apenas legal ou institucional: é cultural. A resposta, por mais dolorosa que seja, é entender que o que está em jogo não é apenas quem está no comando, mas qual linguagem e noção de humanidade prevalecem no espaço público. Se aceitarmos que a política é sobre vetar e humilhar, a ágora em breve será uma sala fechada na qual um único microfone estará aberto ao monólogo oficial desumanizador.
*Emilio Cafassi é professor sênior de sociologia na Universidade de Buenos Aires.
Tradução: Artur Scavone.
Notas
[1] DNU se refere a “Decreto de Necesidad y Urgencia”, uma ferramenta legal usada pelo Poder Executivo na Argentina para legislar de forma imediata, sem passar previamente pelo Congresso. Os DNUs são previstos na Constituição da Argentina e podem ser utilizados em situações excepcionais, quando há urgência e o Congresso não pode tratar o tema com rapidez.
[2] Em junho de 2025 o presidente Milei compartilhou nas redes sociais um post que mencionava Ian Moche, um menino de 12 anos com autismo e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. O post incluía fotos de Ian com figuras políticas do kirchnerismo (como Cristina Kirchner e Sergio Massa) e o texto insinuava que ele estava sendo usado politicamente. Ao retuitar, Milei escreveu: “Pautino sempre do lado do mal. (…) Sempre do lado dos kukas… não falha…”. “Kuka” é um termo pejorativo usado por opositores do kirchnerismo para se referir aos seus apoiadores. Ao usar esse termo em referência ao menino, mesmo que indiretamente, Milei foi acusado de associar uma criança com deficiência a um grupo político de forma depreciativa. A família de Ian Moche entrou com uma ação judicial contra Milei, alegando incitação ao ódio e violação dos direitos da criança e da pessoa com deficiência. Milei se recusou a apagar o post, alegando que se tratava de uma manifestação protegida pela liberdade de expressão e que sua conta era pessoal, não institucional. (N.T. CoPilot).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA