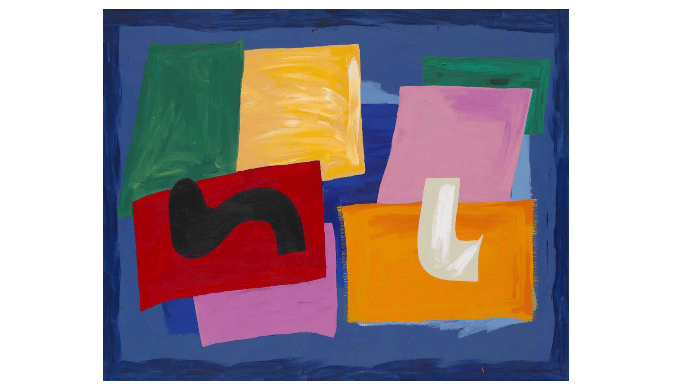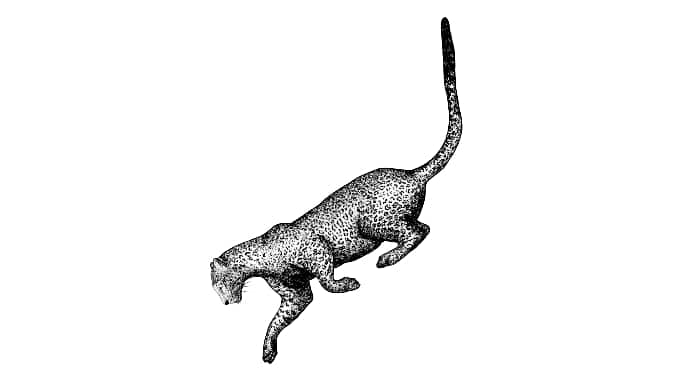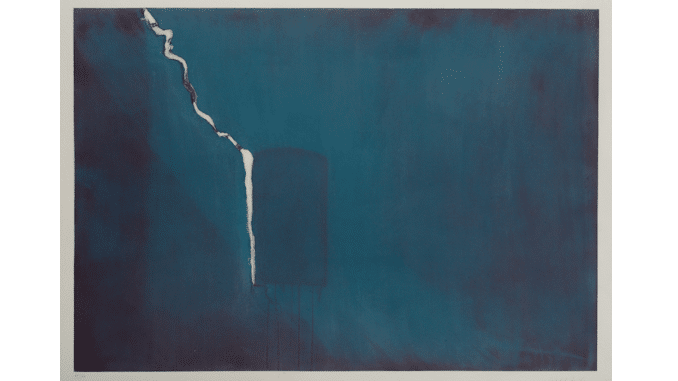Por ADALMIR LEONÍDIO, ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA JR. & EVERALDO DE OLIVEIRA ANDRADE*
Apresentação dos organizadores ao livro recém-lançado
Durante mais de três séculos o Brasil foi uma colônia de Portugal, perfeitamente integrada aos interesses do capitalismo mundial em formação. Então a dependência é um fato inequívoco de nossa história. Em 1822 o país tornou-se formalmente “independente”, mas continuou de fato dependente, graças à permanência das estruturas coloniais, basicamente a economia agroexportadora e escravista. Mas a dependência, apesar de ser um fato, não estava nos sentimentos e na visão das pessoas daquela época. Antes o contrário, a “independência” era um sentimento poderoso e generalizado, ainda que aparecesse em formas diferentes nos corações e mentes daqueles homens.
Trata-se de assunto já fartamente estudado. Mas para termos uma ideia do problema, basta ver aquilo que Emília Viotti da Costa chamou de “bases sociais da revolução”[i] da independência. Pois esta agrupou pessoas de origens sociais muito distintas, com aspirações igualmente distintas: por um lado, a elite agrária, a grande vitoriosa, afinal, queria apenas maior liberdade de comércio, mas sem abrir mão da escravidão e da agro exportação; por outro, negros e mestiços sonhavam com uma sociedade mais igualitária e justa, sem os privilégios que estruturavam as relações sociais.
Além disso, os diferentes grupos sociais – senhores, escravos e homens pobres e livres –, bem como as diferentes regiões que formavam o país, estavam longe de compor uma nação ou um sentimento nacional que pudesse dar sentido à independência. Havia tantas divisões sociais e regionais, tanta desigualdade, que era impossível imaginar qualquer unidade nacional. Por isso mesmo é que várias regiões continuaram a lutar por uma independência à parte até praticamente o fim do período regencial. Afinal, este fora o caminho seguido pelas ex-colônias espanholas.
Cem anos depois, em 1922, o Brasil transformou-se em muitos aspectos. Aboliu a escravidão, proclamou a república, engrossou sua população urbana, interligou algumas de suas maiores cidades, mormente as portuárias, com o interior do país, fez aumentar o trabalho mercantil e fabril e até, nestas cidades, criou um verniz de civilização moderna, com quase tudo que as europeias tinham: teatros, cafés, bancos, faculdades, etc.
Mas não mudou no essencial. A base da economia nacional ainda continuava a ser, com o café, ainda que agora dividindo certo espaço com a indústria, agrária, exportadora e baseada em formas de extrema exploração do trabalho. De modo que as desigualdades sociais, os baixos salários, a pobreza, a fome e a precariedade de vida ainda continuavam a ser marcas de distinção da massa nacional. E se agora tínhamos algo que se podia chamar de classe média, parte dela ainda gravitava em torno destas elites rurais do país, transformando sua marca principal, a independência, a autonomia, em pouco mais que uma ficção.
Apesar disso, muitos intelectuais já começavam, por esta época, a sentir a dependência, ainda que vagamente. Manoel Bomfim foi um destes que, por época ainda das comemorações do centenário de nosso descobrimento, levantou sua voz contra os estereótipos desta dependência: “Quando os publicistas europeus nos consideram como países atrasados, têm certa razão; mas não é tal juízo que nos deve doer, e sim a interpretação que dão a este atraso, e principalmente as conclusões que daí tiram, e com que nos ferem”.[ii]
Nos anos 1920, este sentimento avivou-se. Se por um lado tivemos a Semana de Arte Moderna, que buscava “modernizar” o Brasil, a despeito da barbárie que assolava o campo e a cidade, tivemos o movimento regionalista, que ia no sentido contrário, buscando enfatizar o “nacional”, em contraposição a tudo que parecia estrangeiro, nesta operação impossível, como nos lembrou Roberto Schwarz.[iii] No meio disso, muita gente ainda comemorou a independência em 1922.
Alguns anos depois aquele vago sentimento da dependência começou a ganhar contornos mais nítidos e a transformar-se em uma consciência da dependência, e isto se deve inequivocamente à introdução do marxismo no Brasil, que apesar de ter começado antes de 1922, teve na fundação do Partido Comunista Brasileiro um marco decisivo. Falava-se então abertamente na “dependência” e no imperialismo das nações mais avançadas. São autores como Octávio Brandão, Luiz Carlos Prestes, Mário Pedrosa, Astrojildo Pereira, Caio Prado Jr., entre outros.
Até que por fim esta dependência passou de um fato, de um sentimento e de uma consciência crítica para uma teoria. Ela partiu de uma crítica da então bem aceita, entre muitos intelectuais latino-americanos, sobretudo economistas, “teoria do desenvolvimento” de Rostow, segundo a qual o subdesenvolvimento era uma etapa rumo ao desenvolvimento, bastando para isso remover os obstáculos que se apresentavam em seu caminho. Mas apesar destes esforços de “modernização” e das injeções de capital estrangeiro, o fato é que estes países não decolavam e continuavam como antes a patinar no atraso.
Os teóricos da dependência buscaram então compreender as limitações do desenvolvimento em um mercado mundial dominado por enormes grupos econômicos e “poderosas forças imperialistas”. Partem das críticas de Caio Prado Junior ao conceito de feudalismo latino-americano até chegarem ao debate sobre a expansão das empresas multinacionais para o setor industrial. São autores como Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Theotonio dos Santos, entre outros.
Mas em nome de uma “teoria da subjetividade no subdesenvolvimento” partiu-se também para a crítica da teoria da dependência. E a consciência, de certa forma, regrediu, em nome de mais uma moda europeia. E o curioso é que esta moda vinha em nome da luta contra a colonização dos subdesenvolvidos.
Duzentos anos depois, como estamos? Parece que a despeito do fato, o sentimento, a consciência e a teoria, apesar de permanecerem todos, agora juntos e misturados, não foram capazes de se generalizarem. Entre alguns intelectuais eles até regrediram para uma forma de teoria pós-moderna que pretende, à moda hegeliana, superar o fato pelas ideias. Ficou na moda no Brasil falar em “decolonialidade”. No seio do povo, da grande massa, ainda permanece um misto de orgulho nacional ferido com o sentimento do atraso, que ninguém a esta altura é capaz de ignorar. E isto tem sido intensamente explorado por uma direita reacionária, que vem como uma espécie de salvadora da pátria, mas que está de fato afundando o país ainda mais na dependência e no atraso.
***
Este livro foi escrito por autores muito diferentes em suas formações e trajetórias acadêmicas, mas imbuídos de um mesmo propósito: falar do fato da dependência num momento em que se deve comemorar a independência. Por isso, ele pretende ser, simultaneamente, as três coisas anteriormente mencionadas, isto é, a expressão de um sentimento, de uma consciência crítica, mas também de uma certa “teoria da dependência”. Pois que apesar da moda pós-moderna, e a despeito dela, a dependência ainda continua, nos fatos, a marcar nossa nação.
Está composto por nove capítulos que tratam a questão do atraso e da dependência a partir de diferentes perspectivas analíticas. Começa com o problema da crítica e da teoria da dependência. Adalmir Leonidio analisa, então, a contribuição de Caio Prado Junior, um dos mais originais pensadores marxistas brasileiros, destacando sua atualidade, mas também suas limitações para pensar os problemas sociais do Brasil contemporâneo, que têm origem em sua formação histórica, sempre articulada ao capitalismo mundial e sua dinâmica.
Passando da historiografia à história, Marcos Cordeiro Pires busca refletir sobre a construção histórica da dependência no Brasil e a breve e frustrada tentativa de superá-la, entre 1930 e 1964, durante o processo de industrialização retardatária conhecido como “substituição de importações”. Tal modelo foi resultado de um contexto bem particular, caracterizado pelas guerras mundiais intercaladas pela depressão econômica, que se sucederam de 1914 até 1945, que criou condições adequadas para o modelo de industrialização por via da substituição de importações. Este modelo logrou êxito em implantar um diversificado parque industrial, mas, não conseguiu criar bases para um desenvolvimento autossustentado.
Nesse período, a ação estatal contou com um certo grau de autonomia que contribuiu para a acumulação nacional de capitais, para a ampliação do mercado consumidor e para o aumento da complexidade social, como a criação de uma nova burguesia industrial, de uma nova classe média e de um numeroso operariado urbano. No entanto, esses novos setores sociais, que seriam as bases da industrialização substitutiva, não conseguiram estruturar uma hegemonia social duradoura, pois o ingresso de empresas multinacionais, ao longo dos anos 1950, minou as bases de sustentação do modelo quando estas se associaram a grupos privados locais e a setores da burocracia estatal. O Estado, que até então priorizava empresas de capital nacional, passou a ser uma das engrenagens do projeto internacionalizante, o chamado modelo associado e dependente.
Na sequência, Everaldo de Oliveira Andrade reflete sobre o papel das Universidades públicas na construção de uma nação soberana. Segundo o autor, passados dois séculos do distante setembro de 1822, um salto econômico e civilizatório necessário para emancipar de fato a nação brasileira destaca a exigência e a necessidade de se pensar uma verdadeira refundação e reproclamação do Brasil independente, soberano, popular, democrático e socialista. Isso envolve pelo menos dois movimentos combinados: de ordem política e democrática (uma verdadeira assembleia constituinte, instrumentos de democracia de massas e direta, auto-organização e conselhos populares com o povo trabalhador deliberando) e de ordem econômica, científica e organizativa (intensificação da cibernética, da planificação econômica e ruptura com o mercado como parâmetro central de organização).
Esses dois movimentos além de combinados no tempo, deveriam se articular nos espaços regional, nacional e mundial necessariamente, sob o risco do estancamento autárquico e mesmo tecnológico do desenvolvimento da nação brasileira, retomando em novos patamares a elaboração teórica e as condições institucionais para a planificação econômica socialista como alternativa estratégica à economia de mercado e seus falsos consensos. Por isso, um primeiro aspecto a ser debatido neste texto se relaciona a um balanço das trajetórias, debates e projetos econômicos desenvolvimentistas e mais recentes que vêm marcando um suposto discurso e agenda progressista. Um segundo aspecto a ser considerado é o salto e a ruptura emancipatória do país desde o marco referencial do papel das ciências no Brasil, que envolve a soberania tecnológica e cultural para o qual o lugar das universidades e centros de pesquisas é estratégico.
Antônio Almeida, também tratando da universidade brasileira, mostra que uma crise de dependência se soma às crises de hegemonia, legitimidade e institucional, apontadas por Boaventura de Sousa Santos. A dependência é múltipla, tendo como elementos importantes as políticas educacionais, científicas e tecnológicas, além das dotações orçamentárias estatais no caso das universidades públicas. A principal manifestação da dependência ocorre em relação às políticas imperiais para a ciência e a tecnologia. Por ser dependente, a universidade tornou-se também neoliberal e vinculada às empresas privadas. Uma autonomia real da universidade permitiria a ela ser um pilar na emancipação do povo brasileiro.
Sandra Nunes, por sua vez, pensa o universo artístico como construtor de um pensamento crítico e propiciador de um olhar renovado sobre a realidade brasileira. Esse capítulo, ainda que pareça se desviar dos outros presentes nesse livro, surge como uma espécie de manifesto em um momento político em que a censura às obras de arte tem se feito presente. 2022, então, configura-se como um ano importante para se enfatizar a necessidade de manutenção do território artístico como espaço de liberdade, pois morte da liberdade reflete um pensamento dependente.
Em um registro similar, Luiz Carlos Chechia aborda a relação entre política e cultura na formação histórica do Brasil e seus desdobramentos contemporâneos. Para isso, tece reflexões a partir do conceito de “comunidades imaginadas”, formulada por Benedict Anderson. Visa-se, assim, compreender permanências e continuidades na mentalidade popular que contribuem para a manutenção da condição colonial em que vivemos e quais os caminhos possíveis para sua superação.
Saindo do universo historiográfico e cultural e passando às questões políticas e institucionais, André Augusto Salvador Bezerra nos mostra um Judiciário dependente de interesses internacionais, mas também as possibilidades de sua autonomia. Produto de mobilização popular, a Constituição de 1988 entrou em vigor com a promessa de construção democrática de uma sociedade livre, baseada em projeto de desenvolvimento nacional independente. A vigência do documento constitucional contrastou com uma sociedade desigual que, violada em seus direitos, encontrou no Judiciário uma possibilidade de concretizar as promessas normativas vigentes.
Descobriu-se, porém, um Poder de Estado não adaptado ao sistema democrático, fomentando o debate acerca da necessidade de reformá-lo. O artigo pretende examinar a forma pela qual o sistema econômico dominante capturou a pauta em torno da adaptação do Judiciário à democracia para, por intermédio da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, promover reformas que o adaptassem ao chamado Consenso de Washington. Examina também a possibilidade de se superar essa captura por uma continuidade do processo reformador que foque a adoção de governanças judiciais dialógicas com a sociedade, conforme parâmetros do conjunto de práticas e ideias conhecido como Justiça Aberta. O texto baseia-se na concepção teórica centro-periferia que enxerga o Brasil como país periférico e desprovido de um projeto de desenvolvimento autônomo, situação que permite compreender as reformas levadas a efeito no sistema judicial, subordinadas aos padrões neoliberais impostos pelas grandes potências ocidentais a partir do final do século XX.
Márcio Bustamante analisa, por sua vez, no oitavo capítulo, as novas formas de resistência e luta contra os formatos inovadores de subordinação do trabalho, que passam a reivindicar espaços de autonomia e procurar conter os mecanismos de dominação. Episódio interessante desse fenômeno, no Brasil, foi a articulação de uma frente ampla composta por vários, e novos, setores das esquerdas visando o bloqueio da criação da chamada ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Dentre esses setores, destacaram-se os movimentos autonomistas, cujos valores, métodos de organização, repertórios de protesto e propostas diferenciavam-se bastante das esquerdas tradicionais. O objetivo desse capítulo é tratar dessa corrente, suas peculiaridades e projeções, bem como em que medida ela respondia às reconfigurações do capitalismo de fins do século XX.
Fechando o livro, Ciro Bezerra, busca pensar o conceito de geografia da dependência social, por meio de estudo bibliográfico, utilizando o método da leitura imanente, próprio para este tipo de estudo, desde Marx, passando por autores como José Chasin, Mário Duayer e Sérgio Lessa. Busca mostrar também como esta geografia se fez acontecimento, em diferentes realidades geo-histórias, desde o século XVI. Seu recorte é a escala geográfica dos “espaços vivos”, da sociologia em escala pessoal. Mas, independentemente dos atributos geográficos ou sociológicos, trata-se dos lugares onde as pessoas existem concretamente, e estabelecem vínculos diretos e relações sociais concretas, e onde se constrói a dependência, mas também as possibilidades de autolibertação.
Em suma, de um modo ou de outro, os autores deste livro concordam que a dependência do Brasil em relação às potências estrangeiras é exagerada, que nossa real independência ainda não foi conquistada. Concordam que essa dependência é uma causa maior para muitos sofrimentos desnecessários que afligem o povo brasileiro. Reconhecem que o trabalho emancipador é exigente, reque- rendo robustez teórica, fino conhecimento do passado, capacidade organizativa, imaginação política e tecnológica, criação histórica.
Ele passa também pela construção de uma sociedade para o brasileiro comum, mais igual e justa. Muito já foi feito, muito mais precisa ser realizado. Temos ao nosso lado a profunda aspiração por liberdade que caracteriza os seres humanos e sabemos que o processo civilizatório condena as opressões e os impérios.
*Adalmir Leonídio é professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ-USP.
*Antonio Ribeiro de Almeida Jr. é professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ-USP.
*Everaldo de Oliveira Andrade é professor do Departamento de História da FFLCH-USP. Autor, entre outros livros, de Bolívia: democracia e revolução. A Comuna de La Paz de 1971 (Alameda).
Referência
Adalmir Leonídio, Antonio Ribeiro de Almeida Jr. & Everaldo de Oliveira Andrade (orgs.). Brasil 200 anos de (in)dependência. São Paulo, Hucitec, 2022.
Notas
[i] Da monarquia à república. São Paulo: Brasiliense, 1995.
[ii] BOMFIM, Manoel. A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks, 1993, p. 43-49.
[iii] “Nacional por subtração”, in: SCHWARZ, Roberto. Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como