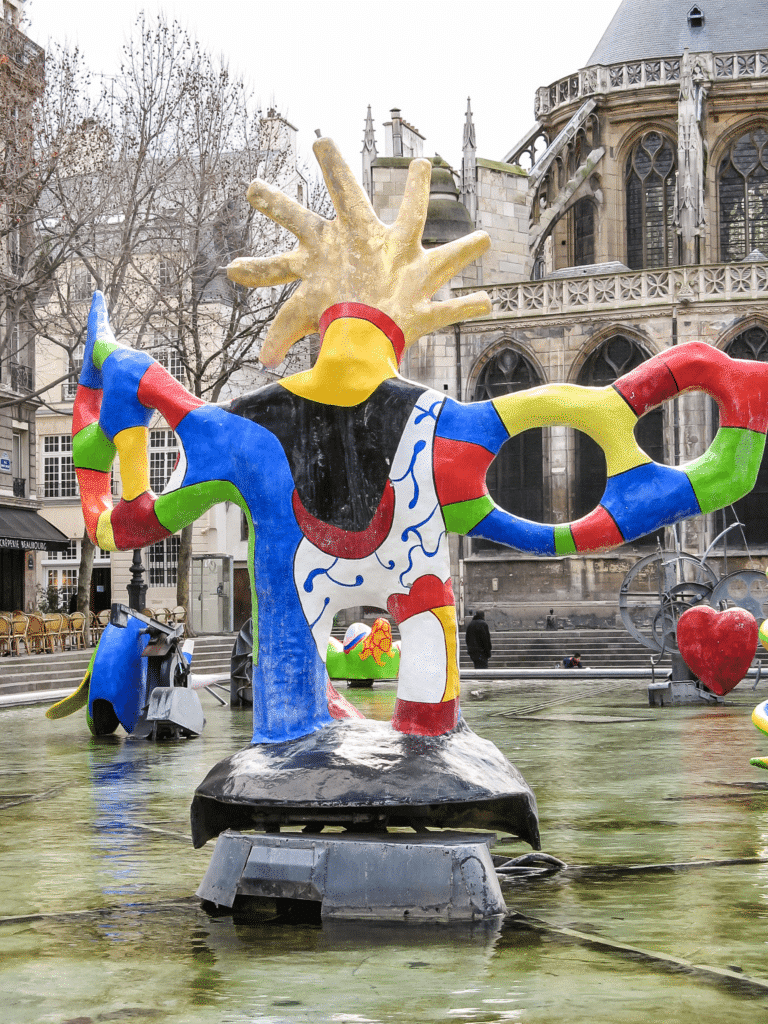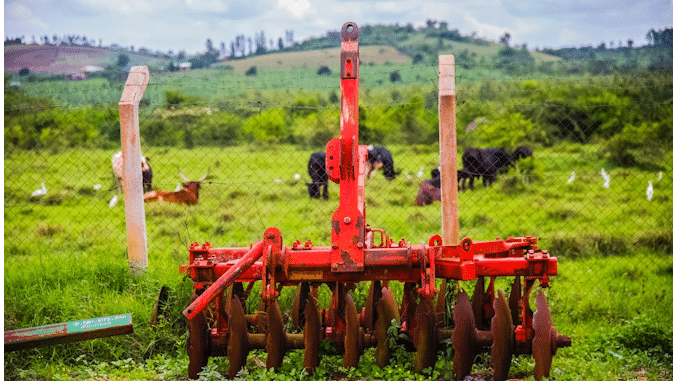Por HELENA TABATCHNIK*
Periferia e classe média brasileiras não sabem quem são os ricos porque eles são invisíveis. Nossa concentração de renda é tanta que eles não estão mais entre nós
O lugar do outro
Já escutei de amigos negros, nestas redes e nas ruas, que os brancos nunca vão entender como é… Também já vi algumas mulheres feministas dizendo coisas semelhantes sobre os homens. Entendo que cada grupo social específico não esteja obviamente imerso na experiência do outro. Sobre a sua capacidade de “entender”, discordo.
O entendimento é um processo racional, assim como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se fosse necessário viver algo para compreendê-lo, seria o fim do diálogo entre os grupos e, ao fim e ao cabo, entre cada mônada que somos. Afinal, nenhum de nós viveu a experiência de nenhum outro humano sobre a face da terra.
Penso em muitos exemplos de como é possível compreender a experiência do outro. Vou começar pelo meu suposto lugar de fala, apesar de não acreditar que lugar de fala corresponda imediatamente a lugar de Verdade.
Eu não vivi Auschwitz. Não passei pelo trauma irreversível de um campo de concentração. Isso não significa que não possa entender racionalmente o que aconteceu, nem que eu não possa me comover com a violência contra tudo que é do humano que foi aquele genocídio. Entender o nazismo me foi possível por uma ação racional necessária exatamente a quem não viveu. E me fez sentir empatia não só pelas vítimas desse extermínio específico, mas por todas as pessoas perseguidas, espoliadas, exploradas, torturadas ou desumanizadas de qualquer forma. Sei que não é sempre assim, mas comigo foi.
Agora imagine se houvesse o pensamento de que quem não esteve em Auschwitz nunca vai entender, ou que os não judeus nunca vão entender… O que seria de toda produção literária e cinematográfica sobre o assunto? Um enorme silêncio? Me parece autoevidente que tal produção esteja direcionada justamente a quem não viveu o holocausto, judeu ou não.
Também é bastante óbvio que não tenho a experiência de sair às ruas diariamente correndo o risco de ser exterminada pela polícia apenas por estar viva. Mas o medo eu conheço — e como! Em segundo lugar porque nasci no auge da ditadura militar e minha mãe gelava segurando forte minha mão cada vez que passava uma viatura da PM. Até hoje eu gelo.
E em primeiro lugar porque tenho medo de ser sequestrada, estuprada e morta por esses agentes do estado de exceção. Quem já foi assediada por PMs fardados certamente lembra bem do pavor que sentiu. Então olha, eu conheço a história vexaminosa do país em que vivo, entendo o que significa a permanência de uma polícia militarizada, conheço o medo inclusive dela e sei o que é se sentir vulnerável e ameaçada apenas por estar na rua. Como eu poderia não compreender a situação de um jovem negro nesta terra?
Igualmente, se eu resolvesse acreditar que os homens nunca vão entender o que significa ser medida dos pés à cabeça, avaliada, assediada (o que na prática significa os homens de um modo geral nos lembrando a todo instante que não deveríamos estar ali, que nosso corpo é objeto público e que eles podem fazer conosco o que bem entenderem) e muitas vezes estuprada no espaço público? Isso também não acontece dentro de casa, onde deveríamos supostamente estar seguras? Eles seguramente não vivem isso, mas podem, por exemplo, aprender com o que escutam, podem entender o que é ser objetificado a partir de sua própria objetificacão no mundo do trabalho alienado. Já pensou que lindo?
Acreditar piamente que é preciso viver para entender seria o fim do diálogo, da democracia e da arte. Por que eu narraria minhas próprias experiências se o outro não as viveu? E também não estaria autorizada a narrar a experiência do outro, agora transformado em um radicalmente Outro.
Quem não gosta de diálogo, democracia e arte são as pessoas que estão nos matando.
Nós precisamos de aliados.
Os ricos invisíveis
“A pior coisa que eu criei foi este estigma, que eu nem sei se eu criei, mas sou responsável, que até o RAP carrega certo estigma, acho que foi a pior coisa que eu criei. Ter uma certa ignorância e uma cegueira também, eu não tolero algumas coisas. Eu sou da outra geração, então quando a gente criou o símbolo do Racionais, no fim dos anos 80, era um outro mundo. A dívida externa não tinha sido paga. Não tinha eleito o Lula ainda, não tinha Metrô no Capão, um monte de coisa não tinha acontecido, não tinha eleito um presidente negro nos EUA, o Barack Obama. O Brasil não tinha uma presidente mulher, não tinha nem asfalto na nossa quebrada. Quando criamos o Racionais, era um outro mundo, então não tem como você esticar o chiclete 25 anos falando das mesmas coisas como se elas não tivessem mudado. Seria mentira, ia tá maquiando uma realidade, que a nova geração está aí para mostrar. (…) Então, de 88 pra cá são 24 anos, o mundo mudou muito, a música tem que acompanhar a mente do jovem, tem que ir até a massa, até a mente da massa.” (Mano Brown)
O Brasil é um país onde a classe média odeia os pobres e se identifica, por meio de um pensamento mágico qualquer, com os ricos. Esse fenômeno tem raízes históricas e sociais, a começar pelo nosso passado escravista – nosso primeiro genocídio nunca elaborado – que não vou desenvolver.
Acontece que a periferia também costuma odiar a classe média. Seria esse o “estigma” de que fala Mano Brown? E por que isso acontece com duas classes exploradas, cujo inimigo, os ricos, é um inimigo comum?
A primeira resposta é mais imediata. Faz todo sentido odiar uma classe que a odeia. Seria uma cólera reativa, plenamente justificável.
Outra coisa é que, aos olhos de quem não tem nada, o mínimo (uma casa própria de dois quartos, um carro usado e, talvez, um plano de saúde) realmente parece muito. Da classe média de profissionais liberais que chegam a ganhar mais de 40 salários mínimos então, nem se fala. Mas aquela gente branca e barulhenta que ainda tem (ou tinha) direito a um “fim de semana no parque”, e que o Eu lírico observa com justificável ressentimento, é classe média.
A verdade é que periferia e classe média brasileira não sabemos quem são os ricos porque eles são invisíveis. Nossa concentração de renda é tanta que eles não estão mais entre nós.
E digo mais, eu também não tinha ideia, até ter a oportunidade de trabalhar na escola do homem mais rico do Brasil. Um banqueiro, evidentemente. Uma escola de elite, ortodoxa, que ele construiu para a sua própria neta e que uma das filhas administrava. Era uma escola da qual ninguém sequer sabia da existência, escondida em lugar nenhum, invisível no meio de um centro empresarial. Não havia nenhuma placa.
Todos os dias eu, professora de adolescentes, já conhecida de todos, mostrava meu crachá e passava por dez seguranças (não é hipérbole) supertreinados, equipados e vestidos de preto. Depois de algum tempo desse ritual desagradável e já conhecendo as dez (não é hipérbole) faces sisudas, comecei a chamá-los de MIB [Men in black(Homens de preto), filme de 1997]. Oi, MIB, bom dia MIB, até amanhã, MIB. Eles não riam, não era permitido. Mais tarde eu saberia por vias tortas que alguns deles lembravam com carinho de mim. A menina que comia goiabada com gorgonzola. Aprendi no filme Estômago.
O ambiente era terrivelmente antisséptico. As crianças chegavam e iam embora em carros blindados. Havia um heliporto, um lindo teatro superprivado construído com dinheiro público, grama impecavelmente aparada, um enorme restaurante que garantia todos os dias que comerdes (não resisti) seguindo à risca uma dieta detestável.
Aquelas crianças acreditavam que valor é preço. Conheciam única e exclusivamente a escola, o clube e o shopping do bairro onde moravam. Foram alfabetizadas em inglês e não achavam necessário dominar a língua materna porque não se sentiam brasileiros e detestavam o Brasil, apesar de ser a nossa miséria que lhes proporcionava tanta riqueza.
A viagem de formatura do nono ano era para Nova York, onde eles andariam de metrô pela primeira vez. Vi, com esses olhos que a terra há de comer, o diretor da área de inglês orientando os alunos a levar somente uma mala, para poderem voltar com mais duas de compras. Além da grande aventura de andar de metrô, não tenho certeza de que fizeram alguma coisa em noviorque além de compras.
Verdade que não eram bem brasileiros mesmo, viviam e vivem aqui sem nunca conhecer o país que extorquem e desprezam. Essa elite, vi com esses olhos que a terra há de comer, não tem mesmo nenhum compromisso com o país. Não é seguro (de alguma forma eles pressentem o dano que causam e se blindam), nem bom para fazer compras.
Sem me alongar mais, a moral da história é que precisamos urgentemente localizar os ricos. Aqueles que nos mantêm na pobreza. Aqueles que, neste momento, mantêm um genocida nazista no poder porque suas políticas ultraneoliberais lhes interessam. Aqueles que não se importam que morramos à míngua porque, escutei com estes ouvidos que a terra há de comer, os pobres têm culpa de ser pobres. Eles são nosso grande inimigo comum.
*Helena Tabatchnik é escritora, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, autora de Tudo que eu pensei mas não falei na noite passada (Hedra), lançado sob pseudônimo (Anna P.).
Publicado originalmente no Facebook da autora [https://www.facebook.com/Helena-Tabatchnik-113428627162058/]