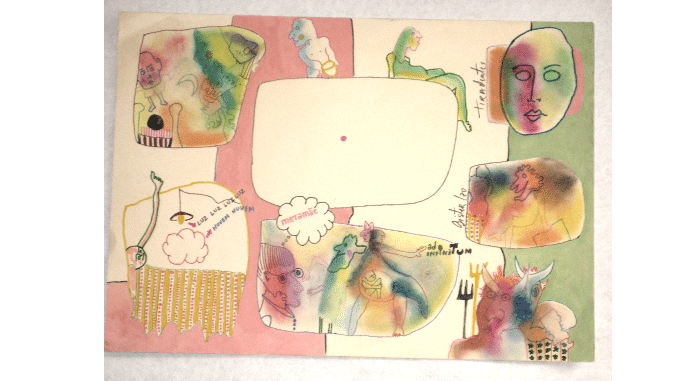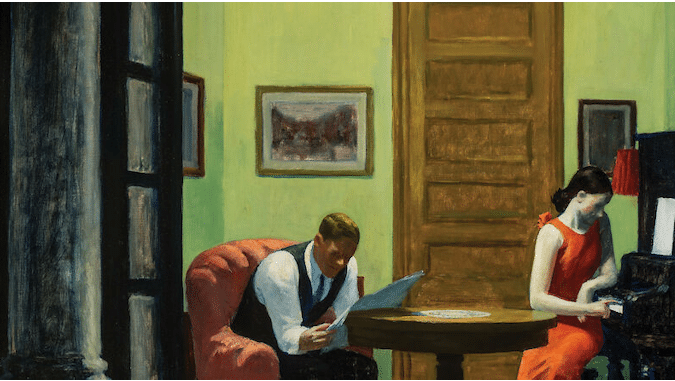Por EVA LANDA*
A armadilha do novo paradigma está em confundir a defesa legítima dos oprimidos com a criação de uma realidade persecutória, onde identidades fixas se tornam campos inimigos e a culpa original substitui o projeto comum de direitos
“É dever do homem justo combater todos os privilégios imerecidos, mas não se deve esquecer que se trata de uma guerra sem fim. Onde quer que exista um poder exercido por um pequeno número ou por um homem apenas, contra a grande maioria, o privilégio nasce e prolifera, mesmo contra a vontade do próprio poder, mas é normal que o poder, ao contrário, o tolere ou o incentive” (Primo Levi, Les naufragés et les rescapés).
Nossa época é caracterizada por um abalo particular do “solo das evidências” de que falava Piera Aulagnier, essas convicções compartilhadas que constituem uma base para a construção psíquica e as possibilidades de comunicação humana. Não que a guerra das ideologias seja uma novidade, mas hoje a difusão planetária e instantânea de ideias e fatos, comprovados ou não, através da Internet, entre outros, parece contribuir para uma intolerância incrementada em relação a opiniões diferentes,[i] em vez de promover a partilha e a reflexão – tudo isto, muitas vezes, em nome dos direitos humanos.
As abordagens contraditórias da questão da discriminação fazem parte desses elementos da realidade que podem surgir de repente e provocar perturbações no espaço analítico.
Para explicar a atual mudança de paradigma antirracista, podemos citar uma vinheta do historiador da psicanálise Paul Roazen. Ele criticava o ponto de vista de um psiquiatra que afirmava a um paciente negro depressivo, a respeito de sua relação amorosa, que uma mulher branca que tivesse um relacionamento com um homem negro deveria ter uma imagem depreciada de si mesma. Paul Roazen reagiu dizendo, em essência, que talvez fosse esse o caso, mas que essas formas “amáveis” de descartar uma conduta desviante em relação às normas da classe média lhe pareciam humanamente ofensivas e cientificamente duvidosas.[ii]
Hoje em dia, porém, os adeptos da noção de “privilégio branco” adotam esse ponto de vista de forma doutrinária, sendo a preferência uma construção sociohistórica, influenciada pelas relações de poder e opressão: “As mulheres brancas têm relações com homens negros quando não são suficientemente interessantes para os homens brancos – ou seja, quando elas estão fora do padrão de beleza exigido pelas pressões de gênero –, enquanto os homens negros se casam com mulheres brancas também porque querem se elevar socialmente e, assim, apagar a herança negra da família graças à branquitude. Neste jogo, a mulher negra é a figura de menor valor, uma vez que ela pertence a duas minorias históricas (mulher e negra)”.[iii]
O que pensaríamos de uma analisante branca apaixonada por um homem negro? Ela sofreria necessariamente de baixa autoestima?
Contudo, uma jovem amiga negra, que anos antes zombara de um colega que acusou o professor de ser racista quando este o criticou (e quando eu lhe disse “Mas talvez o professor seja mesmo racista”, ela desatou a rir e retrucou: “Não, eu o conheço bem, meu colega é preguiçoso”), mudou de tom depois de certo tempo. Ela estava aproximando-se dos cinquenta anos, não era casada, não tinha filhos, não estava confortável financeiramente e não vivia de forma alguma à altura de seus estudos e capacidades.
Ela explicou-me seu novo interesse pela teoria crítica da raça da seguinte forma: após longos anos de terapia, em que pensava que o problema vinha apenas dela, “do interior”, a ideia de que isso não era verdade, que havia também algo exterior que a impedia de ter sucesso, trouxe-lhe apaziguamento e respostas. E ela acrescentava, mencionando obras literárias de escritoras negras: “O que me interessa particularmente neste momento é a questão da solidão da mulher negra”.
Sua própria solidão, sem dúvida, mas também o fato de seus pais (ambos negros) terem se divorciado e de seu pai ter reconstruído a vida dele com uma mulher mais jovem e branca, com quem teve outros filhos. Essa adesão à luta antirracista em voga aproximou-a da comunidade negra, e ela pôde implementar projetos criativos e encontrar um lugar social de acordo com seus desejos, além de mostrar que “o problema não era só ela”.
Nossas terapias, se forem demasiado solipsistas, correm o risco de criar culpabilidade e falta de esperança…
O racismo ainda representa um problema grave, apesar de alguns progressos. Se novas modalidades teóricas e militantes reabrem questões e perspectivas, é necessário examinar as respostas propostas e permanecer atentos às suas contradições e eventuais excessos.
Breve retrospectiva das lutas contra o racismo
Em sua obra de referência A força do preconceito,[iv] Pierre-André Taguieff descreve as metamorfoses do campo ideológico do antirracismo na França.
Nos anos 1970, o antirracismo herdeiro do Iluminismo e do caso Dreyfus parece vitorioso sobre o racismo biológico, cujo paradigma é o nazismo, apoiado pela autoridade da ciência diante das crenças obscurantistas: “O pressuposto fundamental de tal otimismo ideológico reside na crença de que o racismo é essencialmente uma teoria das raças, distintas e desiguais, definidas em termos biológicos e em conflito eterno pela dominação do mundo”.[v]
O paradigma do antirracismo é, portanto, a luta contra os preconceitos,[vi] que impede seus alvos de aceder aos direitos fundamentais que deveriam ser garantidos a todos. O racismo biológico (incluindo o antissemitismo que levou ao genocídio nazista) torna-se tabu; já não se assume ser racista.
Mas, desde 1983, o nacional-populismo desenvolve uma ideologia identitarista que defende o “direito à identidade” ou à “diferença” dos povos, ou seja, o direito das maiorias face às minorias. Não se trata mais do antigo racismo colonial, “autoritário e paternalista”: a diferença em questão não é mais racial, mas cultural.
No entanto, é possível detectar nela a mesma essencialização do racismo biológico, pois a cultura parece ser tão imutável e não integrável quanto eram antes a “raça” e o “sangue”[vii]. A nova obsessão passa a ser o cruzamento interétnico e cultural, com seu corolário, o “apagamento da diversidade”.
Este abandono das metáforas biológicas e zoológicas coloca em dificuldade a argumentação antirracista e antifascista. Pierre-André Taguieff chama nossa atenção para a utilização sistemática de uma estratégia de “retorsão” das palavras e valores do antirracismo contra ele mesmo (neste caso, o elogio da diferença)[viii]. Os dois discursos fazem assim uso dos mesmos jogos de linguagem.
O lado antirracista encontra-se, além disso, atolado numa contradição fundamental: propõe simultaneamente o respeito absoluto pelas diferenças coletivas e a mistura interétnica ou intercultural, com igualdade de direitos. Os valores próprios às comunidades fechadas sobre si mesmas são denunciados como racistas por não serem universalistas, e o nacionalismo é considerado realmente a fonte de todos os males, mas, por outro lado, o universalismo é visto como “racista”, pois seria exterminador de diferenças.
Uma nova categoria: o “privilégio”
Na década de 1930, John Dollard (que Michel Wieviorka menciona como “o primeiro freudiano nas ciências sociais americanas”) estuda uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos e chega à conclusão de que o preconceito racista é uma “atitude defensiva destinada a preservar as prerrogativas dos brancos na situação de casta e a resistir agressivamente a qualquer pressão dos negros para modificar sua posição de inferioridade”[ix].
W. E. B. Du Bois, por sua vez, descreve a existência de um “salário psicológico” dos trabalhadores brancos, caracterizado por uma deferência em relação a eles que lhes permite se considerar superiores a seus colegas negros, embora em termos econômicos seu salário seja igualmente baixo. Ele afirma que o supremacismo branco está presente em toda parte, inclusive em países onde os habitantes negros ou “de cor” são maioria, devido ao colonialismo.
Em 1965, Theodore W. Allen enuncia num panfleto os “privilégios da pele branca” (ou da “raça branca”, ou o “privilégio branco”) e convida os americanos democratas a renunciarem a seus “privilégios da pele branca”.
Em 1988, um ensaio de Peggy McIntosh sobre o privilégio branco e o privilégio masculino, detalhando quarenta e seis privilégios invisíveis dos quais ela desfrutava como mulher branca, fez grande sucesso[x], sendo posteriormente aplicado aos “racismos” em sentido amplo (contra minorias sexuais, pessoas com deficiência, obesos, etc.).
A noção de interseccionalidade, que, em princípio, simplesmente enfatizava a necessidade de considerar a possibilidade de uma pessoa ser, em situações específicas, alvo de várias discriminações simultâneas, levou a uma convergência de “todas as causas” e também a certos excessos, como uma hierarquização bastante rígida do estatuto de vítima.
É preciso dizer também que certas minorias, como os asiáticos e os judeus, continuam, por diversas razões (política, competição entre vítimas ou ainda porque obtiveram “sucesso” e contradizem a teoria…), excluídas de “todas as causas”, o que lança dúvidas sobre a validade do projeto. Seja como for, o homem branco ocidental heterossexual continua confinado ao papel de carrasco, supremacista, privilegiado – deliberadamente ou apesar de si mesmo.
Pois o “privilégio branco”, segundo o novo paradigma, teria origem num racismo estrutural. A valorização da “branquitude” concederia vantagens aos brancos, mais propensos a fazer os melhores estudos, a obter cargos e a ter sucesso de modo geral, o que perpetuaria o sistema de desigualdades. Além disso, os privilegiados definiriam as normas. Portanto, seria possível ser racista de forma totalmente “inconsciente”. O novo paradigma também considera racista o “daltonismo racial”, que seria o ato de negar que se presta atenção à cor da pele.
O paradigma anterior defendia precisamente ignorar a “raça”, que não existe segundo a ciência; eis que os alvos do racismo reivindicam-na de modo identitário, bem como consideram que a negação das diferenças “raciais” contribui para impedir o reconhecimento dos problemas e o processo de mudança.
No entanto, é preciso ter cuidado com essa retomada da noção de raça. Pois, embora alguns autores se esforcem para tirá-la do prisma biológico, assimilando-a à cor da pele e a uma “raça imaginária”, a acusação de racismo contra aqueles que afirmam “não ver” a raça (colorblindness) baseia-se numa interpretação negativa obrigatória (como a suposição de baixa autoestima das mulheres brancas que se relacionam com homens negros). Não “ver a cor” pode significar não a ver em termos negativos e – por que não? – vê-la mesmo em termos positivos – e não a negação de qualquer tipo de racismo.
Compreendemos que a abordagem psicológica e individual do racismo é descartada nesta nova teorização, talvez mais sociologizante. Mas a utilização de termos como “branquitude” e “privilégio”, bem como a insistência em desvelar o racismo e confirmar a hipótese de um racismo estrutural onipresente, contribuem para criar uma realidade persecutória em que as “raças” ou cores só podem ser inimigas irreconciliáveis, a menos que haja confissão e arrependimento – muitas vezes em cerimônias que evocam os “despertares religiosos” protestantes americanos dos séculos XVIII e XIX,[xi] como nas manifestações universitárias após a morte de George Floyd.
A este respeito, Gwénaële Calvés menciona que o “privilégio branco” também designa uma “ferramenta militante de despertar das consciências” e lembra que Peggy Mc-Intosh é especialista em “métodos radicais de educação”[xii]. O objetivo dessa técnica é levar os brancos a se reconhecerem como “raça” e, idealmente, a renunciarem a seus privilégios, que podem ser resumidos na ausência dos efeitos negativos do racismo (como a discriminação e a memória de traumas passados[xiii]).
Esta menção à especialidade e aos métodos educativos de Peggy Mc-Intosh, cujos detalhes desconheço e sobre os quais não posso, portanto, emitir qualquer julgamento, despertou em mim a lembrança da experiência conhecida como “Olhos azuis-Olhos castanhos”, realizada por Jane Elliott.
A experiência “olhos azuis-olhos castanhos”
Jane Elliot é uma pioneira e especialista em educação antirracista. No dia seguinte ao assassinato de Martin Luther King, em 1968, ela preparava-se para responder às perguntas das crianças de cerca de 8 anos de sua turma sobre o acontecimento, numa pequena cidade de Iowa. Mas uma discussão intelectual sobre o racismo rapidamente lhe pareceu insuficiente. Nas palavras dela: “Percebi que eles não internalizavam nada. Faziam o que os brancos em geral fazem. Quando os brancos discutem o racismo, na realidade vivem uma ignorância compartilhada”.[xiv]
Ela então propôs às crianças uma experiência que lhes permitiria saber o que as pessoas negras podem vivenciar nos Estados Unidos. A experiência (“exercício”), que se tornou famosa desde então, consistia inicialmente em dividir a turma entre crianças de olhos azuis e crianças de olhos castanhos. Os “olhos azuis” foram apresentados como superiores, por exemplo, em inteligência, “por causa da melanina” (“argumento de autoridade” falso, que pôs fim a um início de resistência por parte do grupo discriminado).
Os “olhos castanhos”, por sua vez, foram relegados para o fundo da sala e obrigados a usar colarinhos de tecido castanho colocados pelos “olhos azuis”, que passaram a receber alguns “privilégios”, como acesso a novos jogos e mais tempo no recreio. Os “olhos azuis” também são encorajados a ignorar os “olhos castanhos” e a não beber do mesmo bebedouro que eles. Os “olhos castanhos” são frequentemente repreendidos e Jane Elliott aponta seus “aspectos negativos” para respaldar suas críticas.
Os “superiores” começam a comportar-se de forma arrogante e autoritária com seus colegas menosprezados, destacando-se ao mesmo tempo nos testes. Na vez seguinte, a situação inverte-se, os “olhos castanhos” tornam-se os “superiores” arrogantes, mas, segundo Elliott, de forma menos intensa.
As redações solicitadas às crianças para refletir sobre a experiência foram publicadas no jornal local, desencadeando um processo que tornaria Jane Elliott uma pessoa muito atacada em sua pequena cidade, mas muito divulgada em todo o país e até mesmo internacionalmente – ainda criticada, mas também admirada. Documentários foram realizados sobre sua experiência (The Eye of the Storm, 1970; A Class Divided, 1985).
Jane Elliot é considerada uma precursora da formação em diversidade e o exercício que ela criou tem sido frequentemente retomado nessas atividades. Começou a ministrar formações em empresas e organismos administrativos (as empresas estavam cientes dos riscos de não aceitar essas formações: má publicidade, boicotes ou processos judiciais, de acordo com a legislação em vigor).
A experiência original pode ser criticada por ter sido realizada com crianças tão novas (se pensarmos hoje nas questões de consentimento…) e porque o “faz-de-conta” não foi suficientemente garantido; sem contar que as crianças foram “manipuladas” por essa importante figura de autoridade, que lhes mentiu e as expôs a experiências dolorosas. Uma vez dissipado o efeito hipnótico, ter maltratado seus colegas revelou-se tão doloroso quanto ter vivido a injustiça; sentimentos de mal-estar e culpa foram claramente expressos pelas crianças após a experiência.
Atualmente, pesquisas acadêmicas parecem indicar que a eficácia a longo prazo deste exercício é limitada, considerando seu caráter penoso, os riscos éticos e as consequências psicológicas e emocionais para os participantes, mesmo adultos.
A pouca mudança de atitude a longo prazo seria uma consequência posterior do trauma? Se a professora foi dominada por suas emoções de tristeza e raiva, muito compreensíveis, e apesar de suas intenções louváveis (em nome dos direitos humanos), sua intervenção poderia estar tingida de um certo sadismo? De qualquer forma, segundo suas próprias palavras, por um certo período, seus queridos alunos teriam sido identificados com os “brancos em geral” e, assim, privados, de certa forma, de sua humanidade e individualidade, inclusive de sua condição de crianças.
Não “crianças brancas” que não mereciam um tratamento tão cruel, ao contrário das “crianças negras”, supostamente habituadas a isso, como mencionava uma das cartas violentamente críticas que Jane Elliott recebeu após suas aparições na televisão; simplesmente crianças.
Esta experiência pioneira também nos pode ensinar algo sobre as razões de certos excessos de seus herdeiros, em seu ímpeto para acelerar mudanças sociais muito necessárias. Estamos tentando mandar os brancos para o fundo da sala?
Privilégios ou direitos?
Retomemos agora a discussão sobre o que implica a transição do paradigma do “preconceito” para o do “privilégio” para enfrentar o racismo.
Os preconceitos estão na base das desigualdades, discriminações e até perseguições, pois impedem certos grupos de aceder a direitos que devem pertencer a todos.
Um enorme trabalho sobre a questão foi realizado (além do aparato jurídico que pôs fim à segregação nos Estados Unidos e tenta, também em outros lugares, punir os atos de discriminação alcançáveis pela lei).
Por exemplo, as reivindicações do movimento “Black is beautiful” não só mudaram a situação dos próprios negros, que puderam se libertar dos padrões que não lhes correspondem e aceitar a beleza de seus traços, cabelos e cor, como também libertaram outros grupos ou indivíduos, incluindo pessoas brancas.
As artes, e em particular o cinema, contribuíram para esta revolução estética e também para a defesa dos casamentos mistos, para a tomada de consciência do sofrimento infligido pela discriminação, para conhecer a história (escravidão, Ku Klux Klan, lutas pelos direitos civis – não faltam temas), falar do cotidiano, com ou sem discriminações, filmes baseados em obras de escritores e escritoras negros – muitos deles realizados por cineastas negros e orgulhosos de seu pertencimento. Os artistas negros têm direito aos papéis principais e já não se limitam aos de servos.
Como as mentalidades evoluem mais lentamente do que gostaríamos, ainda há trabalho a fazer. Mas ao introduzir a ideia de um privilégio de todos os brancos, sem que o saibam, pelo simples fato de não serem negros (para sermos concisos, vamos permanecer nessa dualidade), usamos um termo que remete à culpa, pois, se o direito cabe a todos, o privilégio é injustificado. Eis o verdadeiro ladrão: o branco. Todos os brancos, pelo simples fato de terem nascido. O termo “privilégio” ressoa como uma espécie de pecado original.
No que diz respeito aos “privilégios” dos judeus, uma famosa e excelente atriz afro-americana afirmou recentemente que o Holocausto tinha sido simplesmente um problema entre brancos. E, como todos os brancos, eles têm o grande privilégio de não serem negros. Ora, não só os judeus podem ser de todas as cores, como o fato de que, para uma parte deles, a cor da pele não denuncia imediatamente sua peculiaridade é precisamente o que torna seus inimigos ainda mais obstinados em revelar sua “judaicidade” por todos os meios. Narcisismo das pequenas diferenças…
A antropóloga e ativista antirracista Margaret Mead, em seu diálogo com o escritor James Baldwin, reconhece ter privilégios… mas que decorrem principalmente do fato de ter nascido numa família que a aceitava, numa pequena comunidade da Pensilvânia, onde lhe foi incutido o respeito por todos os pobres e por todos aqueles que eram diferentes. Isso provavelmente teria sido diferente se ela tivesse nascido no sul dos Estados Unidos: “Minha felicidade derivava de uma recusa: a recusa de pertencer a uma casta”. E também “eu também não carrego um estigma por aquilo que meus ancestrais fizeram há mil anos… Eu recuso absolutamente qualquer culpabilidade racial pelo fato de pertencer a uma nação, raça ou religião”.
Mais adiante: “Eu nunca me atribuí qualquer direito pelo fato de ser branca… Nunca tive um sentimento de superioridade branca…”[xv] Ela também compara aqueles que precisam construir sua dignidade e identidade com base no fato de não serem negros e os homens que constroem seu sentimento de superioridade com base no fato de não serem mulheres.
Margaret Mead recusa-se a deixar-se culpabilizar por sua condição de branca. Ela também esclarece a ausência, em seu caso, do sentimento de superioridade que acompanha os verdadeiros privilégios, reduzidos por fim, na nova formulação, ao fato de “não ser”: negro, imigrante, de uma minoria sexual… Ela não esperou que lhe pedissem para renunciar a seus privilégios para sentir empatia pelas vítimas, e ela não é a única.
O termo privilégio tem, portanto, uma conotação negativa, que implica uma expropriação ou uma exclusão em relação a outros indivíduos. Os privilégios do Antigo Regime acabaram levando seus detentores à guilhotina.
Por outro lado, quando se fala de gratidão, o privilégio assume outra dimensão: a de ter acesso a algo que se valoriza e que parece ser fruto do puro acaso. Neste contexto, há uma forma de humildade, em vez de um sentimento de superioridade, que se exprime.
Um analisando se queixa de seu chefe ter falado sobre as férias agradáveis que passou com sua esposa. Ora, o analisando é homossexual e não pensa que possa fazer o mesmo sem correr o risco de sofrer discriminação no trabalho. O chefe provavelmente não consegue perceber que está causando esse sofrimento, mas o analisando critica-o por não se dar conta disso, por falta de empatia. Entendi que talvez a única coisa capaz de acalmar o analisando seria que seu chefe também fosse privado dessa possibilidade, ou, melhor ainda, que ele próprio se privasse dela, sendo a eliminação da diferença a única alternativa para evitar o sofrimento e o sentimento de injustiça (ou a inveja, o ciúme e outras emoções dolorosas).
Ele considera que cabe ao outro renunciar a seu “privilégio” (termo que, aliás, não foi pronunciado). Uma espécie de nivelamento por baixo. Certamente agravado pelo fato de que o tema das férias é fonte de conflitos em seu casamento e raramente um momento agradável (o que o analisando omite em seu relato).[xvi]
É precisamente essa a reivindicação que decorre da denúncia dos privilégios: que os “privilegiados” (os brancos, etc.) renunciem a seus “privilégios”.
Além disso, essa figura do branco-homem-heterossexual-cisgênero-ocidental assemelha-se muito ao pai da horda primitiva imaginado por Freud, que se concedia todos os privilégios e posses e acabou sendo morto por todos os filhos (convergência de todas as lutas?).
Se tomarmos a formulação do privilégio seguindo o modelo da experiência de Jane Elliott, há de fato uma autoridade que atribui uma suposta superioridade a um grupo que, quase inevitavelmente, se torna arrogante e abusivo, enquanto o outro definha. Os pequenos privilégios (como os minutos extras no recreio) são, sobretudo, marcas visíveis dessa superioridade, que contribuem para o sofrimento e a humilhação do grupo que não os possui.
O privilégio, de acordo com o novo paradigma antirracista, é negativo: eu não sou X, portanto, não sofro discriminação, ignoro até mesmo sua existência, e esse é o meu privilégio.
Impressionante por sua complexidade e sutileza, cheia de nuances, num contexto em que a diferença entre a vida e a morte pode passar por uma colherada extra de sopa, a reflexão de Primo Levi para determinar se havia vítimas culpadas nos campos de extermínio constitui um estudo à parte sobre os privilégios possíveis numa situação extrema.
Para citar apenas algumas de suas observações: no nível mais baixo, que ele absolve sem hesitação, havia, por exemplo, os prisioneiros que exploravam, em troca de um benefício minúsculo como um pouco mais de sopa, a obsessão alemã por camas perfeitamente feitas; esses deportados raramente eram violentos, mas tendiam a defender seu “posto” com unhas e dentes, com um certo espírito corporativista. Outros ocupavam cargos com maior poder, mas não eram colaboradores, e sim opositores disfarçados, que corriam dessa forma grandes riscos.
Primo Levi era aliás muito crítico em relação àqueles que confundiam os assassinos com suas vítimas. Por outro lado, não tinha qualquer simpatia pelos colaboradores, como os kapos, que considerava verdadeiramente culpados. Esses chefes das equipes de trabalho eram escolhidos entre criminosos comuns e os nazistas eram excelentes em descobri-los. Outros colaboradores incluíam prisioneiros políticos moralmente enfraquecidos por vários anos de sofrimento, oprimidos que se identificavam com os agressores, sádicos em busca de poder etc.
Primo Levi hesita em considerar como um privilégio o excedente de comida concedido aos Sonderkommandos, encarregados de fazer desaparecer os cadáveres das câmaras de gás (e eles próprios condenados à eliminação por serem detentores do segredo).
Para Primo Levi, o principal culpado pelo que ele chama de “zona cinzenta” dos “prisioneiros-funcionários” (os mais inquietantes, segundo ele) e dos colaboradores é o sistema do Estado totalitário: “A ascensão dos privilegiados, não só no Lager, mas em todas as sociedades humanas, é um fenômeno angustiante, mas fatal: eles só estão ausentes nas utopias”[xvii].
Voltar brevemente a Primo Levi, cuja análise dos privilégios nos campos de concentração mereceria um longo artigo por si só, permite-nos aceder a uma reflexão que leva em consideração as nuances, o que parece faltar nas generalizações das novas fórmulas sobre os privilégios. Estas tendem a funcionar como termos performáticos ou como o que se denomina thought-terminating clichés (clichês que paralisam o pensamento), quando não criam situações confusas e contraditórias entre seus próprios defensores.
Ary Gordien, depois de chamar a atenção para os limites da noção de privilégio, resume: “Se uma pessoa branca está numa posição social vantajosa, talvez em sua trajetória social tenha sido favorecida pelo fato de ser branca ou porque outros foram discriminados. Portanto, a ideia é, para os teóricos do privilégio branco, tomar consciência desses mecanismos no cotidiano e aceitar perder parte de seu poder, ao mesmo tempo que se solidarizam com as lutas antirracistas, feministas etc., para permitir que outras pessoas dominadas ou em situação de desvantagem possam adquirir as mesmas vantagens que, mais uma vez, deveriam ser a norma. E não a exceção”.[xviii]
Vantagens que deveriam ser a norma: ou seja, direitos.
*Eva Landa é psicanalista, doutora em Psicopatologia Fundamental e Psicanalise pela Universidade Paris VII.
Tradução: Fernando Lima das Neves.
Publicado originalmente na revista Le Coq-Héron n.° 260, ed. érès, Paris, 2025, p.77-85.
Notas
[i] Às vezes, até ao linchamento midiático. Ou ao verdadeiro assassinato.
[ii] P. Roazen, “The impact of psychoanalysis on values”, em Moral values and the superego concept in psychoanalysis, Nova York, International Universities Press, Inc., 1972.
[iii] L. Vainer Schucman, Familles mixtes. Tensions entre couleur de peau et amour, Paris, Éditions Anacaona, 2022, p. 28-29, sobre a obra de L. Moutinho, Razão, cor e desejo, São Paulo, UNESP, 2004.
[iv] P.-A. Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, Éditions La Découverte, 1987. Um artigo mais recente sobre o racismo estrutural pode fornecer esclarecimentos adicionais à questão dos privilégios: https://www.leddv.fr/analyse/le-racisme-institutionnel-structurel-ou-systemique-portee-et-limites-dun-modele-critique-20210302.
[v] Ibid., p. 12.
[vi] Ao mesmo tempo que critica como utópico o objetivo racionalista de uma abolição total dos preconceitos.
[vii] P.-A. Taguieff, La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, op. cit., p. 14.
[viii] Contudo, a rejeição da diferença não foi completamente erradicada do discurso nacional-populista.
[ix] M. Wieviorka, L’espace du racisme Paris, Le seuil, 1991. O destaque é meu.
[x] Alguns criticarão Peggy McIntosh por atribuir à particularidade “racial” os privilégios de que ela teria beneficiado sobretudo em razão de seu nascimento num meio financeiramente muito favorecido.
[xi] Ver J.-F. Braunstein, La religion woke, Paris, Grasset & Fasquelle, 2020.
[xii] P. Petit, N. Titti, “‘Privilège blanc’ : origines et controverses d’un concept brûlant”, 14 de junho de 2020; https://www.radiofrance.fr/franceculture/privilege-blanc-origines-et-controverses-d-un-concept-brulant-2999751.
[xiii] Segundo Reni Eddo-Lodge, citado no artigo da nota precedente.
[xiv] S. G. Bloom, “Lesson of a Lifetime”, Smithsonian Magazine, setembro de 2005. Além da generalização, a afirmação de Jane Elliott sobre a dificuldade de se colocar no lugar do outro (“em seus mocassins”, segundo a oração sioux que a inspirou) não é falsa. Apesar de sua escuta atenta, o psicanalista Ralph Greenson reconhece o esforço que teve de fazer para se colocar nos mocassins de seu paciente, numa das primeiras experiências analíticas (didáticas) a envolver um negro e um branco nos Estados Unidos: “A primeira vez que interpretei o objeto sexual disfarçado de um de seus sonhos como sendo minha mulher, não percebi a quantidade de angústia que tinha acabado de mobilizar. Não era apenas uma figura tabu, a mulher de seu analista, ou uma figura materna, era também uma mulher branca; da mesma forma, eu não era apenas uma figura paterna, era também o homem branco todo-poderoso”. R. R. Greenson, Technique et pratique de la psychanalyse (1967), Paris, Puf, 1977, p. 401.
[xv] M. Mead, J. Baldwin, Le racisme en question, Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 265, 227, 280.
[xvi] Esta vinheta clínica permite compreender melhor o significado do pedido de renúncia aos privilégios – aqui atribuídos àqueles que estariam “dentro das normas” (sexuais) – e o sofrimento subjacente. É importante destacar que outros analisandos homossexuais ou pertencentes a outras minorias alvo de discriminação poderiam ter reagido de forma diferente na mesma situação.
[xvii] P. Levi, Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, op. cit., p. 41.
[xviii] O destaque é meu. “Le privilège blanc existe-t- il?”, entrevista com A. Gordien por B. Marty, 24 de junho de 2020; https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-privilege-blanc-existe-t-il-2338541.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A