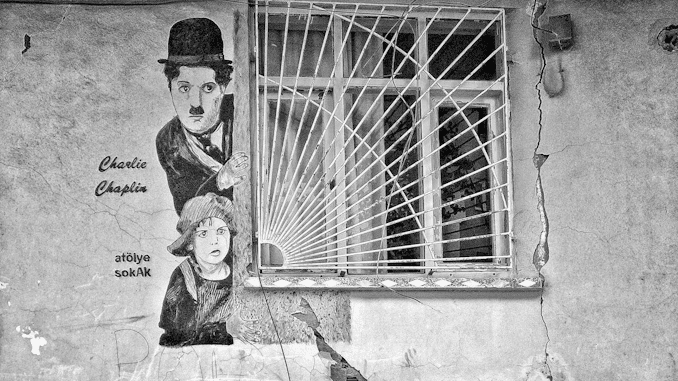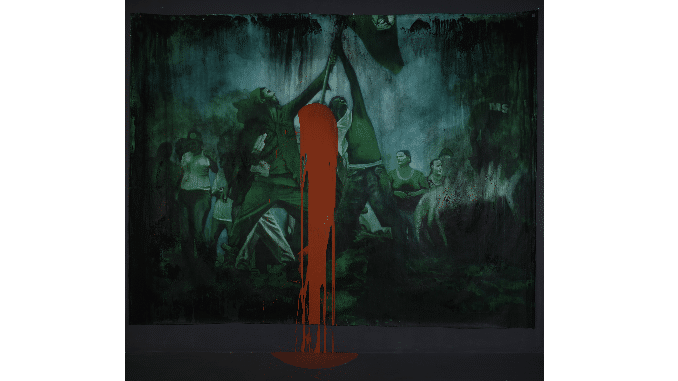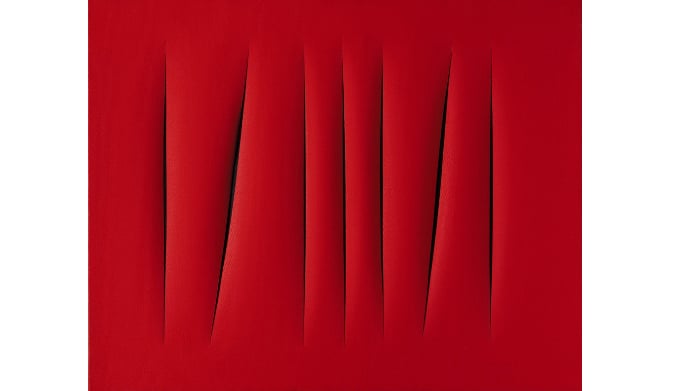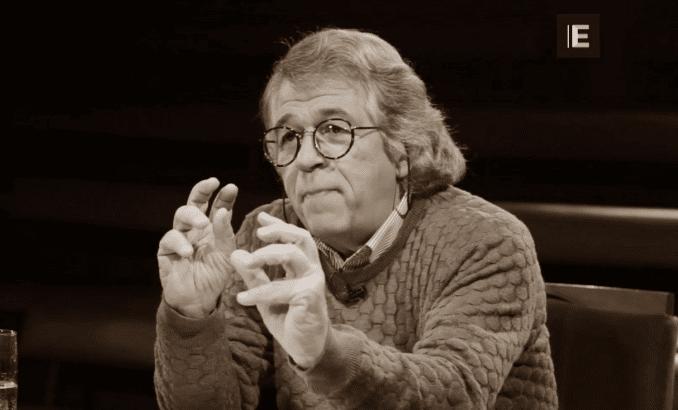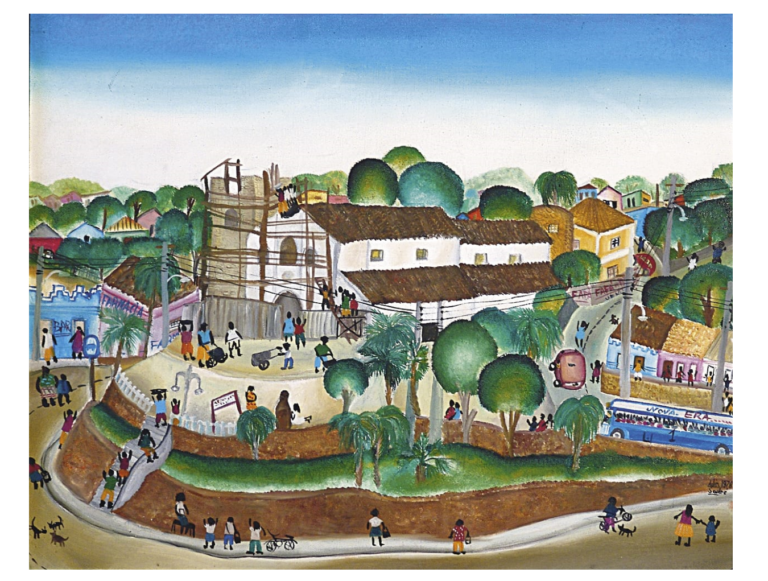Por FLÁVIO R. KOTHE*
Nos países que foram metrópoles colonizadoras, há latente certa arrogância, em que muitos continuam se achando superiores e com o direito de menosprezar os “subdesenvolvidos”
1.
Uma revista, que se vê reduzida à dimensão digital por falta de apoio institucional, precisa saber o que será dela na via que ainda lhe resta, o que pode esperar quando não há mais fronteiras locais nem nacionais. Se tem sido lida em todos os continentes, com centenas e até milhares de leituras de seus artigos e ensaios, a proposta nela contida tem reverberado, ainda que isso não conte para um Qualis reduzido a formalismos. Não há arrogância na busca interdisciplinar, pois se sabe que a verdade depende dos ângulos pelos quais se busca o objeto, num processo de revisão permanente.
Que chance tem um intelectual sul-americano de ser reconhecido na Europa ou nos Estados Unidos? Praticamente nenhuma. Os intelectuais das metrópoles como França, Alemanha e USA não conhecem português nem espanhol, não se preocupam em ter acesso ao que é publicado nessas línguas. Línguas filosóficas são, para eles, grego, latim, francês, alemão e inglês. Do resto nem se fala, não se fala. Pouco vale, acham eles.
Até que ponto podem ter razão? Não se trata de comparar o número de teses defendidas numa língua ou outra. O que importa é a densidade e qualidade do texto. Há dados históricos que não temos mais. Não sabemos, por exemplo, o que da filosofia grega foi aprendido na Universidade de Luxor, como era a exata redação de Platão ou Aristóteles. Não se sugere que se possa ignorar a tradição metafísica europeia. Quem fizer isso é um ignorante que nada terá a acrescentar.
A melhor formação em escolas e universidades brasileiras não alcança à que se pode obter nas melhores da França, Suíça, Alemanha, Inglaterra, EUA. Se assim é, o sujeito não nasce “monkey”, mas é tratado como tal por imposição das circunstâncias. Isso não quer dizer que ele seja, ao ser rotulado como tal. Aplicado a um craque de futebol, o grito da torcida inimiga revela o temor da qualidade do jogador. Não se trata, portanto, apenas de formação deficitária e sim de verificar os critérios dos rótulos. Enquanto valerem apenas os parâmetros das metrópoles, as “colônias mentais” vão sempre ser consideradas inferiores.
Martin Heidegger achava que toda a filosofia e ciência era grega na origem. Ele fez a releitura de termos básicos, mostrando como a tradução latina havia perdido o sentido originário. Daí ele caiu num fetichismo filológico, achando que a filosofia devia ser centrada na hermenêutica de termos gregos. Não levou em conta limitações claras do pensamento grego, desde a crença nos deuses (que acompanha a epopeia e a tragédia) nem no erro de Platão ao apontar o heliocentrismo como ápice da verdade em negação ao geocentrismo. Da perspectiva da astrofísica, as duas propostas são errôneas, como era um erro acreditar que um Apolo antropomórfico pudesse carregar o sol pelos céus. A descoberta da infinitude dos espaços siderais abala os conceitos de infinito e finitude. A descoberta do inconsciente refaz a visão que se pode ter do eu cognitivo. Nietzsche foi mais aberto a essas revoluções.
Isso leva a questões delicadas. Será que o homem é quem determina o ser dos entes se ele nem sequer conhece a maior parte do que existe nos espaços siderais? Pode-se falar em “parte” quando não se tem um todo delimitável? Será o homem o único detentor de linguagem, o único que sabe que vai morrer? Será que o animal, sendo weltarm (pobre de mundo) faz de todo homem um “weltreich”? A maioria dos humanos é negacionista, opta pela pobreza mental. Não acredita que vai morrer. Acha que tem uma alma eterna ou um espírito capaz de transmigrar. O “mundo” não pode mais, porém, ser definido como aquilo que está no horizonte do homem, sendo este o único “Dasein”, aquele que está aí e sabe que está. É pobreza supor que todo animal é pobre em mundo e todo ser humano é rico em mundo. A prepotência da escravidão e do colonialismo não parece questão relevante para os filósofos europeus e americanos não marxistas.
Dizer com Heidegger que a pedra não tem mundo, que o animal é pobre em mundo e que só homem tem mundo é unilateral, é recair na tradição metafísica cristã. É ignorar que homens ricos têm mais mundo, mais mundo à disposição, do que os pobres deste mundo. Uma pedra, diria Nietzsche, tem a capacidade, pela força da gravidade, de perceber a existência de outras massas, é capaz de tender a se aproximar ou se afastar e de se assimilar. Ela tem, portanto, intelecção, reação afetiva e capacidade volitiva. Evola-se, portanto, aquilo que seria o princípio de distinção do ser humano. Nietzsche previa que nos 300 anos seguintes não haveria compreensão para isso na filosofia. Metade deste tempo passou. Heidegger, Derrida e outros continuam dentro da regressão metafísica.
2.
Isto é relevante para o pensamento sul-americano. Quando Derrida discute Robinson Crusoé, perde de vista a dimensão fundamental de Daniel Defoe, que era a defesa do colonialismo inglês em contraposição ao espanhol. Embora tenha nascido na Argélia, tem a perspectiva senhorial do Otanistão, em que a perspectiva dos “subdesenvolvidos” não conta, não existe. Quando discute “a besta e o soberano” evita o tema principal, que é a relação entre colonizado e colonizador? Quando discute se o homem tem mundo, o animal é pobre em mundo e a pedra não tem mundo, faz variações em torno de Heidegger, mas os dois não discutem se, quanto mais pobre o sujeito ou o país, menos mundo ele tem. Não conseguem se despir da arrogância cristã de que somente o homem tem alma, tem noção da própria morte.
Animais sabem quando estão ameaçados de morte e procuram evitar a destruição, se puderem. Eles têm sentimentos, têm a sua forma de consciência, a sua linguagem. Que o homem ocidental não entenda isso, significa apenas que ele é menos humano do que pretende. Ele é mais “animal” que o animal. É um suicídio da natureza, a espécie que deu mais errada, a mais destrutiva do planeta. Sua civilização é barbárie.
A filosofia se torna um mecanismo de alienação. Não é acaso que a “filosofia moderna europeia” chegue ao apogeu com a formação dos grandes impérios inglês, francês e americano. Aventar que antes havia os impérios espanhol e português, que foram devorados pelo inglês, que foi devorado pelo ianque, significa examinar que os dois reinos foram dominados pela Igreja Católica, que evitou o filosofar fazendo a racionalização da crença na escolástica. A superação da escolástica está dentro dessa transição de impérios.
O que vemos acontecendo é um processo de pluralização de potências com a emergência da Rússia e da China. Os membros do BRICS terão de repensar seus fundamentos conceituais e suas avaliações, para não continuarem dominados pelas metrópoles europeias. Adultos e jovens sul-americanos não estudam russo nem chinês: inglês já lhes basta. A filosofia ocidental precisa ser pensada como ideologia de dominação. A arquitetura de Washington imita a greco-romana porque o país queria ser – e conseguiu – quem domina o planeta como defensor da cultura dita superior. Schopenhauer fez o desvelamento da natureza da filosofia ocidental ao dizer que a interpretação do mundo é expressão da vontade, tendo Nietzsche feito o adendo de que não seria mero desejo, como pensou Freud depois, mas uma vontade de poder, de dominar, de impor a vontade a tudo e todos.
O ser humano pretende dizer como “as coisas” são, quer ditar o que tudo seja, ele “diz” o que “o mundo é”. Somente ele teria “mundo”, segundo Heidegger. Ora, diante da imensidade dos espaços siderais, não há “universo”, algo fechado que teria o homem como centro: a “vontade” não é nada. Não há um “todo fechado” com que se constitua um “círculo hermenêutico”. Não há plenitude de “mundo” para o homem, mesmo que ele creia que é “mundo” o que ele supõe que seja. Que alguns países tenham conseguido dominar continentes não significa que venham a ser soberanos dos espaços siderais, por mais que lancem foguetes, naves e sondas.
Supor que o homem se distingue do animal e da coisa porque é o único que sabe que vai morrer – como repetem Heidegger e Derrida – é ignorar duas coisas primárias: a grande maioria dos humanos é negacionista, nega que vai morrer; um cabrito sendo levado para ser degolado ou um porco perto da faca fatal gritam pedindo para não serem mortos, porque sabem que vão ser. É cômodo achar que não têm noção da morte para serem mantidos nos campos de concentração em que galinhas e porcos são atualmente criados. O cristão imagina até que o seu deus deu a própria vida para salvar os homens: se o deus fez, por que animais e plantas não fariam? Apaga-se a má consciência de que sua própria vida se nutre da morte da vida alheia. Religião é alienação.
3.
Tais observações banais e grosseiras não entram na sutil reflexão dos pensadores das metrópoles. Eles evitam com cuidado todos os temas cruciais em que se exponham problemas delicados. Evitam apontar defeitos e lacunas neles mesmos. Os seus discursos não aprofundam questões que, da perspectiva “periférica”, seriam relevantes.
O negacionismo ibérico foi transposto e imposto na América dita Latina pela Igreja Católica ligada ao poder central. A administração cortesã queria um modo de controlar os enviados do poder central, para que não se aliassem às forças locais e proclamassem a independência (como acabaram fazendo, para cair em novas formas de subserviência). Os enviados da Igreja cumpriam esse papel e eram pagos por isso. Até hoje os cristãos não ousam violar a doutrina da fé, pois temem perder a salvação. O cristianismo interioriza o escravismo, a relação senhor/escravo, na relação divindade/crente. Aí só resta ao inferior rogar pela comiseração senhorial jogando-se a seus pés. Algo semelhante se faz em dissertações e teses.
O catolicismo foi a via régia para implantar a duplicação metafísica do mundo na América do Sul: era um neopitagorismo, que não sabia que era, pois não se via como escola de filosofia e achava que a fé estava acima da razão. A metafísica não veio para a América Latina como filosofia e sim como crença, portanto como algo dogmático, que era preciso aceitar e assumir sem questionamento, pois se não estaria periclitando a salvação eterna. Não se discutia se o homem tem alma ou não, como ela poderia ou deveria ser entendida. Ficar do lado do senhor era a salvação.
Embora o platonismo cristão queira se basear em Platão, não é idêntico, pois a fala irônica de Sócrates contém sempre uma duplicação, em que ele não diz o que pensa. Esse “platonismo” fica aquém de Platão, pois este não propunha ideias como puras formas e sim como protótipos, em que haveria uma unidade de forma e matéria. O “espiritualismo” dominava o espaço helênico, com a crença na transmigração das almas.
Em sua variante católica nos períodos colonial e imperial, o cânone literário brasileiro participa dessa duplicação, é um agente de sua propaganda e, ao mesmo tempo, um testemunho involuntário de suas sequelas: templo a ser decifrado no tempo. Desde o início, o contato com a “América” foi uma projeção dessa duplicação. A tradição letrada sugere que a europeidade é boa, tornando má a resistência a ela: uma era o ser, e a outra, o nada; uma era a utopia, e a outra, o inferno; uma era civilização; e a outra, barbárie.
Isso reproduz a dominação da metrópole sobre os territórios invadidos. Ser senhor aí é bom; ser escravo, mau. Cabelo liso é bom; o de molinha de isqueiro, ruim. Religião e arte servem para interiorizar a dominação, crendo que ela é a salvação. Bom é se identificar com o senhor, submeter-se à sua vontade, corresponder aos seus desejos. Não se aprende aí que o senhor é servo do servo, o que só se há de descobrir se este não se submeter a ele.
Pensar é refletir. E não é, pois é preciso ir além de apenas ficar refletindo luzes alheias. O colonizado acha que só pensa quando reflete a fala do colonizador. Ele vê na metrópole a luz que o ilumina. Sua “reflexão” é um reproduzir as luzes advindas dos “grandes centros”, que ficam todos nas capitais das metrópoles. Ele não pensa por si ao “refletir”.
Esta postura de submissão pode se dar na “atualização bibliográfica” de uma tese, mas está também na postura de querer ignorar a arte, a ciência, a teoria produzida nas metrópoles. Supor que a “minha aldeia é um mundo” não quer ver que o mundo é mais que uma aldeia. É uma arrogância que não consegue competir com a obra mais densa, com o melhor da produção mundial.
4.
Nos países que foram metrópoles colonizadoras, há latente certa arrogância, em que muitos continuam se achando superiores e com o direito de menosprezar os “subdesenvolvidos”. Isso pode aparecer como racismo, tendo subjacente a pretensa superioridade do colonizador. Enquanto ainda havia União Soviética, se falava de “terceiro mundo”. O “comunismo” parecia ser uma utopia alternativa, para não ficar restrito ao modelo capitalista. O estranho é que desde 1945 as potências europeias se tornaram colônias de uma antiga colônia inglesa, países que não são independentes nem soberanos, mas acham que ainda são senhores: tanto mais ostentam ser quanto menos são.
A “civilização” trazida para as Américas pelo colonizador era barbárie. O modo de o aborígene conviver com a natureza, sem a destruição sistemática imposta pelo colonizador, era mais civilizada. Portanto, o que pretendia ser civilização era barbárie; o que foi rotulado de bárbaro, civilização.
Não se pode esperar, por ora, que intelectuais franceses, ingleses, alemães, norte-americanos levem a sério o pensamento latino-americano. Começa com o fato de que em geral não conhecem nem espanhol nem português, muito menos aimará ou guarani. Seriam equivalentes. Não representariam lacuna. O que for escrito em português equivale ao que fosse em aimará, 0 = 0, nesta lógica imperial. Eles não buscam conhecer essas línguas, pois estão convencidos de que não vale a pena o esforço de acompanhar o que é publicado nelas. Eles podem aparentar simpatia com visitantes sul-americanos quando esperam que estes sirvam de difusores de suas obras para o desenvolvimento intelectual das antigas colônias.
O crente e o colonizado param de pensar quando chegam aos limites das convicções e/ou conveniências. Kant deixou claro que não queria nunca ultrapassar o que era postulado pelo luteranismo: exatamente aí se deveria começar a pensá-lo, mas é onde o respeito ao grande pensador impõe o cessamento do embate. Um católico acha natural que o bispo de Roma seja o chefe de todos os católicos e que recursos sejam carreados há séculos do mundo inteiro para Roma. Para os italianos é bom que a cada ano milhões de turistas circulem por lá para ver os “tesouros da arte sacra” acumulados em milhares de igrejas. Eles podem ter como papa até um argentino que fala italiano feito um nativo, nada se altera no esquema da dominação pela crença.
Que os “americanos” celebrem suas vitórias na guerra digital que estão travando há um século, com artistas comovidos a celebrar a igualdade da diversidade sem olhar a questão central da igualdade social num modo de produção que aumenta cada vez mais a distância entre donos de meios de produção e o resto, isso pode ser compreensível. Chame-se a celebração Tony, Oscar, Urso de Ouro ou algo similar, o problema é os colonizados torcerem por premiações alheias como se fosse em causa própria; é ficarem noite após noite vendo filmes de faroeste, séries policiais, novelas de detetives como se fossem mera diversão, não doutrinação, lavagem cerebral, ritos encenando mitos. Os “grandes nomes” das metrópoles não estão dispostos a reconhecer as limitações de seu empoderamento. Não conseguem nem querem.
Os intelectuais das metrópoles encenam o papel de senhores do pensamento. Ignoram os servidores das distantes colônias mentais. Países europeus, que foram metrópoles e perderam a soberania desde o fim da Segunda Guerra com a presença de tropas americanas em seus territórios, não estão dispostos a reconhecer que se tornaram colônia de uma colônia, mesmo quando falam em soberania. Querem recolonizar a metrópole que os colonizou.
5.
Quando Derrida se põe a comentar em aulas os seminários de Heidegger sobre a finitude, traz o romance de Defoe, Robinson Crusoé, como contraponto. Mais adequado teria sido trazer algo como A ideologia alemã de Marx. Quando Daniel Defoe diz que a ilha é deserta, isso passa batido, como se árvores, animais, aborígenes ocasionais lá existentes fossem areia. Embora cite, não desenvolve a questão central que é a disputa do colonialismo inglês com o espanhol e o crescimento capitalista à base do self made man. Isso já foi dito, mas fica submerso. Discute-se a diferença entre homem e animal sem ver se o homem é mesmo um só ou se há homens muito diferentes quando uns são senhores da metrópole e outros são serviçais das colônias. A história evapora na metafísica, embora se proponha debater o tempo no que chamam de ser e o ser no tempo.
Entre o intelecto das metrópoles e o sul-americano se estabelece uma relação como se fosse entre senhor e servo, sem que se use a Fenomenologia do espírito de Hegel para entender o que se passa. O senhor tudo pode, com a empáfia e arrogância de quem se considera sabichão; ao serviçal cabe somente obedecer aos comandos recebidos, ele não tem o direito de questionar a fundo o emanado dos bem-pensantes. O intelectual europeu ocidental pode dizer o que quiser, omitir o que lhe for conveniente, deformar o que lhe aprouver: o colonizado só vai aplaudir, obedecer às orientações recebidas.
Na carroça do pensamento, o servo será o burro de carga, obedecendo aos puxões das rédeas, aos comandos da boleia. Precisa conformar-se com o papel de satélite: refletir a luz do seu astro-rei. Está predestinado a ser Caliban, variante de canibal, na relação em que o espírito europeu é visto com a leveza de Ariel. Se Shakespeare assim fez The tempest, não há como fazer uma tempestade no copo d’água do pensamento colonizado. Agitar a água será ridículo.
Hegel chegou a sugerir que o senhor depende, para ser senhor, do fazer do servo e que, portanto, o senhor é servo do servo e o servo é senhor do senhor. Isso na teoria; na prática é mais difícil. Marx transpôs isso para a relação entre capital e trabalho, para entender a luta de classes. Sindicalistas achavam que poderiam mudar a história com a greve geral, em que todos os trabalhadores se recusariam a continuar servindo aos senhores do capital. Zola mostrou, no Germinal, como os mineiros do carvão viviam em condições precárias e como os senhores tinham recursos para reprimir a greve.
Na era da informática, seria possível imaginar que intelectuais dos países colonizados promovessem encontros virtuais em que pudessem trocar pontos de vista, reconhecer denominadores-comuns anticoloniais, formar uma frente ampla contra a dominação das metrópoles. Poderiam montar um BRICS mental, com espaço para pensamento russo, chinês, indiano e assim por diante, para que se quebrasse o eurocentrismo das metrópoles coloniais. O mais provável é que encontrassem patriotas a exaltar obras menores locais como non plus ultra.
A consciência possível ao senhorio não é necessariamente inferior à dos servos, já porque ele conta com melhores universidades, bibliotecas, centros de pesquisa, condições de labor. Seria um passo, porém, se os servos conseguissem saber o melhor que os senhores sabem e passassem a desconfiar que suas realidades impõem encarar com outra ótica as proposições advindas das metrópoles. A diferença deveria ter a liberdade de sonhar com algo que fosse além do pensamento tético e até de seu próprio âmbito antitético, para discernir algo que fosse mais amplo do que os espaços restritos em que se vive hoje na universidade e na mídia.
6.
Na atual conjuntura, o pensamento sul-americano não pode esperar ser reconhecido nas metrópoles. Intelectuais das línguas inglesa, francesa ou alemã não estão interessados no que se escreve em português ou espanhol, quéchua ou guarani. Não acham relevante. Os intelectuais sul-americanos aprenderam a aprender inglês, francês ou até alemão, mas não russo ou mandarim. Talvez não precisem, pois já existem programas que fazem traduções razoáveis em pouco tempo. O que eles precisam é de informações sobre este mundo mais amplo e a convicção de que existe algo mais do que a Rive Gauche.
Os catedráticos que comandavam nossas universidades queriam discípulos que seguissem suas pegadas, carregassem suas pastas, e não cérebros que fossem capazes de pensar por si. Com exceções, reproduziam no âmbito interno a relação colonial externa. Mudou-se a carreira acadêmica, o resultado parece continuar o mesmo, com raros pensadores originais.
Nietzsche dizia que todo grande mestre tem somente um discípulo digno dele: exatamente aquele que vai apunhalá-lo pelas costas. Era uma brincadeira cruel com César, mas reproduzia o que ele próprio havia feito com Schopenhauer, que Hegel fizera com Kant (e Marx com Hegel). Harold Bloom ganhou fama reproduzindo isto: todo grande escritor segue um autor modelar, mas só se torna grande quando consegue superar os limites do seu tutor. Querer que o senhor se torne melhor com as eventuais críticas e objeções que os discípulos coloniais possam fazer é uma dupla ingenuidade: nem o senhor está disposto a ouvir o que se diz na roça nem o problema está em detalhes do pensamento.
Bertolt Brecht retomou a dialética de Hegel na peça O senhor Puntila e seu criado Matti. O senhor só se torna bonzinho quando está bêbado. Se o criado acreditar que vale o que o bebum diz, vai alimentar esperanças que serão frustradas. É engraçado por ser bastante trágico. Não se pode ignorar a grande tradição das metrópoles. Sem conhecer Brecht, Marx, Hegel, Fichte, Kant, Descartes, Pascal e assim por diante, não se vai dialogar com países que os têm na sua formação de base. Não se substitui a lacuna por brados patrióticos, com a proclamação de que a aldeia vale o mundo inteiro. Não adianta querer enfrentar com flecha e tacape quem vem com metralhadora e drones.
Enquanto as regras de avaliação forem ditadas por modelos consolidados em alguns locais das metrópoles, as instituições dos “subdesenvolvidos” não terão chances de concorrer. Elas terão de aprender a se desenvolver. Terão de ver como superar os limites imperantes, em vez de insistir em descartar os que são capazes de ultrapassá-las.
A antropofagia crítica da alta cultura das metrópoles não se faz com a louvação do beau sauvage nem com a piadinha de que o problema ontológico é odontológico ou que tupi or not tupi, that is the question. Pode ser engraçadinho, mas é ordinário. Não se será convidado a sentar nas academias das metrópoles nem como membro correspondente. Se as futuras gerações não forem politizadas, se não aprenderem desde pequenas as grandes obras de filosofia, literatura, economia, políticas, se não tiverem a coragem de pensar por si, vai-se continuar no negacionismo, sem o difícil caminho da criação original. O subdesenvolvido, para se desenvolver, precisa aprender a deixar de ser seu próprio inimigo.
*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Benjamin e Adorno: confrontos (Ática).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA