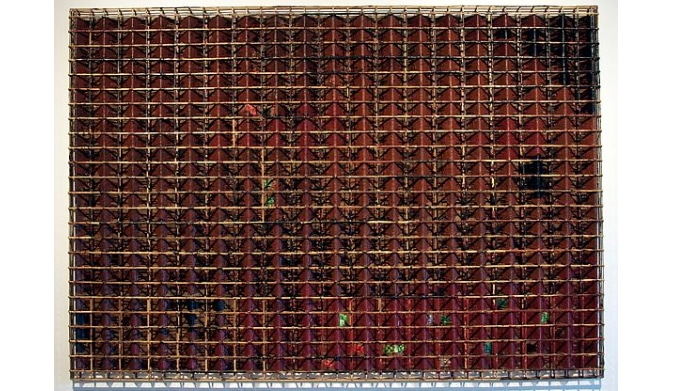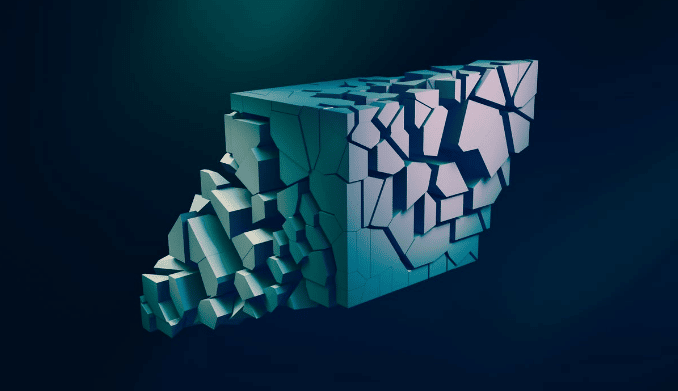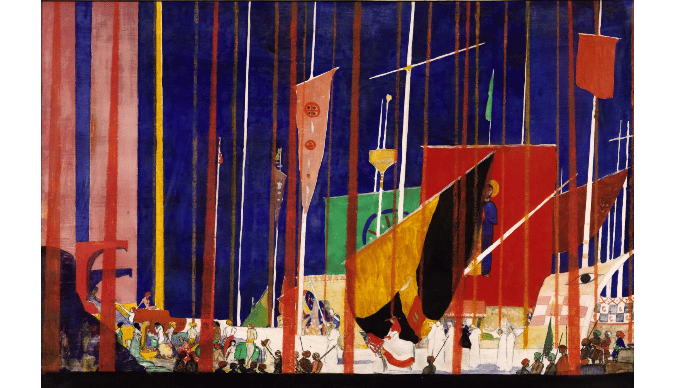Por JALDES MENESES*
A anistia proposta não é um pacto de transição, mas um salvo-conduto para a desestabilização permanente. Longe de pacificar, busca imunizar o novo fascismo, usando a democracia para minar suas bases e reabastecer o ódio para o próximo round
A anistia dos pacificadores de armas em punho
Circulou nas redes sociais, na semana de comemoração dos 203 anos da Independência do Brasil, trechos de um discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, possível candidato bolsonarista a presidente, proferido em um comício na Avenida Paulista, a respeito da anistia. Na verdade, o que ele proferiu foram mais palavras-chave desconexas que propriamente um discurso articulado.
De todo modo, o governador defende uma “anistia geral” para o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus asseclas do 8 de janeiro, desvinculada de análises concretas, e recorre a exemplos históricos desconexos que se aproximam, digamos assim, a uma pasteurização reacionária da história do Brasil – uma autêntica “cloroquina historiográfica”. Parece que o governador, egresso do colégio militar, faltou às aulas de história, ou teve péssimos e interesseiros doutrinadores, pois os rudimentos de sua parca compreensão do passado brasileiro, além de reacionária, são profundamente ideologizados.
Em outro diapasão dos pregoeiros da pacificação, surge a trajetória de Aldo Rebelo. Inicialmente batizado no seio da esquerda, ele recicla, já há alguns anos, argumentos e clichês da historiografia estatólatra-imperial de Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, o historiador-mor do Império. Rebelo posa de Dom Quixote utópico sem utopia. Seu repertório bibliográfico parece menos ralo que o de seu aliado, o governador de São Paulo.
Em novo vídeo de propaganda nas redes, ele também defende a tese da “pacificação do Brasil”. Embora localize, igual conosco, em 2013 um ponto de inflexão do acordo constitucional-democrático de 1988 – no que concordamos e caracterizamos como uma típica “crise orgânica” de hegemonia social e representação do Estado ampliado –, Aldo Rebelo considera o bolsonarismo um ator legítimo, como se seguisse as regras do jogo da democracia política.
O jornalista Vincent Bevins (2025), autor do melhor livro sobre as manifestações de 2013, intitula os desdobramentos, até hoje misteriosos para muita gente, como “a década da revolução perdida”. Trata-se de outra maneira de dizer, mais factual, que ali começou uma crise orgânica. Até as esculturas de madeira policromada nas igrejas barrocas de João Pessoa sabem que o bolsonarismo é mais um Cavalo de Tróia do que um dos polos de representação do sistema político.
O politólogo Norberto Bobbio (1986), muito festejado no Brasil durante os anos da transição da ditadura, elaborou uma “defesa das regras do jogo” sob evidente inspiração do modelo de democracia minimalista e elitista de Schumpeter (2017). Convém observar que a démarche bobbiana foi escrita, digamos, para refletir um momento “pós-fascista” da história italiana – contexto no qual os fascistas haviam sido derrotados na Segunda Guerra Mundial.
Seria esta a “nova pacificação”, sugerida por Tarcísio de Freitas e Aldo Rebelo, uma adequação política à realidade distópica do “Brasil-Ornitorrinco” – metáfora cunhada por Francisco de Oliveira (2003) para decifrar a nova era do financismo empreendedor e contraventor da Faria Lima.
O objetivo desse projeto pacificador é claro: salvar o bolsonarismo do ocaso político e preparar suas futuras investidas contra as instituições. Trata-se de amarrar na mesma pipa a democracia liberal e aqueles que desejam vê-la morta – e de morte bem matada. O que está em jogo é o próprio fim do regime democrático, como dizem os juristas, “esculpido” na Constituição de 1988. Como observou com precisão o jornalista Moisés Mendes, assistimos a uma anistia que reúne todo tipo de pacificador, “muitos dos quais com arma em punho”.
Neste interim, comparece no debate político um equívoco político grasso da assim chamada “ultraesquerda” nacional. Como tela e papel aceitam tudo, virou um lugar comum visando à construção de um senso comum de extroversão a boutade de salão de que o bolsonarismo é uma força antissistêmica e até revolucionária. Má intenção ou bobagem. O bolsonarismo, como todo fascismo, o histórico ou o novo, é totalmente integrado e funcional, portanto totalmente “sistêmico” ao modo de produção capitalista. Eles partem da premissa de que o modo de produção é eterno.
Como disse o doidão provocador Slavoj Zizek (2011), “o problema do nazismo é que não foi até o fim”, ou seja, não acaba, mas radicaliza o capitalismo até suas últimas consequências. Por outro lado, em Marx, ao contrário do fascismo, o capitalismo não é eterno e as formas políticas do Estado evoluem no compasso das lutas de classes, até desaparecer. Não foi esta a principal lição dos escritos políticos de Marx (2011), especialmente a obra-prima O 18 de Brumário de Luís Bonaparte?
Neste sentido profundo, o bolsonarismo é mais um desses novos fascismos internacionais. Por isso, a leitura de autores como Antonio Gramsci, especialmente a “caixa de ferramentas” dos Cadernos do cárcere e Palmiro Togliatti (1978) são bastantes úteis, menos para replicar as características do fascismo histórico no novo fascismo (o que seria precipitado), mas na compreensão do processo de crise política nas sociedades capitalistas em geral. Estes dois autores comunistas italianos foram arroz de festa na Europa na década de 1970 e em 1980 no Brasil.
Nesta época, o conceito de “sociedade civil” teve um curioso destino: serviu na Europa para tematizar o “Estado Ampliado” do Welfare State ou o fim transado da ditadura brasileira. Mas Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti mostram mais que isso: o Estado ampliado carrega sempre entocada na sociedade civil os germes do fascismo. O fascismo, novo ou histórico, é sempre uma espécie de “lado B”, uma força de reserva das classes dominantes, sempre pronta a entrar em ação em tempos de crise de representação e hegemonia (Gramsci, repetimos, chamava esse tipo de crise de “orgânica”).
Há uma novidade a pesquisar a respeito: na literatura clássica, sociedades de “capitalismo tardio”, como a Alemanha e a Itália (incluímos a obra de Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti nesta situação), e países periféricos como o Brasil, eram considerados propensos ao fascismo por não terem realizado sua revolução burguesa pela via clássica de derrocada violenta da ordem pretérita, feudal ou escravista.
Atualmente, com a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos, coloca-se em pauta a tese de que o fascismo é mais universal – por isso é um fenômeno social diverso – do que característico de uma formação histórica determinada. O próprio Umberto Eco (1998), de alguma maneira tangencia esta questão, quando menciona um “fascismo cotidiano”, uma tentação que acomete não apenas “sobre nós”, mas também “em nós”, ambientado na Europa liberal-democrática do pós-guerra. Tais movimentos não representam uma força “revolucionária”, mas exatamente o inverso: uma força contrarrevolucionária que recorre, sempre que a crise o exija, a métodos terroristas e insurrecionais.
Considerar o novo fascismo bolsonarista uma força antissistema conduz a uma perigosa consequência política prática: subestima-se o caráter catastrófico do fascismo. No entanto, parte da esquerda, tão afetada pelo niilismo pós-moderno quanto o próprio bolsonarismo, cai em uma armadilha simétrica. Ao se opor a qualquer regulação das redes sociais, essa corrente defende uma quimérica liberdade absoluta na internet. Essa postura desconsidera dois pontos fundamentais: a impossibilidade prática dessa liberdade e o fato de que a estrutura das plataformas digitais, desde sua arquitetura até seus algoritmos, é endogenamente corrompida.
Essa corrupção, nos termos que Políbio (1996) descreveu em sua História de Roma, vai além do viés econômico ou do lucro; é uma degeneração moral e política intrínseca, com raízes na natureza doentia da sociedade que as produziu. Ao ignorar essa dimensão política e cultural da tecnologia e focar exclusivamente em uma crítica econômica reducionista, ainda presa aos termos do Consenso de Washington de 1989, essa suposta esquerda descarrega sua crítica na política, mas aponta sua arma para a economia.
A crítica que Vladímir Lênin dirigiu ao economicismo da Segunda Internacional, que privilegiava a luta econômica em detrimento da luta política, aplica-se perfeitamente aqui. O agravante é que, hoje, ao abdicar da batalha política crucial pela regulação do espaço público digital, esses economicistas de ultraesquerda tornam-se, na prática, uma reserva moral indireta para o fascismo, que compreende e manipula instintivamente a natureza política dessas ferramentas. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio.
A anistia da política conservadora
Voltemos ao governador. O primeiro erro das palavras-chave do governador é um anacronismo grosseiro: Tarcísio de Freitas se refere a uma “anistia na colônia”. Ora, na época colonial não existia um Estado ou nação brasileiros. Esse anacronismo, no entanto, pode ser mais insidioso do que parece. Ele sugere uma visão de que a história do Brasil foi, desde o alvorecer, pacífica e “incruenta” (como definiu o historiador José Honório Rodrigues), ignorando o fato óbvio de que não há sociedade escravista sem violência extrema.
Qual foi mesmo a “anistia” ou graça concedida a Zumbi de Palmares, cujo quilombo foi alvo de genocídio de negros escravos no Brasil Colonial? Ainda na Colônia, basta lembrar que Felipe dos Santos, líder da revolta de Vila Rica em 1720, foi esquartejado; e que, mais tarde, na Inconfidência Mineira (1789), Tiradentes foi enforcado, esquartejado e teve a terra salgada onde seu sangue foi derramado.
Em seguida, o governador cita as revoltas do “período regencial”, sem nomear ou aprofundar especificamente nenhuma. Se tivesse se dedicado a autores clássicos como Caio Prado Jr. (1990), Nelson Werneck Sodré (1998), ou toda a vasta bibliografia recente, saberia que essas revoltas, de caráter popular e liberal, foram violentamente aniquiladas. Em uma contabilidade rápida, contabilizamos pelo menos dez processos de anistia no Império, cada um em sua circunstância.
Começam já em 1823, com Dom Pedro I concedendo anistia aos envolvidos nos conflitos da Independência; anistia aos que sobraram da Confederação do Equador, em Pernambuco (1824); Sabinada (Bahia, 1837-1838); Balaiada (1841), no Maranhão, onde Caxias obteve sua primeira vitória militar expressiva; Cabanagem (1840), com uma anistia parcial aos revoltosos remanescentes; Farrapos (1845), no Rio Grande do Sul, quando o exército gaúcho depõe as armas e integra-se no exército nacional; enfim, a Revolução Praieira em Pernambuco, em 1848, que coincide com as revoluções de 1848 na Europa, e fecha o ciclo das Revoltas Imperiais, e segundo as palavras felizes atribuídas a um autor anônimo, destacadas por Amaro Quintas (1977), cessam os gases revolucionários do “maligno vapor pernambucano”.
Pouco depois, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz (proibição do tráfico de escravos) e a Lei de Terras, o Império, enfim chega ao ápice o regime político, que vai durar até 1889.
No detalhamento sobre a natureza histórica dessas anistias, concedidas por Dom Pedro II e o Duque de Caxias, é crucial entender que essas anistias não foram simplesmente gestos de clemência ou reconciliação, mas sim instrumentos políticos de pacificação forçada. Elas eram concedidas apenas após a derrota militar esmagadora dos revoltosos, muitas vezes acompanhada de execuções sumárias e repressão brutal – como a decapitação de Frei Caneca (1825) e o massacre de populações indígenas e mestiças na Cabanagem (1836).
A anistia vinha, portanto, como um ato do Império para desmobilizar os últimos focos de resistência e reintegrar sob estrita vigilância os sobreviventes já esvaziados de poder. Longe de significar perdão, representava a consolidação da vitória do Estado central, impondo a ordem através de uma combinação de força violenta e uma concessão calculada que visava apagar a memória da contestação e restaurar a autoridade imperial. Era a coroação de uma política de “ordenar e pacificar” pela espada, nunca um reconhecimento da legitimidade das demandas populares.
Neste processo das revoltas imperiais, surge um ardil retórico em torno da palavra “pacificação”, que de vez em quando aparece na política brasileira, e hoje retorna na boca dos políticos bolsonaristas. Era o ápice do “projeto Saquarema” do Partido Conservador: consolidar um Estado nacional unificado pelas partes regionais de uma elite agrária e escravista, reafirmando seu domínio absoluto do poder moderador do Imperador. A Independência e a consolidação imperial da Casa de Bragança no Brasil foram obra de uma classe social – os proprietários rurais – e não de um movimento nacional-popular. Por isso, o Estado veio antes no Brasil e a nação ainda não se completou.
Como diziam ironicamente os cronistas diários do Império, “nada mais saquarema (isto é, conservador) do que um luzia (ou seja, liberal) no poder”. A referência remete ao “Tempo Saquarema” – o tempo de nossa revolução passiva do longo tempo brasileiro, um tempo social Saquarema e evoca o jogo de máscaras entre conservadores e liberais no sofisticado jogo político do Segundo Império de Dom Pedro II. Esse refrão ilustra o ritmo lento de transformação política de uma Revolução passiva à brasileira, ligando-se à grande conciliação conservadora que marcou a transição do turbulento período das Regências para as mudanças graduais do regime escravista durante o Segundo Reinado, suprimindo as tendências jacobinas emergentes.
O “princípio da tolerância” nas democracias contemporâneas
Na República, de todas as anistias, duas se destacam, a de 1945 e a de 1979, ambas pilares centrais de transições negociadas do autoritarismo para a democracia, e não como pretendem agora os bolsonaristas, um salvo-conduto para que os que tramaram contra a democracia continuem impunes e tramando abertamente o fim do regime constitucional erguido a duras penas.
A Anistia de 1945, decretada em abril de 1945 por Getúlio Vargas, em plena reta final da Segunda Guerra Mundial, da qual o Brasil participou ao lado das forças vitoriosas, permitiu a transição do regime de ditadura do Estado Novo para um novo regime liberal-constitucional. Havia uma tentativa de Getúlio Vargas continuar no poder, através do Movimento Queremista, “Constituinte com Vargas”, que unificava as representações das classes trabalhadoras em torno da possibilidade de que a república não fosse apenas “liberal”, mas também um Estado de Bem-Estar Social avançado.
O impacto da anistia de 1945 foi imediato e profundo. Das prisões, saíram centenas de presos políticos, incluindo nomes que se tornariam gigantes da política nacional nas décadas seguintes. Entre os mais emblemáticos estava Luiz Carlos Prestes, líder da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e do Partido Comunista do Brasil (PCB), que estava preso desde 1936. A anistia também permitiu o retorno de exilados e a legalização de partidos políticos que estavam na clandestinidade, sobretudo o PCB.
Contudo, Getúlio Vargas foi apeado do poder pelos militares em 29 de outubro de 1945, sob a liderança do Gal Góes Monteiro e com a participação do futuro presidente, Gal Eurico Gaspar Dutra. Ironia histórica: os mesmos personagens que haviam perpetrado o golpe do Estado Novo em 1937, em conluio com Vargas, agora se apresentavam como oposição ao seu governo e como arautos da “salvação da democracia”.
O pretexto para o movimento foi um suposto apoio ou aquiescência de Getúlio Vargas a um levante comunista em benefício próprio – uma nova “Intentona”, remetendo a novembro de 1935. Tal conspiração, porém, jamais existiu ou foi planejada. O objetivo real dos militares, pressionados pela oposição liberal da UDN, era evitar que Vargas manipulasse a transição política para se manter no poder e se tornar o presidente eleito da nova democracia de matiz trabalhista.
Sua queda foi rápida e não encontrou resistência, mas Getúlio Vargas não abandonou o cenário político. A anistia que concedeu permitiu a realização de eleições democráticas meses depois, nas quais foi eleito senador. Voltaria à presidência pelo voto popular em 1950, de onde saiu perpetrando o suicídio político que adiou o golpe de 1964.
A consequência mais direta da anistia foi a explosão da vida partidária e a reativação da disputa política legal. Com os líderes soltos e a possibilidade de organização, formaram-se os principais partidos que disputariam as eleições de dezembro daquele ano: a União Democrática Nacional (UDN), de oposição liberal a Getúlio Vargas; o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ambos criados por aliados de Getúlio para dar sustentação ao seu projeto político; e o próprio PCB, agora legalizado. A anistia, portanto, criou as condições mínimas para uma eleição presidencial disputada, consagrando vencedor o candidato do PSD, apoiado de última hora por Getúlio Vargas, em decisivo apoio, General Eurico Gaspar Dutra.
Já a anistia de 1979, que nos interessa mais diretamente pela evidente continuidade histórica, até hoje, pois no Brasil, ao contrário dos países vizinhos, não houve uma verdadeira justiça de transição. A anistia foi promulgada em 28 de agosto de 1979 pelo presidente João Figueiredo, a Lei nº 6.683, conhecida como Lei da Anistia, é frequentemente descrita como “ampla e geral”.
No entanto, uma análise mais aprofundada de seu texto e aplicação revela que ela distou muito de ser irrestrita, operando sob uma lógica de perdão seletivo que, na prática, criou um abismo entre o tratamento dado aos crimes da oposição e os crimes cometidos pelo Estado.
A principal contradição reside no artigo 1º, que concede anistia a todos quantos, no período entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram “crimes políticos ou conexos com estes”. A definição do que seria um “crime conexo” tornou-se o cerne da questão. Para os militantes da oposição que haviam participado da luta armada, seus delitos – como assalto a bancos, sequestros de autoridades (práticas então justificadas como “expropriação” para financiar a resistência) e até mesmo homicídios em confrontos – foram enquadrados como “conexos” aos crimes políticos e, portanto, perdoados.
Por outro lado, e aqui reside a seletividade da lei, os agentes da repressão – militares, policiais e integrantes dos serviços de inteligência – argumentaram, com sucesso, que os atos por eles cometidos, incluindo sequestros, torturas, assassinatos e ocultação de cadáveres (os chamados “crimes de sangue”), também eram “conexos” aos crimes políticos. Eles defendiam que essas ações, por mais violentas que fossem, foram realizadas no contexto da “guerra” contra a subversão e, portanto, estavam intrinsecamente ligadas à perseguição dos crimes políticos da oposição.
Dessa forma, a mesma lei que libertou presos políticos e permitiu o retorno dos exilados também se tornou o escudo jurídico que garantiu a impunidade para os crimes perpetrados pelo aparato estatal.
É crucial anotar que a lei não perdoou expressamente os “crimes de sangue”. Ela simplesmente não os nomeou, abrindo uma brecha interpretativa que foi aproveitada pelos setores militares. O Estado brasileiro, ao aceitar essa interpretação ampla de “conexão”, optou por não apurar, processar ou punir qualquer agente por violações de direitos humanos, consolidando um pacto de silêncio em torno da tortura e dos desaparecimentos forçados.
Portanto, a Anistia de 1979 não foi irrestrita. Foi um instrumento político que concedeu perdão de maneira assimétrica: absolveu os crimes da resistência, incluindo os violentos, mas, ao fazê-lo sob o conceito elástico de “conexão”, acabou por estender esse mesmo perdão aos crimes de Estado, impedindo que o país enfrentasse judicialmente o legado mais sombrio da ditadura militar. Essa ambiguidade calculada foi o preço da transição negociada, mas seu custo para a justiça e a memória nacional permanece até os dias atuais.
Sem dúvida, tanto 1945 quanto 1979 foram pactos políticos complexos, porém profundamente distintos da proposta de pacificação apresentada por Tarcísio. Esses acordos históricos foram necessários em seus contextos específicos, concebidos para enterrar regimes autoritários e inaugurar ordens democráticas. No entanto, tais instrumentos de transição não devem ser distorcidos para servir de escudo àqueles que, atuando dentro da democracia, trabalham explicitamente para sabotá-la.
Como anotou o filósofo liberal Karl Popper em seu “paradoxo da tolerância” – a famosa “nota” do capítulo sobre Platão de A sociedade aberta e seus inimigos (1994), há o risco de que agentes intolerantes queiram usar a própria liberdade oferecida pelo regime democrático para obter uma licença que lhes permita, no fim das contas, aniquilá-lo. Por isso, a democracia deve ser capaz de construir mecanismos de autodefesa contra aqueles que pretendem usar suas regras para destruí-la.
Essa lógica é o alicerce de dois livros bastante conhecidos de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt: Como as democracias morrem (2018) e Como salvar a democracia (2023). Embora os autores não citem Karl Popper explicitamente – uma vez que seu enfoque é mais histórico e político do que filosófico –, a tese central dessas obras espelha claramente o paradoxo por ele formulado.
A principal mensagem de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt é que, atualmente, as democracias raramente morrem por meio de golpes militares clássicos. Em vez disso, são corroídas por dentro, por líderes eleitos que abusam gradualmente de suas ferramentas de poder para minar instituições, deslegitimar adversários e concentrar autoridade. Esse cenário é exatamente a materialização do temor popperiano: os intolerantes não chegam ao poder através da força bruta, mas sim valendo-se das regras do jogo democrático – eleições, liberdade de expressão, disputa de narrativas – para, uma vez instalados no comando, desmontar a democracia que lhes deu acesso a ele.
O que os bolsonaristas defendem hoje, portanto, não é uma anistia nos moldes das transições democráticas de 1945 ou 1979, mas sim uma espécie de “contra-anistia”, urdida no laboratório de pós-verdades do novo fascismo contemporâneo: buscam, digamos assim, a “imunidade ativa” para continuar operando a tentativa de golpe e a desestabilização institucional, agora em novas condições. Seu objetivo não é a pacificação; é garantir o direito de persistir no ataque à ordem constitucional. Para eles, anistia não significa o fim do conflito – significa recarregar as armas para o próximo round.
O equívoco grave dos defensores dessa “anistia golpista” é utilizar as soluções pragmáticas de acerto entre elites, típicas das transições históricas – como as do Estado Novo no pós-guerra (1945) ou da ditadura militar (1979), que, bem ou mal, foram transições da ditadura para a democracia –, e instrumentalizar esses precedentes para obter um salvo-conduto retórico na forma de um indulto de natureza diametralmente oposta.
Algo parecido com o que fizeram, por exemplo, os golpistas de 1964, que se aproveitaram, quatro anos antes de perpetrar o golpe, do indulto concedido por Juscelino Kubitschek a militares envolvidos em dois levantes anteriores (Jacareacanga, 1956; Aragarças, 1959), concedido em 1960. Seu gesto mais significativo e controverso foi perdoar integralmente os oficiais da Aeronáutica envolvidos nessas rebeliões.
Estes levantes foram liderados por oficiais da FAB, como o major Haroldo Veloso e o tenente-coronel João Paulo Moreira Burnier. Eles se opunham à posse de JK em 1956 (vista como ilegítima por alguns setores) e, posteriormente, à suposta corrupção e descontrole na gestão das contas públicas de seu governo. Sai ano, entra ano, e continuamos escutando esses argumentos de algibeira, não?
Ao conceder o indulto, JK agiu movido por seu estilo conciliador e pragmático. Seu objetivo era pacificar as Forças Armadas, eliminar focos de tensão e apagar esse capítulo de insubordinação, acreditando que a clemência desarmaria a oposição militar e fortaleceria a ordem constitucional.
Contudo, na prática, o resultado foi paradoxal. O perdão não desmobilizou a oposição radical; pelo contrário, a fortaleceu. Os oficiais indultados retornaram à ativa sem constrangimentos e, sentindo-se impunes e vindicados, tornaram-se núcleos de conspiração ativa dentro dos quartéis. Eles interpretaram a clemência de JK não como um gesto de grandeza, mas como uma fraqueza do poder civil.
Longe de pacificar a política e consolidar a democracia, aquele ato revelou-se um erro catastrófico: ao não exigir uma ruptura clara com a insubordinação, nutriu as próprias forças que viriam a derrubar o regime democrático em 1º de abril de 1964. A história mostra que impunidade para golpistas é combustível para novos golpes.
Em seu instigante livro recém-lançado, Utopia autoritária brasileira, o historiador Carlos Fico analisa a mistificação em torno da transição do Poder Moderador do Império para os militares no período republicano. Hoje, contudo, testemunhamos uma guinada ainda mais preocupante: os golpistas de 2025 pretendem, metaforicamente, exterritorializar esse poder moderador, transferindo-o simbolicamente para o presidente dos Estados Unidos.
Nesse cenário, a capacidade de arbitrar os conflitos internos deixaria de ser um atributo das Forças Armadas brasileiras e passaria a ser exercida por um poder externo. Caberia aos EUA, então, mediar alianças e garantir a preservação dos espaços das classes econômicas dominantes locais – que, em troca, abririam mão de sua autonomia e da capacidade de exercer domínio hegemônico dentro do país.
Esse poder rígido e centralizado em mãos estrangeiras apresentar-se-ia como a via necessária para concretizar uma transição neocolonial. Tal projeto exige um aparato de poder compacto e granítico, capaz de submeter economia e política a uma lógica totalizante. No entanto, a imposição de um controle tão brutal só poderá ser sustentada por meio de um novo fascismo – uma forma de poder despudorado, sem mediações institucionais e que recorre a novas modalidades de domínio cultural e ideológico.
*Jaldes Meneses é professor titular do Departamento de História da UFPB.
Referências
BEVINS, Vincent. A década da revolução perdida. São Paulo: Boitempo, 2025.
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
ECO, Umberto. Cinco escritos morais. Rio de Janeiro: Record, 1998.
FICO, Carlos. Utopia autoritária brasileira. São Paulo: Crítica, 2025.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999-2002.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
______. Como salvar a democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.
MARX, Karl. O 18 de brumário de Luís Bonaparte. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista / O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.
POLÍBIO. História. Brasília: UnB, 1996.
PRADO JR., Caio. Evolução política do Brasil: colônia e império. São Paulo: Brasiliense, 1999.
POPPER, Karl R. A sociedade aberta e os seus inimigos. v. 1: O sortilégio de Platão. Lisboa: Edições 70, 1994.
SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. São Paulo: Unesp, 2017.
SODRÉ, Nelson Werneck. Panorama do Segundo Império. 2. ed. Rio de Janeiro: Graphia, 1998.
QUINTAS, Amaro. O sentido social da Revolução Praieira. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1977.
ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA