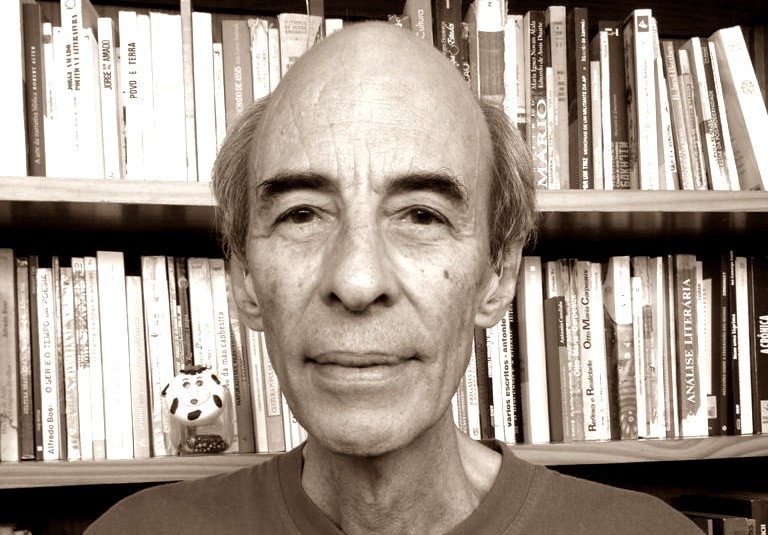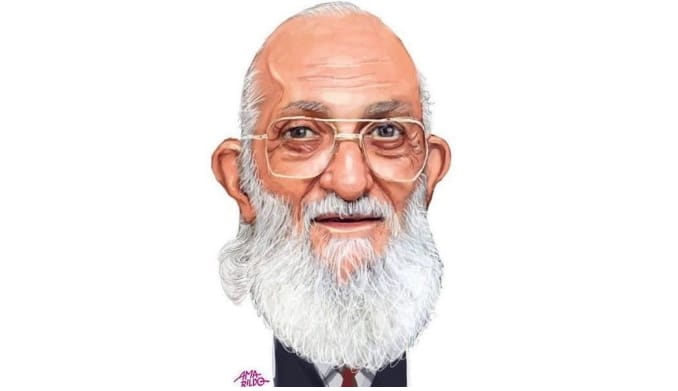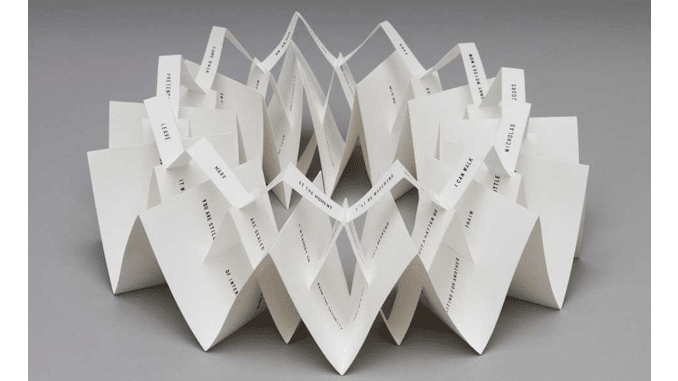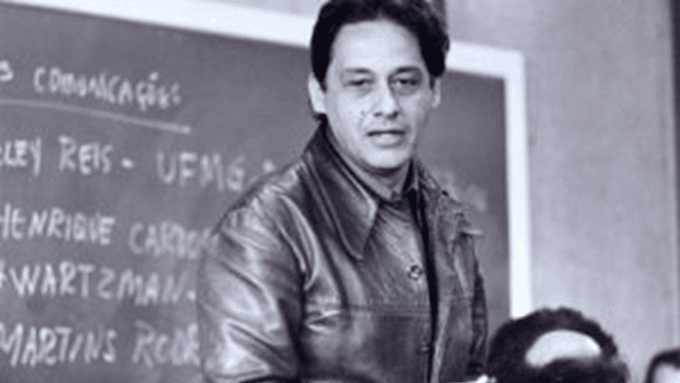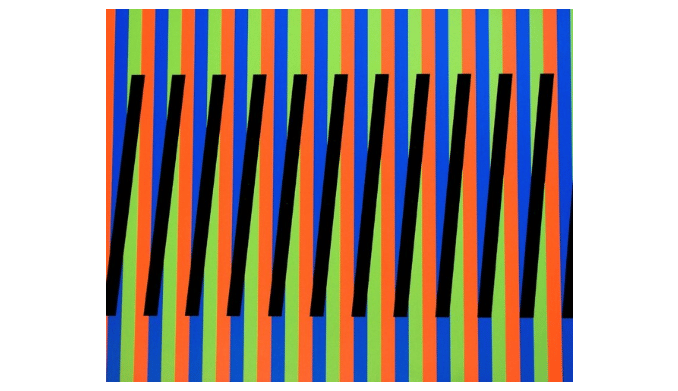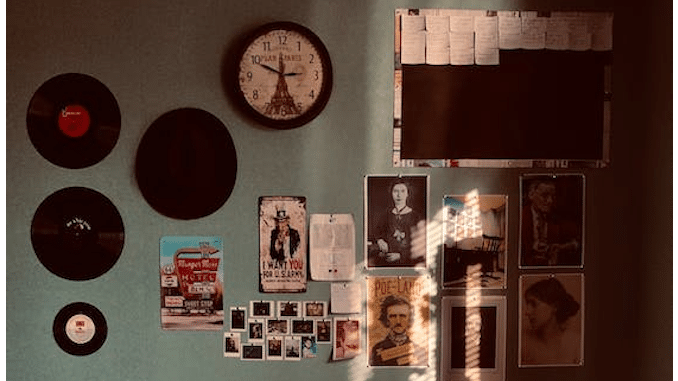Por JOÃO DOS REIS SILVA JÚNIOR*
A nova gestão do Ministério da Educação opera na reparação, mas não na ruptura: restaura o aparelho público e o pacto federativo sem confrontar o núcleo financeiro que conserva a desigualdade
Os períodos e as funções sociais do Estado, da escola e da produção científica no Brasil
A história do Estado brasileiro é a história de sua conciliação permanente. Desde o fim do império, a república nasceu para administrar a desigualdade e não para superá-la. O Estado assumiu a forma contábil que o autor João dos Reis descreve como estrutura moral da dependência, isto é, a capacidade de equilibrar o desequilíbrio e dar aparência de virtude à obediência. O Estado é mediador entre a dominação econômica e a legitimação moral da subordinação. Sua função essencial sempre foi conservar a ordem que o funda.
Durante a Primeira República, a conciliação entre o poder oligárquico e o positivismo técnico organizou a vida política. A escola pública, inspirada pelo moralismo de Benjamin Constant, foi convertida em instrumento de civismo e submissão. A educação republicana ensinava a amar a hierarquia e a aceitar o Estado como mediador natural do progresso. Essa pedagogia da obediência estruturou o que Dermeval Saviani denomina de “ideologia da conciliação”, pela qual a escola forma cidadãos dóceis e não sujeitos críticos (Saviani, 2007).
No período varguista, o Estado ampliou sua função social, transformando a contabilidade fiscal em instrumento de integração nacional. Vargas instituiu a administração racional e o corporativismo trabalhista, convertendo o conflito de classes em pacto de colaboração. A escola assumiu o papel de formar o trabalhador disciplinado e o técnico eficiente. A universidade, criada em 1934, foi apresentada como símbolo da modernização, mas nasceu dependente do Estado e subordinada à moral produtivista. A produção científica passou a servir como legitimação técnica da autoridade. O saber tornou-se parte do mecanismo de controle.
Após 1945, o país viveu um breve período de liberalização. A universidade expandiu-se, e o Estado buscou formular políticas de desenvolvimento científico articuladas com o projeto nacional-desenvolvimentista. O ensino superior converteu-se em espaço de disputa simbólica.
A criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 1951 pretendia integrar ciência e Estado, mas o resultado foi a institucionalização de uma dependência intelectual. Como observou Florestan Fernandes (1975), o Estado republicano formou elites científicas que reproduziam o pensamento europeu como modelo e a periferia como tema.
O golpe de 1964 aprofundou o caráter dual da dependência. A ditadura transformou a educação em instrumento de controle ideológico e técnico. O ensino médio foi profissionalizado para abastecer o mercado, e a universidade foi reorganizada segundo critérios empresariais. A função social do Estado voltou-se à segurança e à eficiência. A ciência passou a operar sob o signo da utilidade e da obediência, e o pensamento crítico foi marginalizado. A produção científica, mesmo expandida, tornou-se serva da racionalidade econômica e da cooperação internacional subordinada.
A redemocratização de 1988 prometeu restituir à educação e à ciência o papel emancipador. No entanto, o Estado reconstruiu-se dentro da lógica neoliberal. As reformas dos anos 1990 submeteram o orçamento público à tutela do sistema financeiro.
O Estado contábil descrito por Francisco de Oliveira (1972) reapareceu com força: o governo aprendeu a contabilizar a desigualdade como responsabilidade fiscal. A escola, em vez de libertar, passou a avaliar, medir e ranquear. A universidade, em vez de pensar, passou a competir. A produção científica foi quantificada em índices de produtividade e convertida em capital simbólico.
Na virada do século, os governos progressistas tentaram romper parcialmente esse padrão. A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a expansão dos institutos federais e o Programa Universidade para Todos ampliaram o acesso, mas a dependência estrutural permaneceu. Como advertiu Ruy Mauro Marini (1973), a subordinação externa é também interna: o Estado dependente transforma a inclusão em mecanismo de estabilização. O povo é incorporado como variável fiscal e a educação é tratada como instrumento de gestão da desigualdade.
A função social do Estado, da escola e da produção científica, portanto, manteve-se estável em sua essência. O Estado administra o desequilíbrio, a escola o legitima e a ciência o racionaliza. A cada período, muda o discurso, mas não a estrutura. O Estado imperial conciliava o trono e o trabalho. O Estado republicano conciliou capital e civismo. O Estado neoliberal concilia austeridade e cidadania. Em todos os casos, o Estado afirma-se como mediador da dependência.
A universidade pública constitui o espelho dessa contradição. É simultaneamente espaço de crítica e aparelho de reprodução. As reformas universitárias dos anos 2000 ampliaram o número de matrículas e a diversidade do corpo discente, mas também consolidaram a subordinação ao capital cognitivo global. O conhecimento é avaliado segundo parâmetros de produtividade importados. O pesquisador converte-se em contador de indicadores. A função crítica é substituída pela gestão do desempenho. O saber, que poderia emancipar, passa a justificar a desigualdade.
O “dual da dependência” permite compreender essa dinâmica. O Estado brasileiro é moderno na forma e arcaico na substância. A escola e a ciência operam como braços morais e técnicos de um sistema que equilibra contradições sem resolvê-las. A educação, como ensina Saviani (2012), é simultaneamente determinada e determinante: reproduz as condições sociais existentes e contém a possibilidade de superá-las. Mas no Brasil a determinação prevalece sobre a possibilidade. O ensino é administrado para conservar e não para libertar.
A função social do Estado, da escola e da ciência é, portanto, a de garantir a continuidade da dependência sob a aparência da modernização. Cada reforma educacional é apresentada como avanço, mas traduz-se em nova forma de subordinação. A contabilidade fiscal substitui o planejamento social, e a pedagogia da obediência substitui a pedagogia da consciência.
A ciência é reduzida a tecnologia e a universidade a empresa. Assim, o país entra no século XXI com um Estado calculista, uma escola disciplinar e uma ciência mercantil.
O que foi feito por Camilo Santana e os limites de seu projeto
O Ministério da Educação sob Camilo Santana, iniciado em 2023, surge no cenário de escombros deixado por um ciclo de descontinuidade e desmonte. O novo ministro herda um sistema exaurido por cortes orçamentários, evasão docente e abandono das políticas estruturantes.
Sua missão é reconstruir a capacidade administrativa e simbólica do Estado educador. A estratégia adota o discurso da reconstrução e da coordenação federativa, expressa na sanção da Lei Complementar nº 220 de 2025, que institui o Sistema Nacional de Educação.
A medida pretende organizar a cooperação entre União, estados e municípios, corrigindo a fragmentação histórica das políticas e criando mecanismos de planejamento articulado. Trata-se de um avanço relevante, pois reintegra a ideia de planejamento público num Estado que, desde as reformas fiscais dos anos 1990, se habituara a subordinar o social à planilha financeira. A criação do Sistema Nacional é um gesto político que busca restituir à educação o estatuto de política de Estado e não de governo.
Ao mesmo tempo, o ministério reativou programas estruturantes. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada busca assegurar alfabetização plena até o segundo ano do ensino fundamental. O Programa Escola em Tempo Integral propõe ampliar a jornada e democratizar o tempo pedagógico.
O Pé-de-Meia institui poupança estudantil para garantir permanência. Em conjunto, essas iniciativas simbolizam o esforço de reconstruir a confiança social na educação pública e restaurar o elo entre escola e cidadania.
Essas políticas, contudo, operam dentro dos limites do Estado contábil. O orçamento do Ministério permanece vinculado à lógica do arcabouço fiscal, e a despesa social continua subordinada ao equilíbrio das contas públicas. O investimento em educação básica e superior é reclassificado como gasto, e não como direito. A racionalidade da austeridade impede que as políticas se convertam em transformação estrutural. O Estado, como sempre, contabiliza a desigualdade.
Camilo Santana adota o perfil do gestor republicano conciliador. Sua atuação é prudente, técnica e moralmente orientada. Retoma o diálogo federativo, reaproxima o ministério dos movimentos educacionais e recoloca a pauta da valorização docente. Mas essa reconstrução ocorre sem enfrentamento com o núcleo financeiro do Estado. A dependência estrutural do capital impede que o MEC avance para além da recomposição administrativa. O ministro opera no registro da reparação e não da ruptura.
O alcance de sua política pode ser medido por quatro eixos. O primeiro é o da “reconstrução institucional”, representada pelo Sistema Nacional de Educação e pela recomposição das secretarias finalísticas do MEC. O segundo é o da “reorganização federativa”, que restabelece a cooperação entre os entes e reativa conselhos e fóruns de participação. O terceiro é o da “reparação social”, expresso nos programas de tempo integral e de poupança estudantil. O quarto é o da “reintegração simbólica”, pela qual o ministério volta a falar em projeto nacional.
Esses avanços são reais, mas limitados. A dependência fiscal, a burocracia tecnocrática e o controle ideológico do mercado restringem a autonomia política. A política educacional continua dependente da vontade do Congresso e do humor das agências de rating. A universidade pública permanece fragilizada, com orçamento contingenciado e fuga de cérebros. A pesquisa científica segue condicionada a editais que privilegiam inovação de mercado e não reflexão crítica. O sistema educacional, mesmo reconstruído, opera como aparelho de normalização.
Camilo Santana enfrenta, portanto, o paradoxo do reformador moral. Como Rui Barbosa no início da república, ele acredita que o cálculo e a prudência podem regenerar a ordem. Mas o Estado brasileiro não se reforma por dentro de sua contabilidade. A pedagogia da gratidão reaparece. Professores celebram reajustes mínimos, gestores comemoram recomposições orçamentárias parciais, e a sociedade agradece ao Estado por fazer o mínimo. O gesto da gratidão, analisado por João dos Reis, é a moral da dependência: agradecer o castigo e transformar o direito em favor.
Os limites de seu projeto são os limites do próprio Estado. A função social do MEC, sob Camilo Santana, é restaurar o funcionamento do sistema sem alterar o fundamento da desigualdade. O máximo que pode atingir é a reconstrução do aparelho público, a recomposição do pacto federativo e a revalorização da educação como valor simbólico. O mínimo que não pode ultrapassar é o domínio do capital financeiro sobre o fundo público. A dualidade entre austeridade e inclusão define seu espaço de ação.
O Ministério da Educação volta a ter presença institucional e prestígio político. Mas a escola continua sendo o espaço em que o pobre aprende a agradecer a oportunidade de permanecer pobre. A universidade mantém a lógica da excelência meritocrática, e a produção científica segue medindo sua relevância pela adesão a parâmetros externos. O pensamento crítico resiste, mas é marginal. A pedagogia da obediência sobrevive travestida de inovação.
O projeto de Camilo Santana representa o esforço de reconstruir sem romper, de corrigir sem reinventar. Seu mérito é reestabelecer o sentido público da educação num Estado moralmente esgotado. Seu limite é o mesmo de todos os reformadores republicanos: governar dentro da dependência. O Brasil continua conciliando contrários, e o MEC permanece o espelho dessa conciliação.
Em síntese, o Ministério da Educação alcança o máximo possível dentro do impossível histórico que o sustenta. Reconstrói instituições, amplia programas e devolve dignidade ao discurso estatal. Mas não altera a essência da dependência. O Estado brasileiro, moderno em aparência e colonial em substância, continua a converter a obediência em política pública. A escola, a ciência e o pensamento seguem subordinados à moral contábil da conciliação.
Camilo Santana representa, assim, o limite do possível num país em que o impossível ainda é a emancipação. Sua política é o gesto honesto de quem tenta governar sem renunciar à esperança. Mas a esperança, quando administrada pela planilha, transforma-se em estatística. A reconstrução é real, mas parcial. O Brasil permanece fiel à sua tradição de agradecer o pouco que lhe é negado e de contabilizar a desigualdade como virtude.
*João dos Reis Silva Júnior é professor titular do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Autor, entre outros livros, de Educação, sociedade de classes e reformas universitárias (Autores Associados) [https://amzn.to/4fLXTKP]
Referências
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Ática, 1975.
MARINI, Ruy Mauro. Dialética da dependência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1973.
OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista. São Paulo: Boitempo, 1972.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. A democracia impedida: o Brasil no século XXI. Rio de Janeiro: FGV, 2017.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 2012.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A