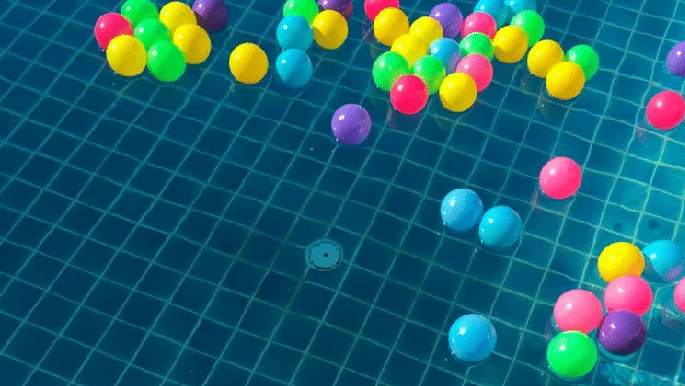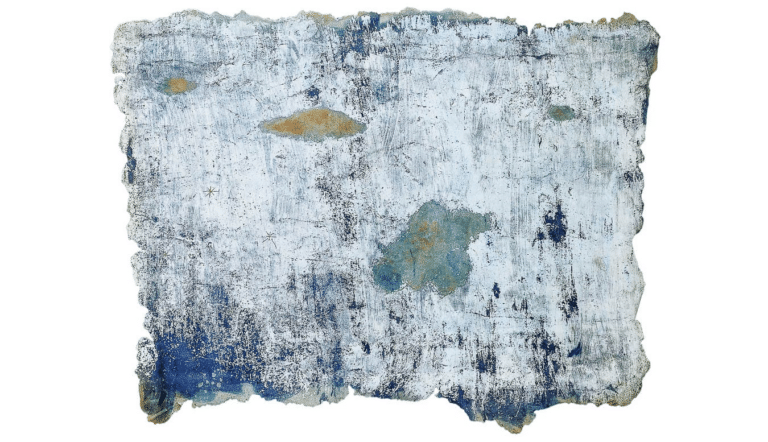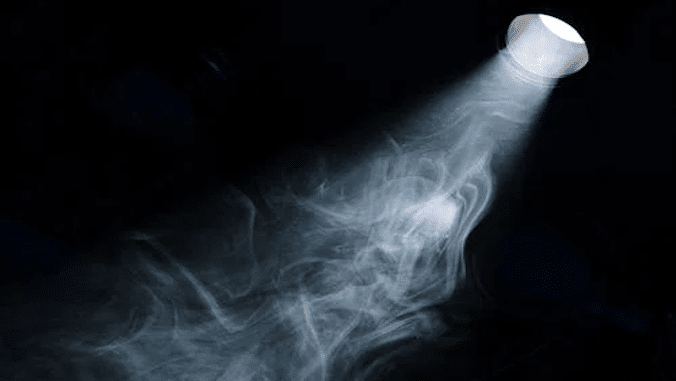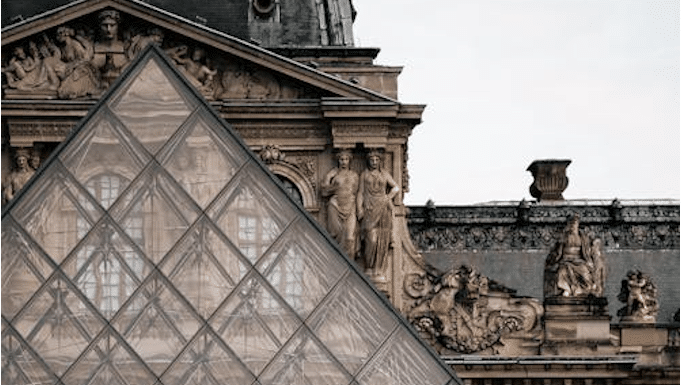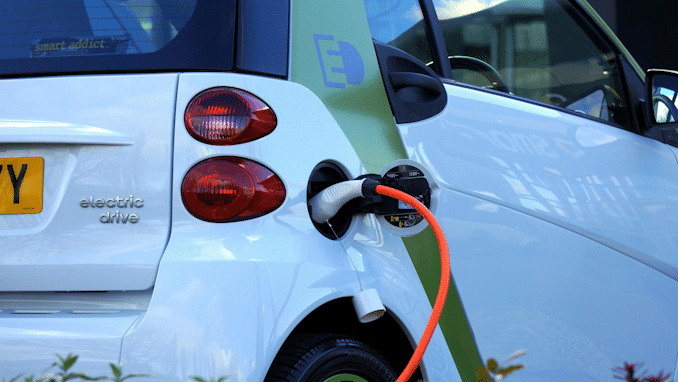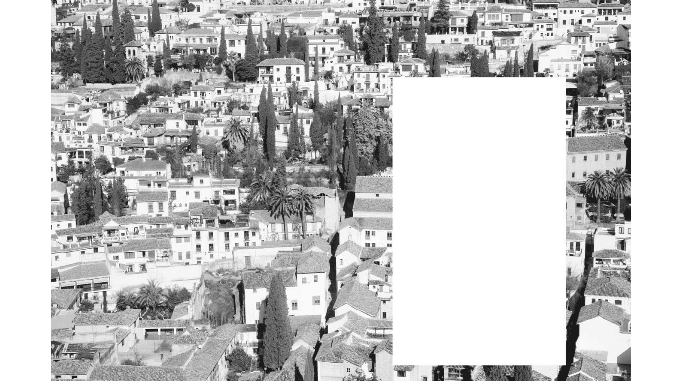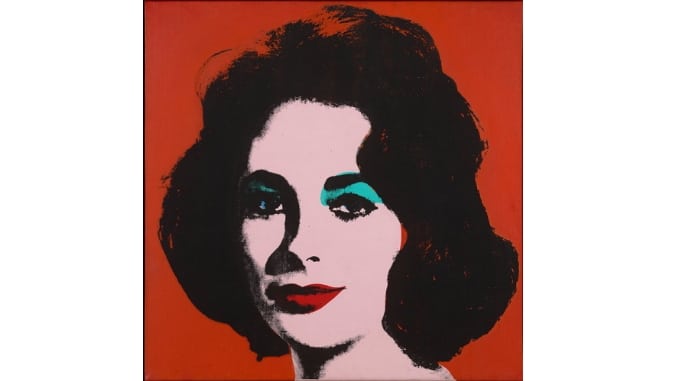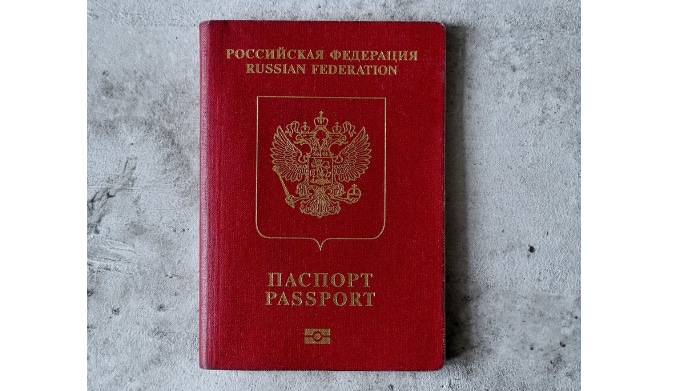Por EUGÊNIO BUCCI*
O prisma do entretenimento, que redefiniu a forma social da democracia, é a nossa doença infantil, tão risível quanto mortífera
Por que eleições livres passaram a sufragar candidatos contrários às eleições livres? O que levou regimes baseados em direitos a consagrar lideranças que sabotam direitos?
De poucos anos para cá, essas indagações não saem da ordem do dia. Em 2018, dois professores de Harvard, Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, lançaram um livro que interpelava o leitor: Como as democracias morrem? (Companhia das Letras). Analisando um período esquisito, com Donald Trump à frente de fake news e de arroubos autoritários, a dupla de autores flagrou o Estado democrático de direito carcomido por dentro. O perigo não viria de fora, mas de dentro.
Naquele mesmo ano, 2018, o Brasil elegeu para o Palácio do Alvorada um sujeito que elogiava torturadores, insultava jornalistas e desacreditava a ciência. Em 2019, veio uma coletânea também em forma de interrogação: Democracia em risco? (Companhia das Letras), assinada por mais de duas dezenas de nomes. Também em 2019, eu mesmo perpetrei outra pergunta: Existe democracia sem verdade factual? (Estação das Letras e Cores). Quatro anos depois, em dezembro de 2023, a revista The Economist retomou a inquietação num artigo extenso: “É possível uma democracia saudável que não tenha base nos fatos?” (“Can you have a healthy democracy without a common set of facts?”). Agora, acaba de sair da gráfica mais um questionamento: Por que a democracia brasileira não morreu?, de Marcus André Melo e Carolos Pereira (Companhia das Letras).
Achamos as respostas? Talvez não, mas seguimos tentando. Em uma obra recente, Democracia fake (Vestígio), Sergei Guriev e Daniel Treisman mostram que os novos regimes autocráticos aprenderam a fingir que são democráticos. Em Biografia do abismo (Harper Collins), de 2023, Thomas Traumann e Felipe Nunes mostram que os extremismos cresceram, desertificaram o centro, acabaram com a razoabilidade e geraram a polarização – que, para muita gente, faz eclodir a violência política.
Todos esses estudos merecem ser lidos. Têm parte, ao menos parte, da razão. Nenhum deles, porém, mergulha na causa menos aparente – e talvez a mais profunda – do mal-estar da democracia. Essa causa reside na comunicação social.
Eu poderia sintetizá-la da seguinte forma: o debate público dos nossos dias não se resolve no discurso jornalístico, no registro factual ou na retórica do argumento crítico, mas na linguagem do entretenimento, que se tornou o padrão hegemônico no tal mercado das ideias.
Certa vez, Régis Debray afirmou que somos a civilização da imagem. Também ele tinha razão, ou parte da razão: sim, nós somos a civilização da imagem, mas não de qualquer imagem; somos a civilização da imagem fabricada para nos entreter, até nos matar de prazer. Somos a civilização que olha para a política pelas lentes do entretenimento. Olhamos – e consumimos – tudo pelas lentes do entretenimento. Em outras palavras, somos uma civilização infantilizada.
As plateias saboreiam a política da mesma maneira que sorvem um filme de terror ou um game de guerra, da mesma maneira que varam a noite em raves e se viciam em redes sociais. As campanhas eleitorais são eficientes quando excitam os sentidos do povo – e o povo responde positivamente quando lota passeatas-happening e distribui memes no grupo da família. É como diversão pública que o poder requisita apoio – e consegue.
A linguagem do entretenimento atenua as distinções entre fato e ficção (daí o desprestígio crescente da verdade factual). Na mesma medida, ao incidir na intermediação entre Estado e sociedade, dilui a fronteira que separa a política do fanatismo. Visto por esse ângulo, até mesmo o fenômeno da polarização ganha mais nitidez: seu combustível não tem nada a ver com qualquer lastro de objetividade, mas com as oratórias passionais, que entretêm, seduzem e incendiam corações.
Isto posto, perguntemos de novo: por que decisões democráticas elegem o oposto da democracia? Muito simples: porque seu mediador preferencial é o entretenimento. O desejo de se fartar como se não houvesse amanhã, ao estilo de uma noitada em Las Vegas, vale mais do que a abstração chata a que se dava o nome de bem comum. As cenas performáticas convencem mais do que centenas de programas de governo; as narrativas sanguinolentas valem mais do que mil imagens, as mesmas que já valiam mais do que um milhão de palavras.
O público, rebaixado à condição de criança mimada, contempla como espectador a farsa de que é protagonista. A política vai perdendo sua essência de construção coletiva (que tem a ver com trabalho) e vai ganhando contornos de atração de circo (que tem a ver com consumo de emoções). Não há mais militantes, só propagandistas de rede social.
Em 1920, Vladímir Lênin diagnosticou no esquerdismo a doença infantil do comunismo. Já não importa se ele estava certo ou errado; o esquerdismo e o comunismo entraram em extinção. Agora, o prisma do entretenimento, que redefiniu a forma social da democracia, é a nossa doença infantil, tão risível quanto mortífera.
*Eugênio Bucci é professor titular na Escola de Comunicações e Artes da USP. Autor, entre outros livros, de Incerteza, um ensaio: como pensamos a ideia que nos desorienta (e oriente o mundo digital) (Autêntica). [https://amzn.to/3SytDKl]
Publicado originalmente no jornal O Estado de S. Paulo.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA