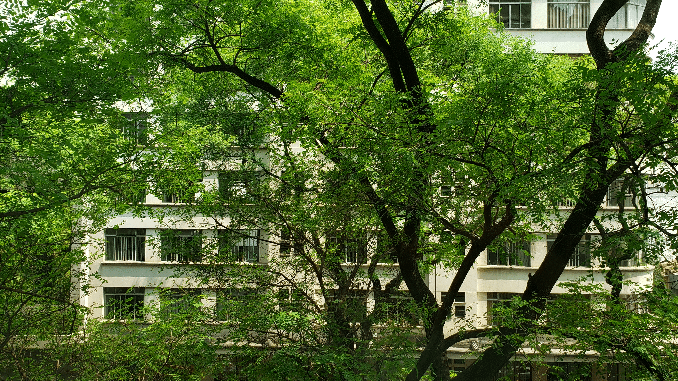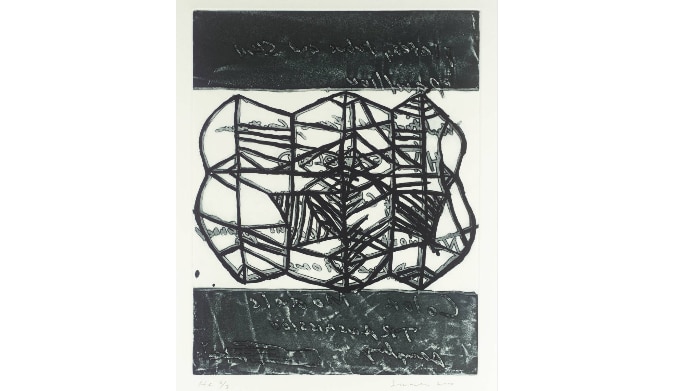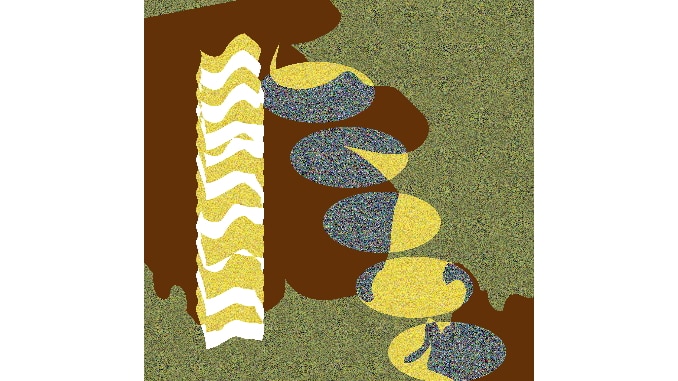Por DANI RUDÁ*
Cuidar é produzir acontecimentos situados de bem-estar, ancorando o desejo no presente para que o futuro possa, livremente, advir
Vínculo, alteridade radical e os eixos possíveis da relação de cuidado
No primeiro ensaio desta série, situamos a tensão estrutural entre a instituição (voltada à governabilidade e ao dado) e o serviço (voltado ao cuidado e ao impasse). Mas como essa disputa se materializa no encontro clínico cotidiano? Se a distinção entre instituição e serviço situa a condição política do cuidado, é necessário agora voltar-se para o núcleo relacional onde essa distinção se encarna: o vínculo.
Não como técnica auxiliar, não como recurso de adesão, nem como ferramenta de gestão de conduta, mas como trabalho ético situado, atravessado por assimetria, transferência e risco. Falar de vínculo, nesse registro, é assumir que ele nunca é neutro: ele organiza posições, produz efeitos e pode tanto sustentar a alteridade quanto capturá-la.
No cotidiano dos serviços em cuidado, o vínculo costuma ser tratado como solução pragmática. Fala-se em “criar vínculo” para garantir adesão, reduzir conflitos ou facilitar encaminhamentos. Essa linguagem aparentemente funcional opera uma redução silenciosa: transforma o vínculo em meio para um fim previamente definido.
O cuidado deixa de ser espaço de encontro e passa a ser tecnologia de condução. O usuário é acolhido enquanto responde ao esperado; quando não responde, o vínculo é lido como frágil ou malsucedido. O problema não está na dificuldade do vínculo, mas na forma como ele é instrumentalizado.
A concepção de vínculo que se sustenta aqui caminha em direção oposta. Vínculo não como promessa de solução, mas como oferta de presença diante da falta. O agente de cuidado não promete resolver aquilo que não está ao seu alcance estrutural. Ele sustenta um campo relacional onde o outro pode errar, repetir, recuar ou permanecer – sem que isso implique expulsão, moralização ou abandono. Essa sustentação não equivale a permissividade nem a indiferença; ela exige trabalho constante de limite, nomeação e manejo da transferência.
É necessário, portanto, precisar o que se nomeia aqui como vínculo. Vínculo não se confunde com relação, nem com harmonia, proximidade, concordância ou afeto positivo. O vínculo se estabelece quando o outro consegue perceber no agente de cuidado um lugar de acolhimento que não se rompe diante do erro, da recaída, da ambivalência ou da recusa.
Ele não depende da forma da relação – que pode ser atravessada por hostilidade, desconfiança, silêncio ou gratidão excessiva –, mas da experiência, por parte do usuário, de que ali existe um espaço onde ele pode se apresentar sem ser imediatamente julgado, corrigido ou abandonado. O vínculo acontece quando, mesmo por meio de registros relacionais difíceis ou idealizantes, o outro reconhece no agente uma presença capaz de sustentar a falta sem moralização e sem tutela.
O vínculo no cuidado institucional, portanto, não se organiza a partir de um único regime afetivo. Ele se estrutura, de modo recorrente, em dois eixos possíveis, igualmente frequentes e igualmente estruturais, cuja predominância varia conforme o tipo de serviço, a população atendida, o território e a forma de abordagem.
Em alguns contextos, o vínculo se apresenta pela via da hostilidade, da cobrança, da raiva e do confronto direto – expressões compreensíveis da frustração diante de uma falta estrutural reiterada. Em outros, o vínculo se organiza pelo polo oposto: pela gratidão excessiva, pela adesão irrestrita, pela passividade, pela idealização do agente de cuidado e pela vivência do serviço como favor, não como direito. Nenhum desses eixos constitui exceção; ambos são formas recorrentes de organização da relação de cuidado.
Em serviços voltados a pessoas com deficiência é frequente que a transferência se organize menos pela agressividade e mais pela dependência afetiva. O agente de cuidado é investido como referência central: alguém que orienta, decide, sustenta e autoriza. O usuário não confronta, não cobra, não questiona; ao contrário, aceita tudo, agradece excessivamente, evita conflito e, muitas vezes, abdica da própria autonomia. Essa forma de vínculo, socialmente valorizada e frequentemente confundida com “boa relação”, carrega riscos éticos tão significativos quanto a hostilidade aberta.
Nesses casos, a transferência não se manifesta como ataque, mas como fusão. A demanda não é por objeto material imediato, mas por presença constante, direção, reconhecimento e garantia afetiva. Para o usuário, esse movimento é legítimo: trata-se de uma tentativa de reconstrução de laços em contextos de perda, dependência, precariedade ou abandono.
Para o agente de cuidado, porém, aceitar plenamente essa transferência significa deslizar do cuidado para a tutela. O risco não está no afeto, mas na incorporação do lugar que não lhe cabe – o lugar de mãe, pai, família, referência total ou substituto da vida que precisa ser reconstruída fora do serviço.
No outro eixo, mais marcado pela hostilidade, o agente é convocado a ocupar o lugar de alvo da frustração. O usuário demanda objeto – casa, comida, renda, proteção, solução – e recebe presença. Essa assimetria produz raiva, acusação e conflito. Aqui, o risco não é a fusão, mas a devolução da violência. O agente, exausto e sem mediação, pode responder com endurecimento, moralização ou retraimento técnico. Em ambos os casos – na agressividade ou na adesão excessiva – o núcleo ético do trabalho é o mesmo.
Esse núcleo pode ser formulado com precisão: não encarnar a falta. O agente de cuidado não é o objeto perdido, nem a solução estrutural que falhou, nem o vínculo originário ausente. Ele sustenta presença sem substituição. Isso implica frustrar expectativas agressivas e frustrar expectativas afetuosas com o mesmo rigor ético. Sustentar o vínculo não é agradar nem conter; é manter a relação viva sem capturá-la, reconhecendo que o cuidado só permanece ético quando não se transforma em dependência – nem por conflito, nem por gratidão.
No interior das políticas públicas de cuidado, a lógica que atravessa a relação com o usuário não se esgota na ponta. Ela se reproduz internamente na própria organização do trabalho, estruturando as relações entre educadores, técnicos e coordenação.
O educador, pressionado por demandas imediatas e pela urgência do sofrimento, responde ao usuário sob cobrança constante; o técnico, por sua vez, é atravessado pela exigência de dar conta do que não se resolve na ponta; a coordenação, pressionada por metas, números e respostas institucionais, devolve essa tensão sob a forma de controle e responsabilização. Assim, a violência estrutural não desaparece ao subir na hierarquia: ela apenas muda de lugar. Essa dinâmica produz efeitos diretos sobre o vínculo, favorecendo práticas de tutela, endurecimento ou desimplicação defensiva.
Diante desse cenário, sustentar o cuidado exige uma posição ética específica: a suspensão moral ativa. O cuidado não opera a partir do juízo moral, religioso ou institucional sobre o outro, e sim a partir da sustentação da relação apesar do impasse e da impossibilidade de resolução plena. Isso demanda o reconhecimento da alteridade radical como fundamento do cuidado.
Alteridade radical não é empatia genérica, mas aceitação de que o outro não é extensão do meu desejo, nem destinatário do meu projeto de reparação, nem alvo da minha própria frustração profissional. O agente de cuidado pode apontar sentidos, nomear limites e ofertar possibilidades, mas não dirige a vida do outro. O vínculo sustenta a presença; ele não empurra. Essa recusa da direção é uma das tarefas mais difíceis do cuidado, porque frustra tanto o desejo de controle quanto o desejo de reconhecimento.
Sustentar o vínculo, nesses termos, implica também um manejo rigoroso da transferência. A transferência é inevitável. O erro não está em reconhecê-la, mas em encarná-la ou recusá-la abruptamente. Sustentar a transferência sem ocupá-la exige do agente de cuidado uma posição firme e, ao mesmo tempo, exposta: suportar o ódio sem devolver ódio, suportar a idealização sem habitá-la, suportar a proximidade sem confundi-la com o pessoal. Essa posição não oferece recompensa imediata; ao contrário, costuma produzir solidão e desgaste quando não há sustentação coletiva.
Por isso, no serviço o vínculo não pode ser tratado como atributo individual ou talento pessoal. Ele é trabalho, e trabalho exige condições e suporte. Embora o vínculo se materialize no encontro entre trabalhador e usuário, sua sustentação não é responsabilidade exclusiva da ponta. Ela depende de toda a cadeia institucional – coordenação, gestão e formulação de políticas – que organiza tempos, metas, condições e margens de decisão do cuidado.
Quando o vínculo é sustentado sem tutela, sem promessa e sem captura, ele pode produzir algo fundamental: a possibilidade de que o outro reconstrua vínculos fora do serviço. Quando isso acontece, o afastamento não é abandono, mas passagem. O vínculo cumpre sua função quando se torna dispensável — e reconhecer isso exige que o agente não esteja investido no outro como garantia de valor próprio.
Desejo, ato e sustentação: o cuidado como acontecimento e aposta no devir
Se o vínculo, tal como desenhado até aqui, não pode se apoiar na promessa de resolução da falta nem na direção da vida do outro, impõe-se uma pergunta decisiva: o que sustenta o agente de cuidado? O que permite permanecer na ponta sem sucumbir à onipotência do salvador, à frieza do cínico ou ao esgotamento silencioso que transforma o cuidado em mera execução? Essa pergunta não é psicológica nem moral; ela é ética e política. A forma como o desejo do agente se organiza define se o cuidado permanece como trabalho vivo ou se se converte em instrumento da violência estrutural.
Quando essa questão não é enfrentada, o desejo do agente tende a se fixar em polos já conhecidos. De um lado, o salvador, que investe libidinalmente no outro, no sucesso do caso, na mudança futura da vida do usuário. De outro, o cínico, que se protege retirando o afeto, reduzindo o cuidado a procedimento e negando qualquer implicação subjetiva.
Essas posições parecem opostas, mas compartilham um mesmo erro: ambas subordinam o cuidado a um resultado futuro. No salvador, o futuro aparece como promessa; no cínico, como desistência. Em ambos, o presente é esvaziado e o cuidado perde sua espessura ética.
Uma primeira tentativa de deslocamento consiste em investir libidinalmente na própria concepção ética do serviço. O objetivo é que o agente ancore seu desejo na clareza sobre o sentido político de seu ofício, encontrando satisfação na defesa de um modo de cuidar que possui valor em si mesmo, e não apenas na resposta do outro. É um movimento de politização do fazer: o agente se sustenta porque tem consciência do que faz. Esse deslocamento é importante, pois retira o usuário do lugar de objeto de satisfação do agente e devolve ao trabalho uma referência interna estável.
No entanto, tomado isoladamente, esse deslocamento ainda pode produzir uma nova captura: o serviço pode se tornar ideal, missão ou projeto. O risco, aqui, é recolocar o desejo no futuro sob a forma de coerência institucional, fidelidade a um modelo ou expectativa de resultados, reinstalando a lógica que se pretendia abandonar.
O ajuste necessário vai além. O desejo do agente de cuidado precisa se ancorar no ato de cuidado enquanto acontecimento situado. Não no projeto, não na trajetória, não na promessa de transformação, mas no fato de que, naquele momento, algo de cuidado aconteceu. O cuidado, nesse registro, não é meio para um fim; ele é fim em si mesmo. Ele existe no presente, como gesto compartilhado, como presença sustentada, como produção localizada de bem-estar. Ele não aponta necessariamente para continuidade, nem garante desdobramentos. Ele acontece e, ao acontecer, já cumpre sua função.
Essa centralidade do cuidado como acontecimento situado não implica abandono do futuro, nem renúncia à aposta. Ao contrário, ela redefine radicalmente o modo como o devir pode ser sustentado sem se converter em tutela. A aposta no futuro não se faz pela antecipação do que o outro deve se tornar, nem pela exigência de continuidade, mas pela recusa em colonizar o amanhã a partir do presente.
Toda vez que o agente de cuidado tenta garantir o futuro do usuário – orientando, conduzindo, corrigindo ou exigindo mudança – ele transforma a aposta em projeto pessoal e fecha aquilo que deveria permanecer aberto. Sustentar o cuidado no aqui-e-agora é justamente o que mantém o devir possível: ao produzir um acontecimento de presença que não cobra desdobramento, o agente cria as condições mínimas para que algo possa, ou não, se reinscrever adiante. A aposta, nesse registro, não é promessa nem previsão; é a confiança ética de que o futuro só pode existir se não for imposto.
Essa compreensão aproxima o cuidado da lógica da redução de danos em seu sentido mais rigoroso. Reduzir danos não é salvar a vida inteira, nem corrigir trajetórias, nem produzir abstinência ou autonomia plenas. É produzir, no presente, uma diferença concreta: um intervalo sem violência, um momento de encontro, uma suspensão do uso de substâncias, um deslocamento mínimo do isolamento, uma experiência compartilhada que não existia antes. Nada disso garante continuidade. Nada disso resolve estruturalmente a vida do outro. Mas tudo isso é real, situado e suficiente enquanto cuidado.
Ancorar o desejo do agente nesse registro permite uma satisfação ética que não é onipotente nem cínica. Há, sim, um reconhecimento possível: o reconhecimento de que o ato cuidou enquanto existiu. Não porque mudou o outro, mas porque produziu bem-estar localizado. Essa satisfação não se acumula, não se converte em capital simbólico e não se projeta como prova de valor pessoal. Ela é discreta, momentânea e não apropriável. Justamente por isso, ela protege o agente tanto da captura narcísica quanto da frustração crônica que nasce da exigência de resultados.
Esse modo de sustentar o desejo exige renunciar a um pressuposto central da lógica moderna do trabalho: a ideia de progresso contínuo. No cuidado, o avanço não é linear. Repetições, recaídas, interrupções e retornos fazem parte do processo. Quando o agente aceita que o cuidado acontece no momento – e não como linha ascendente –, ele pode permanecer sem exigir que o outro confirme seu valor. Ele cuida porque cuida. E isso basta para que o trabalho faça sentido, sem precisar se legitimar por um depois.
Essa posição também impede a deriva tutelar. Quando o cuidado é vivido como ato situado, o agente não precisa dirigir a vida do outro, nem decidir por ele, nem conduzi-lo a um ideal. O cuidado não aponta um caminho; ele sustenta a presença. O outro segue sendo responsável por sua vida — inclusive por suas escolhas difíceis. O agente não se retira, mas também não ocupa o lugar de origem, de garantia ou de projeto. Ele permanece ao lado, não à frente.
É evidente que essa forma de sustentar o desejo entra em conflito direto com a lógica institucional e neoliberal do trabalho. Um cuidado que não promete resultados futuros, que não se mede por indicadores de mudança e que se satisfaz no presente é profundamente incômodo para um sistema orientado à produtividade – e também para uma sociedade que, atravessada por ideologias meritocráticas, tende a estigmatizar os usuários dos serviços públicos de cuidado como “acomodados”, “improdutivos” ou “dependentes do Estado”.
Nessa lógica, o serviço aparece como gasto inútil, o usuário como peso e o trabalhador da ponta como alguém que “não produz”, o que legitima cortes, desmonte e desvalorização contínua do cuidado. Por isso, essa posição exige condições coletivas de sustentação. Sem tempo de reflexão, sem supervisão, sem espaços de elaboração e sem linguagem compartilhada, o agente é empurrado de volta ao salvador ou ao cínico como únicas formas de sobrevivência psíquica.
O vínculo, assim compreendido, deixa de ser um instrumento de gestão de conduta e passa a ser um campo de sustentação do possível. Ele não direciona a vida do outro, mas impede que ela se feche completamente. Ao recusar a tutela e sustentar a alteridade, o trabalhador aceita uma posição menos gloriosa e mais incerta – nem salvador, nem gestor, nem abandonante.
Sustentar o vínculo sem tutela não é apenas uma escolha ética; é um gesto que entra em choque direto com a forma como o poder organiza o trabalho e o sofrimento no serviço público.
É esse choque que o próximo ensaio irá tornar explícito.
*Dani Rudá é educador social lúdico no SUAS.
Para ler a primeira parte dessa série clique em https://aterraeredonda.com.br/a-politica-do-vinculo/