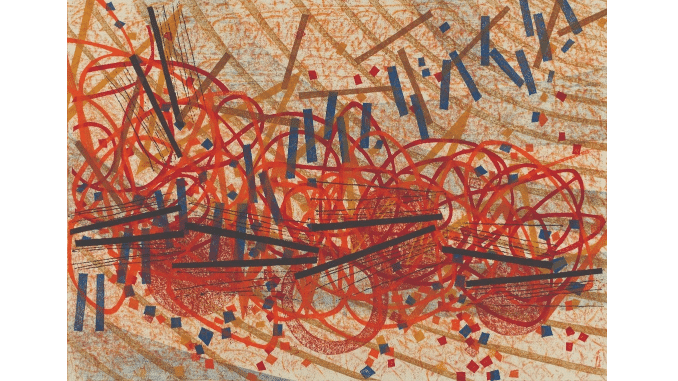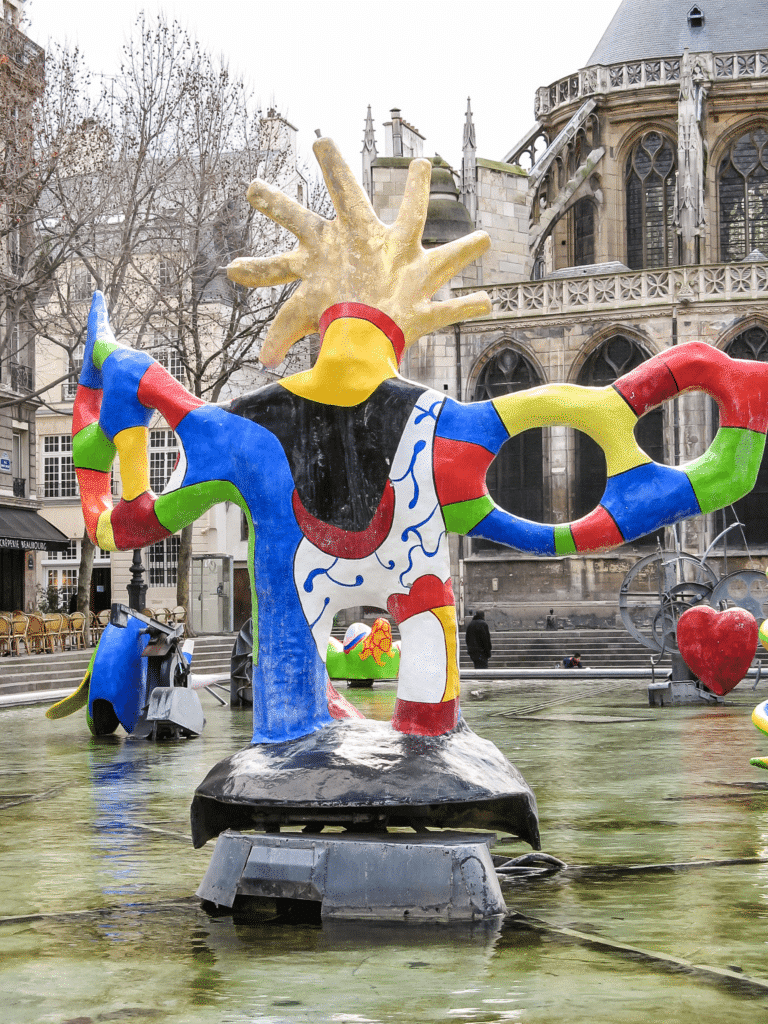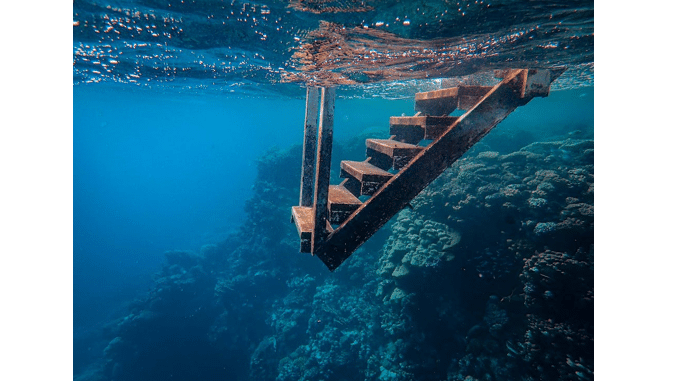Por ARTHUR GROHS*
O revisionismo sobre a figura do escritor e pensador francês
1.
O lançamento de um livro chamado Oublier Camus (Esqueça Camus) causou repercussão internacional, sobretudo, após uma entrevista concedida ao tradicional jornal espanhol El País. Formado em literatura comparada (Columbia University), com mestrado e doutorado em Estudos Românticos (Duke University), Oliver Gloag, que é professor da University of North Carolina, acusa Albert Camus de machista e colonialista. Uma polêmica, com exceção da primeira acusação, que não possui qualquer elemento inédito e, em certo sentido, apenas reacende um pleito que, de tempos em tempos, retorna à pauta do debate intelectual.
2.
Entendo que há a necessidade, para que seja possível elaborar inferências sobre o assunto, resgatar alguns pontos dessa oscilante cronologia hostil a Albert Camus. Assim, lembro que essa controvérsia nasce, na realidade, com a cisão entre Albert Camus e Jean-Paul Sartre, em 1952. Após a publicação do ensaio camusiano O homem revoltado, a revista de Sartre, Les Temps Modernes, publicou uma resenha, assinada pelo acólito sartriano Francis Jeanson, a qual não foi bem recebida por Albert Camus. A recensão, aliás, demorou a sair por omissão dos colaboradores da publicação (ninguém se voluntariava a emitir juízo sobre a obra). Todas as manifestações tiveram tom pessoal, o que foi, grosso modo, pior para Albert Camus, que acabou sendo escanteado.
Isso posto, passo ao segundo momento da polêmica, ocorrida na década de 1970, através de Conor Cruise O’Brien e Edward Said. Ocorre que ambos autores empreendem uma leitura pobre e absolutamente insuficiente. Ambos fazem inferências sem ter, de fato, ido a fundo no espólio do autor. Edward Said, inclusive, diz que Albert Camus é um autor “cuja mentalidade colonial não era simpática à revolução ou aos árabes”. Algo que a priori dever-se-ia provar é tido como ponto pacífico.
Mas essa leitura foi trabalhada de maneira mais extensa, por Edward Said, na década de 1990, na obra Cultura e imperialismo. Nela, Edward Said interpreta os romances de Albert Camus (os quais possuem propósitos específicos dentro de sua cosmovisão) como “elementos na geografia política da Argélia metodicamente construída pela França”, funcionando, então, como álibis de um colonialismo por, dentre outras razões, não dar nome ao árabe assassinado em O estrangeiro.
Há uma espécie de contorcionismo argumentativo, com o perdão da ironia, para o objeto (no caso, a obra camusiana) caber no argumento. Edward Said realiza uma peneira à procura de elementos que comprovariam sua hipótese, ao invés de pô-la à prova. Há, amiúde, uma projeção das vontades políticas particulares de Said nos autores que ele estuda. Isso se vê principalmente no caso que acabo de descrever: para ele, o fato de que Albert Camus “omitiu” a estrutura colonial – algo que, diga-se de passagem, não é tão simples no território argelino – deporiam a favor de sua tese. Sem me alongar, os argumentos de Edward Said são ilustrações que se perpetuaram sobre a posição política de Albert Camus e não estão isolados; ao contrário, tornaram-se frequentes a partir da segunda metade do século XX, com raras exceções, incontestadas.
3.
Finalmente, chego a Oliver Gloag. Por conta de se tratar de um lançamento recente e da obra em questão não estar circulando além da França, não pude entrar em contato com os argumentos do autor. Contudo, consegui ler sua entrevista na qual ele mesmo declara que decidiu, assim como Edward Said, interpretar a obra de Albert Camus com base naquilo que confirmaria sua tese. Quer dizer, expressamente, lê-se o seguinte acerca do romance A peste: “proponho uma leitura diferente. A peste não é a Alemanha ou os alemães, é a resistência do povo argelino à ocupação francesa, um fenômeno intermitente, mas inelutável, que é equiparado a uma doença fatal do ponto de vista dos colonos”.
A motivação do revisionismo sobre a figura de Albert Camus, ainda segundo o autor de Oublier Camus, é o fato de que “existe atualmente um uso permanente” da imagem do escritor. Assim, “serve para justificar tudo e nada, temos que nos livrar disso” e, à luz de sua interpretação, seria possível desprender o verdadeiro homem do mito, que é moldado de modo abusivo e complacente, de acordo com Gloag.
Minha tese é que, da década de 1970 em diante, pouco se leu Camus seriamente – ou, pelo menos, pouco se leu Albert Camus seriamente em relação ao conflito de independência argelino. Enquanto estava à frente do Combat, por exemplo, mostrou-se bastante crítico quanto à política colonial francesa, acreditando em uma dívida da França com a Argélia e afirmando que “a Europa deveria se [auto]acusar, uma vez que suas constantes convulsões e contradições, ela [a Europa] tem conseguido produzir o mais longevo e o mais terrível reino de barbarismo que o mundo já conheceu”. A primeira série de textos que dedicou à Argélia, aliás, foi motivada por um texto de outro jornalista, que pedia punições exemplares aos independentistas que haviam feito ataques contra descendentes de europeus.
Na década de 1950, quando Albert Camus era colunista do L’Express, ele procurou salientar que os, assim chamados, franceses argelinos, não tinham as mesmas condições daqueles que moravam na França. Eram, na realidade, em esmagadora maioria, trabalhadores. Responsabilizando, primeiro, os sucessivos governos franceses que não se mobilizaram para evitar que o sangue fosse derramado em solo argelino. A lista de evidências presente nos ensaios de Albert Camus segue… e poderia seguir ainda mais. Todavia, parece-me que a grande implicância, se é que posso chamar assim, se dá pelo fato de que Camus também via responsabilidade por parte dos árabes. Algumas pessoas parecem convenientemente esquecer que houveram ataques terroristas os quais vitimaram cidadãos comuns. Esses, segundo Albert Camus, pouco ou nada tinham a ver com os problemas entre muçulmanos e a metrópole.
Julgo que Albert Camus parece ser tratado como um autor simplório. Ainda que a obra de Albert Camus não seja impune e tenha, de fato, fragilidades, não é um autor desprezível, como aparenta ser tratado por seus detratores. Tanto por reconhecidamente contribuir na denúncia das arbitrariedades do sistema colonial na Argélia (não somente quando era um repórter em sua terra natal, mas também durante sua estadia na França), quanto pelo fato de que obteve massiva adesão do público francês quando liderava o Combat. Além, por óbvio, de sua influência literária, perene e vencedora do Nobel de Literatura.
Há, hoje, algo recorrente, que é a tentativa de destruição de reputações, como parece ser o caso. Com alguma frequência, surgem movimentos que procuram pôr, à força, nomes no ostracismo, partindo de uma prerrogativa moralista. Contudo, sem o devido argumento, trata-se de um moralismo oco. Observar o passado e julgar com os valores do presente é uma das formas mais pobres de anacronismo, pois lhe escapa a mínima noção do trabalho em perspectiva histórica.
Isso posto, para citar alguns dos personagens envolvidos nessa disputa, basta lembrar do prefácio de Jean-Paul Sartre a Os condenados da terra, de Frantz Fanon. Esse foi vetado por Josie Fanon, esposa do autor. A censura ocorreu por entender que Jean-Paul Sartre contrariou o legado de seu marido ao apoiar o avanço beligerante do Estado de Israel sobre os palestinos. Fosse o fato reavivado, talvez as acusações mudassem de direção.
O “moralismo de Cruz Vermelha”, como Jeanson ironizou a visão pacifista de Albert Camus, reflete, na origem dessa velha polêmica, uma característica (por vezes, problemática) do jornalismo e do debate público: a temperatura. No calor do momento, desprezam-se elementos que o bom trabalho historiográfico recupera no futuro. No caso de Camus, é um intelectual que (i) tornou-se órfão por conta da I Guerra Mundial e (ii) foi testemunha ocular da seguinte. Ao ler, por exemplo, sua famosa série Ni victimes, ni bourreaux (Nem vítimas, nem carrascos), é inconfundível que sua maior preocupação é a manutenção da paz e uma nova ordem da política internacional em torno do bem-estar coletivo.
A deturpação de suas preocupações e suas posições resulta no mais baixo ataque a alguém que, é evidente, não pode se defender. Resta, ao fim e ao cabo, o bom senso e o comprometimento daqueles que permanecem vivos. Desse modo, devem agir preocupados em refutar a desinformação em nome da verdade, impondo-a acima, inclusive, de seu ideário político.
*Arthur Grohs é doutorando em Comunicação na PUC-RS.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA