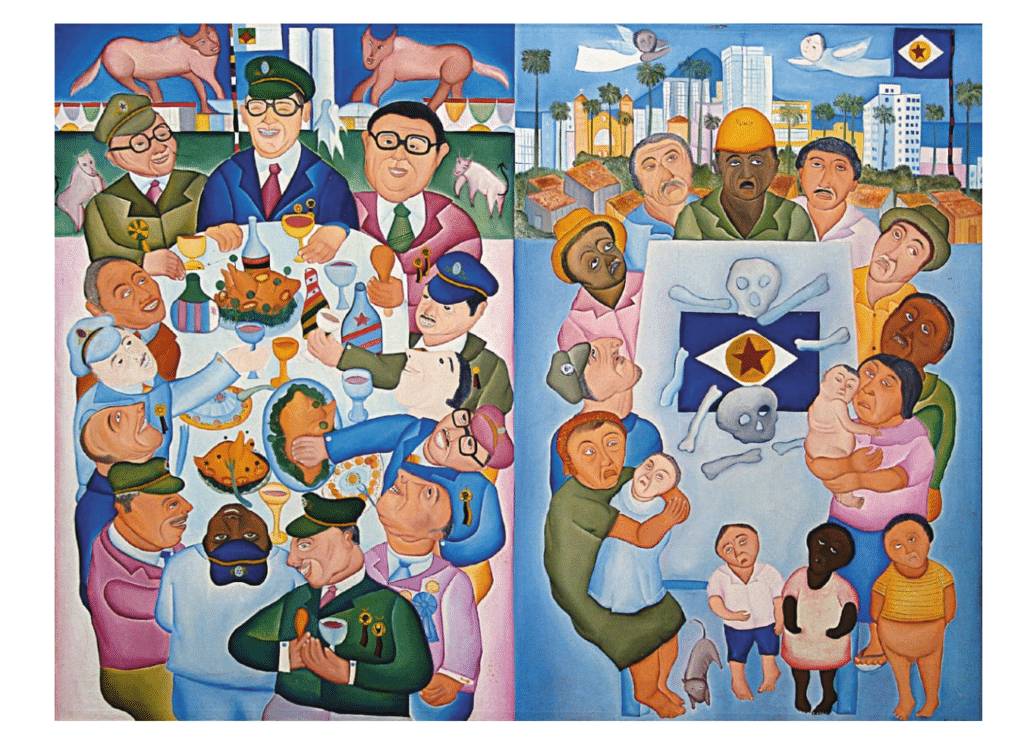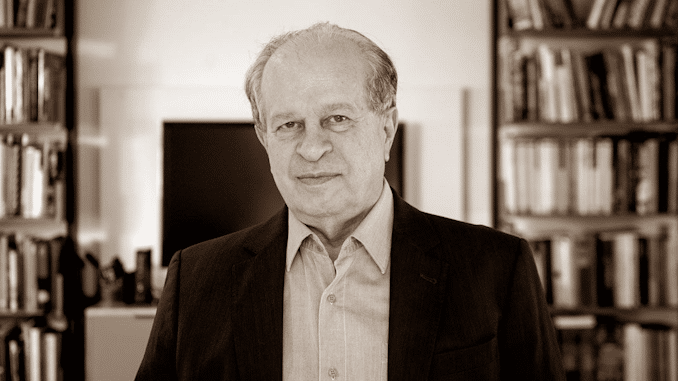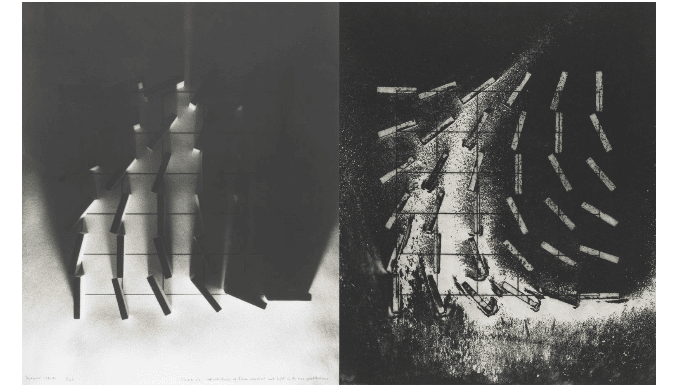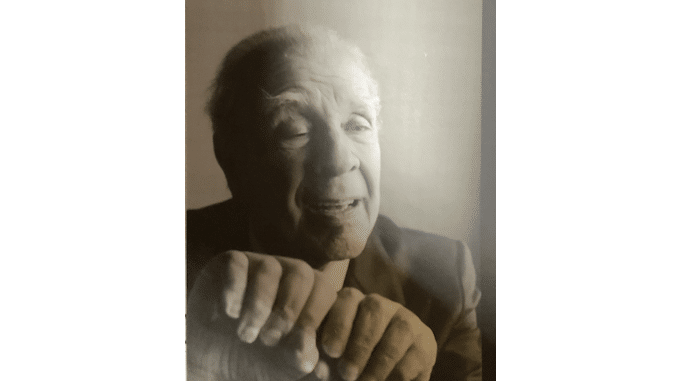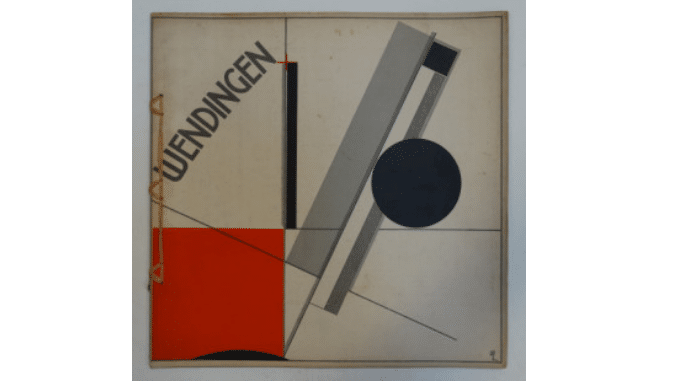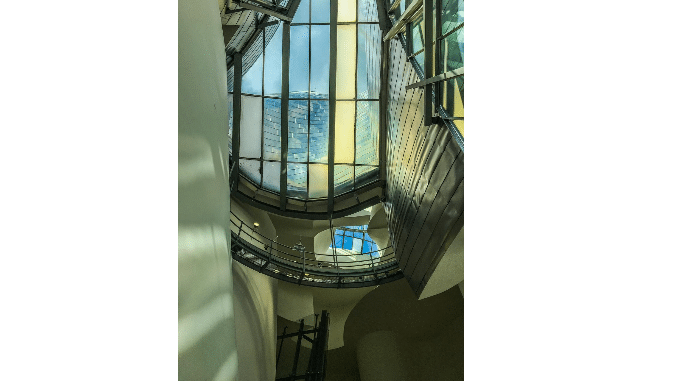Por MARCOS FALCHERO FALLEIROS*
Comentário sobre o livro de estreia de Graciliano Ramos
Antonio Candido, em Ficção e confissão, considera Caetés um romance “temporão”, “galho já cediço do pós-naturalismo”, com evidências de “deliberado preâmbulo” (1992, p. 14), como se fosse um exercício de técnica literária preparativo da grande obra por vir. Além das ressalvas que o crítico apresenta, demonstrando o quanto a presença do narrador em “situação” anuncia embriões como os monólogos interiores da obra futura, vê-se que nesse romance, tanto o modernismo, por aversão, quanto o marxismo, apesar da simpatia, não articulam plenamente o profuso cafarnaum de cultura de almanaque com que Graciliano Ramos se diverte – o que não deixa de ser mais um sintoma de sua ambivalente fatura na estreia promissora do autor, posta entre a revolução da forma árida e a timidez de um conteúdo acuado pela miserabilidade no beco sem saída do contexto provinciano.
A confusão do romance é o remédio antipasmaceira providenciado por seu ágil dinamismo, simbolizada pelas conversas atanazadas do Padre Atanásio, a que se sobrepõe ainda assim, com nitidez geométrica, o entrecho principal, marcado por cômicas conversas cruzadas, enquanto o autor aflito – condição permanente de seu compadecimento irônico – fica sem ter o que fazer com essa “multidão” da roça.
Antes de encontrar o equacionamento estético na vizinhança e no mundo urbano de Angústia, brinca no caos do enredo, entre referências disparatadas que procuram justificar a impossibilidade de outra saída: à língua italiana em que tudo acaba com oni, ao modelo indianista dos carapetões já esquecidos de Gonçalves Dias e de José de Alencar, ao espiritismo hierarquizado desde o líder até os renomados locais, em meio a embrulhadas com Platão, a Olavo Bilac e às frases das folhas cor-de-rosa do pequeno Larousse, ao Eclesiastes na função de cofre de João Valério, às embromações do Laplace, à corja, segundo Padre Atanásio, tais como Nietzsche, Le Dantec e um outro demônio de que ele esqueceu o nome, a Anatole France e o idiota do Augusto Comte, ao título Assim falou Zaratustra, usado para confirmar qualquer conversa ou insinuar culposamente ao narrador João Valério alguma coisa maliciosa, a Poincaré e Clemenceau, um dos dois talvez presidente da França ou da Inglaterra – assuntos que correm em meio à advertência sobre o perigo da alfabetização do matuto e o acesso decorrente a leituras ociosas dos pratos de resistência da cultura sertaneja, o almanaque Lunário Perpétuo e as histórias de Carlos Magno, além de todo tipo de discussão sobre Bíblia, medicina, política, filosofia, ciência, xadrez, jurisdição, literatura, pôquer e a ortografia de eucalipto, que ninguém na redação da Semana sabe.
Em entrevista a Francisco de Assis Barbosa, Graciliano Ramos registra a elaboração nos anos 20 do “horrível Caetés”, que o movimento modernista o encorajara a fabricar, escrevendo “tal como se fala de verdade”. Lembra que em 1926 o romance estava pronto, efeito do desdobramento de um dos três contos que escrevera na época. Os outros dois, “A carta” e “Entre grades”, deram origem a S. Bernardo e a Angústia (BARBOSA, 1943, p. 42-49).
As cartas de outubro de 1930, enviadas de Maceió para Ló, sua esposa, revelam que depois do convite de Augusto Frederico Schmidt para a publicação de Caetés, Graciliano reelaborava a “obra-prima” e anunciava que o romance, sim, é que seria “uma revolução dos mil diabos” (RAMOS, 1994, p. 115). Portanto, durante os dias agitados da Revolução de 30, Graciliano reformava exaustivamente Caetés, enquanto exercia em Maceió a função de diretor da Imprensa Oficial.
Nas cartas a Ló, comenta animado ter visto “um daqueles pedacinhos de papel”, que Schmidt lhe mandou, pregado num dos vidros da casa do Ramalho. São os folhetos anunciando Caetés, e a livraria é aquela pela qual João Valério devaneia editar seu romance “numa brochura de cem a duzentas páginas, cheia de lorotas em bom estilo” (RAMOS, 1984, p. 23). E, como João Valério, seu autor se limita à projeção de um sucesso local: “De sorte que o pessoal de sua terra está, com razão, espantado e desconfiado. Há de ter graça no fim, quando compreenderem que o livro não presta para nada” (RAMOS, 1994, p. 111).
Ou, nos termos do narrador de Caetés: “As minhas ambições são modestas. Contentava-me um triunfo caseiro e transitório, que impressionasse Luísa, Marta Varejão, os Mendonça, Evaristo Barroca. Desejava que nas barbearias, no cinema, na farmácia do Neves, no café Bacurau, dissessem: ‘Então, já leram o romance do Valério?’ Ou que na redação da Semana, em discussões entre Isidoro e Padre Atanásio, a minha autoridade fosse invocada: ‘Isto de selvagens e histórias velhas é com o Valério’” (RAMOS, 1984, p. 23).
A forma paradoxal com que se cruzam o alheamento do literato, mergulhado na oportunidade de projeção finalmente aparecida, e o senso crítico irônico diante do momento histórico, com o qual está comprometido como membro do governo a ser derrubado, vai assim se desdobrando em toda a correspondência desses dias. No dia 4, Graciliano confessa a aflição depois de receber, com um recorte anexo da Vanguarda “dizendo cobras e lagartos de Caetés”, uma carta de Rômulo (secretário da editora de Schmidt) “exigindo os originais”. Conta a Heloísa que telegrafou ao rapaz “pedindo uma semana de moratória” (RAMOS, 1994, p. 114).
Assim o ambiente citadino agitado, num passo histórico marcante para o país, de que a paralisia de Caetés está tão distante, indica o anacronismo da obra no andamento de sua vinda ao público, como se a mesma superação, que sua trama ironizada pedia, tivesse atropelado a publicação do romance, inviavelmente comprometido pela estruturação narrativa à Eça de Queirós sob a qual se armara desde 1924. Parece que a aflição do autor confirma a defasagem, e que o desprezo preliminar pela obra de estreia pressente sua validade vencida.
Depois de muitas peripécias, quando S. Bernardo já estava pronto, Caetés finalmente, em dezembro de 1933, apareceu nas livrarias. O tempo inaugural de sua escrita é assimilado pela representação de uma realidade imediata em Caetés, cujo enredo dá indicações de dois anos de duração: de janeiro de 1926 a finais de 1927. O primeiro mês é mencionado no final do capítulo 1 (RAMOS, 1984, p. 14). No primeiro ano do enredo, o ano de 1926 é sugerido no capítulo 3, quando o mitomaníaco Nicolau Varejão conta lorotas espíritas sobre sua vida anterior: da guerra do Paraguai [1870] foi para a Itália, onde ficou trinta anos. E como Nicolau Varejão diz ter sessenta anos de idade, o Dr. Liberato se espanta, zombeteiro: “Não é possível. Setenta com trinta … Caso o senhor tenha morrido e nascido logo que voltou da Itália [1900], não pode ter mais de vinte e seis [1926]” (RAMOS, 1984, p. 20). Passa o Natal no capítulo 15 – mais uma prova do espírito de simetria de Graciliano, que distribui com paridade os dois anos no livro de trinta e um capítulos. Depois vem o suicídio de Adrião no período junino do ano seguinte e passam-se os meses finais de 1927 nos últimos capítulos.
No capítulo 27, Pinheiro, “agora pelo São João” (de 1927), pensa tratar-se de bomba ao ouvir o tiro suicida de Adrião Teixeira. Do capítulo 27 ao 28, nos oito dias da agonia de Adrião, temos “Entre quatro paredes” o teatro quase de vanguarda, o cinema quase de “O anjo exterminador” dos convivas da casa em serões que aos poucos os deixam num relaxo de promiscuidade – um microcosmo em chave pré-existencialista da própria Palmeira dos Índios, que o romance pós-naturalista quer retratar com as caricaturas cômicas na azáfama da casa.
Poderíamos pensar que Graciliano poderia ter feito algo semelhante ao mundo monótono do círculo vicioso de O castelo de Kafka ou de O deserto dos tártaros de Dino Buzzati, ou, ainda, Esperando Godot de Beckett, desde que tirasse a moldura velha do adultério, mola cediça do romance, que o inculpa de uma cópia da cópia, se lembrarmos da dívida de Primo Basílio com Madame Bovary.
Mas a força de Graciliano tem como caráter fundamental o realismo de causa-e-efeito com que viria a sondar as mais profundas fantasmagorias, mesmo nas estórias de “um mundo coberto de penas” que escreve a partir de maio de 1937, na pensão do Catete, como se vê pelas notícias que dá a Ló sobre suas personagens de Vidas secas: “Nenhuma delas tem movimento, há indivíduos parados. Tento saber o que eles têm por dentro” (RAMOS, 1994, p. 201). Caetés, entretanto, com toda a força que pulsa em sua construção, permanece irremediavelmente teatro velho, de três paredes. Nenhuma tendência vanguardista fora do realismo crítico germinaria no escritor avesso ao absurdo e ao surrealismo, ainda que sua atiladíssima percepção crítica mostrasse simpatia pela peça “sem enredo” (RAMOS, 1980, p. 168) de Carlos Lacerda, “O rio”.
No capítulo 29, dois meses após a morte arrastada do marido traído, o encontro entre João Valério e Luísa serve para confirmarem o nada de suas veleidades amorosas. No capítulo 30, três meses depois, João Valério aparece como sócio da casa comercial de Luísa, herdeira comanditária, e de Vitorino, agora sozinho, sem o velho irmão traído e suicida. Resta ao capítulo 31 uma filosofia barata que pretende justificar a narrativa patinante, quando essa condição é que faria a obra ressumar de seu pós-naturalismo um existencialismo avant la lettre, à maneira de O estrangeiro de Albert Camus. Jorge Amado (1933) e outros consideraram esse capítulo maravilhoso, mas o crítico Dias da Costa (1934), em sua resenha de junho de 1934, lamentou no final do livro “dois capítulos inúteis” e advertiu que “as explicações são sempre perigosas”.
A rotina de Caetés, cujo tema na verdade é a falta de assunto para a literatura, faz da obra uma constatação do vazio do enredo. O romance ruim é sua matéria e seu resultado – como na obra de Alencar, que, entretanto, para se defender da crítica ao pouco relevo moral de seus personagens, respondia que os talhava “no tamanho da sociedade fluminense” e gabava-lhes justamente “esse cunho nacional”, segundo lembra Roberto Schwarz (1988, p. 47).
A culpa, como mola do enredo, aparece de imediato no tempo presente do capítulo 1, ao contrário da reaparição literariamente sofisticada de João Valério em Luís da Silva de Angústia, quando o assassinato no final do enredo é a culpa que move o início do romance. Em Caetés, a culpa será o “romanesco”, único meio de tensionar o início do cortejo arrastado da sociedade provinciana, apresentada sob a interioridade da onipresença do protagonista, não propriamente o narrador por escrito, mas uma voz no presente do indicativo. Foi o que Eloy Pontes considerou erro de sintaxe: “O sr. Graciliano Ramos escreve, às vezes, com os verbos no tempo presente e no tempo passado no mesmo período, o que nos parece erro evidente de sintaxe. Quem narra, emprega, de preferência, o tempo passado. A simultaneidade é que não se justifica” (PONTES, 1934).
Certamente a ojeriza pelo romance de estreia não vem do quinau de Eloy Pontes, que Graciliano achou ridículo, pois a repulsa já se manifestava antes da publicação (RAMOS, 1994, p. 130). Pelo contrário, percebe-se, pela constância, que é consciente o uso dos presentes do indicativo, cujo ótimo efeito de sentido será constatar vivo e insuperável o mundo obsedante que quer descartar – o que revela a intenção do autor de posicionar a escrita do lado de fora do texto, na realidade presente, colada à qual se encontra acuado o “autor-ator” (PINTO, 1962).
Na forma desse arcabouço, que joga a primeira camada do romance para fora de si mesma, o “autor-ator”, sob a máscara autocrítica do “valoroso” João Valério, pretende, em Caetés, com o “Caetés” dos antropófagos, virar escritor: atividade que Graciliano tantas vezes qualificou ironicamente de “indecente meio de vida” e que faz Valério ponderar ao final: “um negociante não se deve meter em coisas de arte” (RAMOS, 1984, p. 218). Com tempos verbais que não configuram a forma de um diário nem são momentos em que o narrador vem à tona do texto no tempo da narração, estamos, portanto, lendo Caetés do lado de fora do romance, como uma representação imediata da realidade, perpassada por escapadelas, em todo o enredo, de presentes do indicativo referidos ao pretérito no tempo do narrado, como, por exemplo, grifamos: “– Só por isso? murmurou Luísa, que protege o Cassiano” (RAMOS, 1984, p. 49).
Assim, a narrativa apresenta um tempo aberto, onde o mundo mesquinho que retrata se mantém vivo, para que o narrador confesse a impossibilidade de escrever tanto sobre os caetés como sobre sua realidade.
São significativas a respeito as observações de José Paulo Paes – que grifamos igualmente – quando comenta a situação do narrador: “[…] pergunta-se a certa altura se não faria melhor escrevendo sobre aquilo que conhecia, ou seja, as pessoas à sua volta, “padre Atanásio, o dr. Liberato, Nicolau Varejão, o Pinheiro, d. Engrácia”. Mas, nesse caso, conclui ele, “só conseguiria garatujar uma narrativa embaciada e amorfa”, narrativa que, embora em nenhum momento se refira a ela, como repetidamente o faz com relação à sua frustrada novela, acaba sendo a principal de Caetés”.
E o crítico acrescenta em nota: “A ‘narrativa embaciada e amorfa’ do romance propriamente dito – isso pelo contraste com a escrita romântico-indianista da novela nele embutida e fragmentariamente tematizada – é a da escrita realista. O fato de esta não apontar para si própria, na mesma reflexão metalinguística em que se compraz com relação à novela embutida, mostra-lhe a pretensão de ser um homólogo da realidade narrada, tão perfeito que dela nem se distingue” (PAES, 1995, p. 20, 25).
Ademais, o romance Caetés acaba por não se apresentar nem sequer em uma linha que pudesse saciar a curiosidade do leitor, ao contrário de seu modelo, A ilustre casa de Ramires, cujo livro que ali dentro Gonçalo Ramires escreve, Antonio Candido lembra ter visto publicado até mesmo em separata (2004, p. 103). De tal modo que em Caetés não teríamos nada para ler, não fosse o concessivo pacto do leitor.
O pretexto do enredo parece envergonhar o autor, mas é o único que encontra para romper com a paralisia provinciana: o bovarismo é sobreposto a Madame Bovary, romance que se acrescenta, em Caetés, aos que viraram a cabeça de Emma. Ao invés de Luísa, Madame Bovary é João Valério. Mas ao contrário de León, personagem de Flaubert que somente depois de corridos dois terços do romance beija a nuca da amada (FLAUBERT, 1972, p. 283), os dois beijos no cachaço de Luísa, cansados de lenga-lenga, resumem o assunto nas primeiras linhas do capítulo 1. O tom despachado entretanto é traído, sem falar no desastroso capítulo final, por escorregadelas na pieguice: João Valério conversa com as estrelas, das quais, ignorantão, não sabe o nome, para contar a elas que Luísa o ama, e quando ronda o casarão da amada, indignado com os vultos esquivos de frequentadores do prostíbulo do Pernambuco-Novo, que passam por ele como se o considerassem um igual, sai gritando para si mesmo o desconchavo de que é a alma que ele quer (RAMOS, 1984, p. 159-160).
As formulações freudianas se apresentam como obrigatórias, pelo menos no âmbito da cultura ocidental, onde pretendem desvendar uma rede de processos universais, embora o histórico de cada caso se orquestre dentro de particularidades biográficas. O eros platônico é, com Freud, desvelado como ferida ao narcisismo da humanidade, sob feitio científico, ainda que representasse entre o final do século XIX e o início do século XX o fator culminante da “conversão do naturalismo”, para usar a conhecida qualificação de Otto Maria Carpeaux.
A tara edipiana de passar na frente e tomar o lugar do pai-outro estaria presente à cultura como um todo, na ampla rotina da civilidade do mundo, na cortesania assassina e no narcisismo voraz que vigem na guerra de prestígios. Assim o eros-motor de édipo ocorreria também na vocação literária sonhadora de renome, seja na sensibilidade de percepção que faz o autor indiciar o processo, por alusão dele no enredo, à maneira de Dostoiévski em Os irmãos Karamázov, seja de modo inconfessado, sempre, uma vez que é inconsciente e inescapável. Entretanto, é razoável que se foque o assunto naquelas obras, como Hamlet ou Caetés, em que se verifique nitidez da manifestação.
Nessa linha, João Luiz Lafetá desenvolve o ensaio que aprofunda as percepções de Lamberto Puccinelli a respeito do édipo oblíquo (1975) em Caetés. Lafetá retoma a teorização freudiana de “romance familiar” que Marthe Robert (2007) estendeu para a forma literária do romance: o eros-motor elabora na criança pré-edipiana a pirraça narcísica de inventar-se como o “Enjeitado”, para negar sua filiação aos pais legítimos impertinentes com seus desejos, trocando-os por pais poderosos como reis e rainhas, que o teriam rejeitado, largando-o com os seus pais visíveis e desprezíveis, de quem ele quer atenção e a quem ama, mas que, após a invenção fantasiosa, por não serem legitimamente os seus, ele pode superar. A essa fantasia de fuga e amuo está ligado o romance romântico. Já o menino no despertar da sexualidade, em fase edipiana, fantasia sua filiação pela metade, com apenas não ser filho do pai, o que significa que sua mãe estará aberta a outras relações e assim se tornará disponível para o interdito do incesto com o filho. Tal condição, mais aderida ao seu contexto, relaciona-se ao romance realista, na figura do “Bastardo”.
Lafetá procura comprovar através das duas figurações de Marthe Robert o jogo que se realiza, em seu constante retardamento para o incesto simbólico, entre: a) a face do “Enjeitado”, a do romance histórico, gênero típico do romantismo e da busca fantasiosa das origens, que dentro do romance João Valério procura realizar com o “Caetés” dos antropófagos sem-lei devoradores da civilização-Bispo Sardinha, preparando o terreno para o incesto, e: b) a face do “Bastardo”, tão realista que – agora sob responsabilidade e decorrência das interpretações aqui desenvolvidas – dir-se-ia estender o romance Caetés diretamente ao real, como não-romance no presente do indicativo. Assim, a gangorra edipiana balança, na saga da superação do pai falido, entre o literato e o cavador, entre João Valério e a autoria.
A alta aderência metonímica do autor, porém, obriga-o não só a submeter a literatura ao real, mas também o real à literatura: o literato precisa de modelos para saber como escrever romances, por pura necessidade de ancoragem e não para insinuar citações exibicionistas de erudição. A latência edipiana, dada como estímulo subjacente à iniciativa da escrita, pode ser procurada enviesadamente, portanto, através da influência de outras obras.
Agrippino Grieco observa ao avaliar Caetés, em fevereiro de 1934, que a cena dos dois beijos no cachaço de Luísa lembra a de O lírio do vale, de Balzac, quando o amalucado Félix de Vandenesse “pespega um longo beijo nas espáduas de madame de Mortsauf” (GRIECCO, 1934). O romance conta a história do menino repelido, cuja mãe, necessitando de acompanhante num festejo da Restauração, manda-lhe fazer roupas ridículas. Ali o filho desprezado, jogado timidamente num canto, apaixona-se pela madame de Mortsauf quando ela causalmente fica próxima dele como a aninhá-lo em seu desolamento, e o rapaz, embevecido, em meio aos convivas, pratica o gesto tresloucado, que a senhora repele com susto, indignação e um olhar compreensivo. Daí, durante vários anos, a paixão que os aproxima será de mãe para filho, sem contato corporal além dos beijos no dorso das mãos da moça (nas palmas não pode), um pouco mais velha que ele e bem mais nova que o marido. Mme. Mortsaut pensa na possibilidade de Félix casar-se com sua filha, mas não é isso que eles querem. Os dois amorosos cuidam, em revezamentos pudicos, do marido achacado, e nisso ficam até que, em decorrência de uma aventura carnal que o rapaz, finalmente numa escapada, tem com uma nobre inglesa, a virtuosa Mme. Mortsaut morre em longa agonia, transtornada pelo ciúme e pelo amor interdito, invicta em sua proba fidelidade de corpo (BALZAC, 1992).
Acrescente-se a possível influência desse enredo sobre outro, em que vemos o último encontro, em março de 1867, entre Mme. Arnoux, com os cabelos encanecidos, e Frédéric Moreau, que a amou desde as primeiras páginas de A educação sentimental, em 1840. Depois de um pulo em branco, de muitos anos após o golpe e a repressão sobre o povo com a tomada de poder por Luís Napoleão, abre-se o penúltimo capítulo, em êxtase amoroso, na Paris do II Império, em que o casal se revê depois de vinte e sete anos de chove não molha. Conversam com delicadeza, alegria, lembranças do amor frustrado, silêncios, vão à rua passear de braços dados, voltam à casa do quarentão. Mme. Arnoux conta que descobriu seu amor quando ele lhe beijou a pele entre a luva e a manga. Frédéric Moreau pensa meio aterrorizado na possibilidade de que ela tivesse vindo para se entregar a ele. A sensação é de incesto – e de medo, prevendo o tédio posterior. Depois ela se despede, dá-lhe um cacho de seus cabelos e beija-o na testa, feito mãe. “E foi tudo”, encerra Flaubert o capítulo (FLAUBERT, 2002).
Certamente Caetés vem daí, mas no resumo dessa formação que a obra realiza, despachado, não é mais isso, embora não seja nem uma coisa nem outra. A autenticidade de sua dicção surge meio velha e surpreendente, confundindo os críticos, que sentem seu vigor, mas não sabem propriamente qualificá-lo, como De Cavalcanti Freitas, em março de 1934, que vê no romance a “rígida disciplina” do “velho processo reacionário de técnica” (FREITAS, 1934).
Mesmo a referência mais imediata do romance, A ilustre casa de Ramires, altera bastante o modelo justamente pelo dialogismo paródico que estabelece com aquele romance de Eça de Queirós. Algumas resenhas lembram tal fonte, embora não observem suas diferenças essenciais. Antonio Candido comenta que A ilustre casa de Ramires é o anti-Basílio. Primeiro era o socialista olhando de fora impiedosamente os personagens caricaturizados na interioridade do urbano. Depois o recuo ideológico do olhar compreensivo do velho Eça, aderido ao interior de Gonçalo Ramires na exterioridade do campo (CANDIDO, 1971, p. 44), procura revigorar Portugal com o deplorável colonialismo. A mediocridade de Gonçalo assim se regenera: embora requentando os versos do tio sobre sua estirpe, ele de qualquer modo termina o livro que lemos dentro do livro. Mas não contente com isso e com os acanalhamentos a que se submete, cheio de brios, Gonçalo parte para a África em busca da regeneração da raça.
O caminho ideológico de Graciliano é inverso. Em Caetés despede-se de Eça, cuja rala remanescência não será mais estrutural. Ao alcançar a forma literária da conceptualização marxista, que conduzirá o restante da obra, o “exterior” da conversa de papagaios, que atingia caricaturalmente o próprio João Valério em seu “interior”, ganhará atualização reflexiva do marxismo, que vai dispor o “exterior” como história estruturada em sistemas sociais, estratificados por luta de classes e jogos de poder: construtos humanos, não imutáveis na imobilidade da pasmaceira que oprime o “interior” dos seus sujeitos, a começar por Paulo Honório em S. Bernardo.
Graciliano não pôde impedir que a inexistência ficcional do romance Caetés, esparsa na imediatez do presente do indicativo, se tornasse verídica, como fez com o “Caetés” de João Valério. A demora com a publicação permitiu que ele pedisse a Schmidt a devolução dos originais e cancelasse o “negócio”, como conta a Ló em carta de Palmeira dos Índios, 8 de outubro de 1932 (RAMOS, 1994, p. 130). Mas graças à inocência estética e à generosidade fraternal de Jorge Amado, a publicação foi retomada junto ao editor Schmidt. Graciliano mencionaria o episódio em 1936, quando encontrou, “com um estremecimento de repugnância”, seu companheiro de prisão, o inteligente russo Sérgio, lendo Caetés: depois dos originais devolvidos, Jorge Amado o visitara em 1933 para, escondido, em conluio com Dona Ló, levá-los novamente a Schmidt, que queria editar o romance (RAMOS, 1985, p. 225).
Antes disso, Graciliano tinha voltado de Maceió a Palmeira dos Índios e feito vingar em 1932 a semente de S. Bernardo em Viçosa, protegendo-superando seu pai, que para lá conduzira anos antes a família, após o desastre no sertão pernambucano de Buíque, quando a seca comera sua pretensão de ascender a fazendeiro. João Valério a seguir voltaria de Palmeira dos Índios a Maceió, e aí sim Luís da Silva diria a que veio, antes de ir preso para o Rio de Janeiro, à espera de Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos.
*Marcos Falchero Falleiros é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Publicado originalmente nos anais da Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic)
Referências
AMADO, Jorge. Literatura, 5 de dezembro de 1933. USP-IEB- Arquivo Graciliano Ramos – Série Recortes.
BALZAC, Honoré de. O lírio do vale. Introdução de Paulo Rónai. In: –––. A comédia humana. vol. XIV. São Paulo: Globo, 1992.
BARBOSA, Francisco de Assis. 50 anos de Graciliano Ramos. In: SCHMIDT, Augusto Frederico et al. Homenagem a Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: Alba, 1943.
CANDIDO, Antonio. Entre o campo e a cidade. In: –––. Tese e antítese. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971.
––––. Ficção e confissão. São Paulo: Editora 34, 1992.
––––. Ironia e latência. In: –––. O albatroz e o chinês. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004.
COSTA, Dias da. Graciliano Ramos – Cahetés. Literatura, 20 de junho de 1934. USP- IEB – Arquivo Graciliano Ramos – Série Recortes.
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Paris: Librairie Générale Française, 1972.
––––. L’éducation sentimentale. Paris: Librairie Générale Française, 2002.
FREITAS, De Cavalcanti. Cahetés. Boletim de Ariel, março de 1934. USP-IEB – Arquivo Graciliano Ramos – Série Recortes.
GRIECO, Agrippino. Vida literária. Corja, Sinhá Dona e Cahetés. O Jornal, 4 de fevereiro de 1934. USP-IEB – Arquivo Graciliano Ramos – Série Recortes.
LAFETÁ, João Luiz. Édipo guarda-livros: leitura de Caetés. In: Teresa – Revista de Literatura Brasileira, nº 2, São Paulo: Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas- FFLCH-USP, Editora 34, 2001.
PAES, José Paulo. Do fidalgo ao guarda-livros. In: Transleituras: ensaios de interpretação literária. São Paulo: Ática, 1995.
PINTO, Rolando Morel. Graciliano Ramos – autor e ator. Assis: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, 1962.
PONTES, Eloy. O mundo das letras. Cahetés. O Globo, 7 de maio de 1934. USP-IEB – Arquivo Graciliano Ramos – Série Recortes.
PUCCINELLI, Lamberto. Graciliano Ramos – relações entre ficção e realidade. São Paulo: Quíron/INL, 1975.
RAMOS, Graciliano. Caetés. Rio de Janeiro: Record, 1984.
––––. Cartas. Edição de James Amado. Rio de Janeiro: Record, 1994.
––––. Linhas tortas. Rio de Janeiro: Record, 1980.
––––. Memórias do cárcere. v. 1. Rio de Janeiro: Record, 1985.
ROBERT, Marthe. Romance das origens, origens do romance. São Paulo: Cosacnaify, 2007.
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1988.