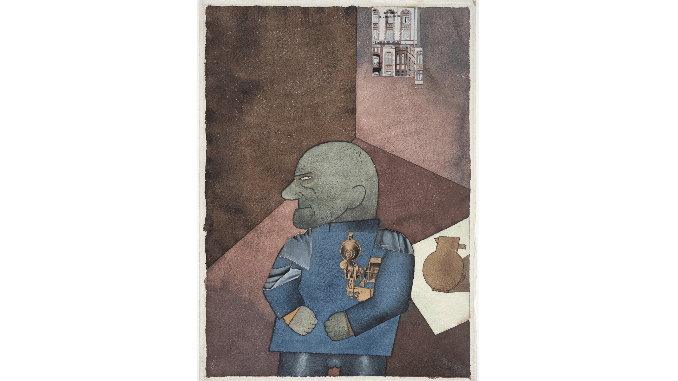Por LUIZ MARQUES*
Afetos de solidariedade e empatia com a dor das individualidades e coletividades são entorpecidos pelas leis do Estado
Na abertura dos anos 1990, Pierre Bourdieu publica a pesquisa A miséria do mundo. A brochura de capa dura, para que o signo da miséria não se convertesse na miséria do signo, vira best-seller com 80 mil exemplares vendidos. Destrincha a “miséria de condição” dos subalternos no capitalismo e a “miséria de posição”, o lugar específico dos atores sociais no subespaço de pertença. “Estabelecer a grande miséria como medida exclusiva de todas as misérias é proibir-se de perceber e compreender os sofrimentos característicos da ordem social e o desenvolvimento de todas as formas da pequena miséria, onde se acham os elementos que ajudaram na formação de cada personalidade”. Pois é.
O sociólogo do Collège de France avança sobre as engrenagens de individualização resultantes da experiência do sofrimento com uma metodologia, um “exercício espiritual” que busca a intersecção da sociologia psicanalítica com a psicanálise sociológica. Surge um novo horizonte cognitivo. Jessé Souza, em A ralé brasileira, segue o saudoso mestre. “Procurei utilizar o mesmo procedimento para explicar a existência das classes marginalizadas, entre nós, e escapar das ingenuidades da empiria”.
Christian Dunker trilha caminho similar, em Reinvenção da intimidade: Políticas do sofrimento cotidiano. “Sofrer é algo que depende de três condições: a narrativa na qual está inserido; os atos de reconhecimento que fixam sua causa e a transitividade que o torna uma experiência coletiva e indeterminada. A forma como contamos, justificamos e partilhamos nosso sofrimento está sujeita a uma dinâmica de poder”. No divã, as vítimas do sofrer expõem a sua tortura e as pesadas estruturas de dominação social. Significa que a política circula entre o público e o privado. Fica impossível à sensibilidade distinguir a divisória que separa o sofrimento psíquico do sofrimento sociológico.
O sofrimento deixa de ser puramente individual, posto que expõe os vários sintomas sociais. Neste carrossel, a angústia existencial da geração de 1968 frente a probabilidade de perder os empregos para a robótica, na França, sublimou-se em uma luta contra la société du spectacle e o paradigma da mercadoria. Enquanto o ressentimento e o ódio à condição de subalternidade, agora, converte-se no apoio às governanças protofascistas que propagam em ambos hemisférios a aporofobia e a exclusão.
Invernos e desencantos
A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) incrementou o afeto da suspeição. O Prêmio Nobel Alexander Soljenítsin, autor de Arquipélago Gulag, foi condenado sem julgamento a oito anos de prisão e mais quatro de exílio numa remota aldeia. O motivo: uma carta enviada a um amigo, em janeiro de 1945, quando servia como capitão de artilharia do Exército Vermelho no front de Koenigsberg, a cidade natal de Kant. A missiva criticava os privilégios no Exército e a conduta de Stalin, na Segunda Guerra. Suas acusações antecipavam as de Khrushchov. Só foi reabilitado invernos e desencantos depois. Sem a atmosfera persecutória do stalinismo, a história seria outra.
Hoje, o declinante imperialismo dos Estados Unidos dissemina o afeto do hiperindividualismo e o sentimento antiestatal em prol de um livre mercado, sem compromisso com a inserção social e as prerrogativas trabalhistas. Mais: os fins de corporações com receitas muito superiores às de países avalizam os instrumentos espúrios do lawfare, para atacar a reputação de governantes nacionalistas reticentes ao capital predador, na América Latina: Fernando Lugo / PY, Rafael Correa / EC, Evo Morales / BO, José Mujica / UY, Hugo Chávez e Nicolás Maduro / VE, Cristina Kirchner e Alberto Fernández / AR, Dilma Rousseff e Lula da Silva / BR. A pantomima oculta os interesses de fundo.
Afetos de solidariedade e empatia com a dor das individualidades e coletividades são entorpecidos pelas leis do Estado (vide a Terceirização). O filme dos irmãos Joel e Ethan Coen, Onde os fracos não tem vez, é uma metáfora da distopia contemporânea que une arrogantes e ressentidos contra o Estado de direito democrático. O troféu de “psicopata mais realista” ao ator Javier Bardem deve ser estendido a Hayek, Mises e Friedman. Para saber o nome do genocida verde-amarelo, na pandemia, basta ouvir os mortos. A campanha contínua de desmoralização das vacinas e o atraso criminoso na compra dos imunizantes ceifaram sonhos. Centenas de milhares de óbitos pedem ainda por justiça.
O neocolonialismo explora o racismo étnico, religioso, eugenista – e o nanorracismo dos gracejos estigmatizantes que despertam o riso dos descendentes da “casa grande”. Daí os afetos da pseudo superioridade colonialista de brancos sobre negros, indígenas e emigrantes de regiões periféricas. O afluente patriarcal contribui com o sexismo na violência linguística e física contra mulheres, gays e trans. Nenhuma nação cruzou ilesa pelo supremacismo vindo com as caravelas da velha Europa.
A civilização ocidental moldada por séculos de governos expropriadores foi incapaz de resolver os principais problemas aos quais sua existência deu origem, o mimetismo e a viralatice. Conforme Contardo Calligaris, em Hello, Brasil!, “de colonizador e de colono todo brasileiro tem um pouco”. Cabe à esquerda resolver a equação, reinterpretar as ruínas dos povos originários e se redescobrir.
Um bicho de 7 cabeças
As representações para legitimar o sofrimento se inserem no léxico das classes dirigentes, com três argumentos ideológicos: (a) proprietarista – eu sou o dono; (b) empreendedorista – eu sou foda e; (c) meritocrático – eu sou o melhor. Esse é o estofo narcísico do mito de que “a desigualdade moderna é justa, decorre de um processo livremente escolhido em que todos têm as mesmas oportunidades de aceder ao mercado e à propriedade, e se beneficiam da acumulação dos ricos, tidos como os mais empreendedores, mais merecedores e mais úteis”, ironiza Thomas Piketty, em Capital e ideologia.
Sem o arcabouço de justificação, as críticas antissistêmicas implodiriam os pilares da opressão. A dialética da dor é simples: maior concentração da propriedade, mais desequilíbrio; maior apego ao empreendedorismo, mais precarização do trabalho; maior crença na meritocracia, mais iniquidade.
As desigualdades sociais, de raça, gênero e a falta de diretrizes equitativas não são disfunções do sistema, mas a essência do programa político das “elites”. A riqueza dos cinco maiores bilionários do mundo dobrou desde 2020; mas para 60% da população (5 bilhões de habitantes) diminuiu, diz o relatório Oxfam.
Regimes discriminatórios acentuam a complementaridade das classes e escondem os mecanismos da superexploração nos discursos de uma falsa colaboração. A hegemonia neoliberal esparge a desindustrialização, a fome, a morte. A mais-valia mostra a garra selvagem nos esgares totalitários do mercado. A polarização impingida na lógica da barbárie exige a urgente definição de conceitos. Uma coisa é o joio da demagogia autoritária, outra é o trigo de uma democracia solidária.
No país, os neoliberais apoiam no Congresso as medidas regressivas de proteção ao meio ambiente para “passar a boiada”. No plano estadual e municipal, escassos cuidados ambientalistas cedem às desregulamentações.
No Rio Grande do Sul, o poder facilita as enchentes devastadoras. Farsantes com coletes da Defesa Civil, na TV, agem como se não tivessem culpa no cartório pela destruição. O governador gaúcho (retrocesso na legislação ambiental) e o prefeito de Porto Alegre (portões do cais, diques e bombas d’água sem manutenção) são responsáveis pelas políticas de afetos hostis e negacionistas das catástrofes climáticas, sem investimentos de prevenção. Sobreviventes, de luto, apontam o dedo para cima: “Vocês fizeram um bicho de 7 cabeças / Não tem coração que esqueça”.
O governo federal do presidente Lula está presente com iniciativas concretas para a reconstrução das cidades vitimadas, o que repercute na mobilização e no ânimo militante do voluntariado, apesar de o agradecimento do Palácio Piratini dirigir-se nas redes ao bilionário Elon Musk. A chuva não cura o complexo de vira-lata.
Contudo, a dignidade exige os direitos da população para organizar a resiliência. A coragem resgata a comunhão republicana com as cicatrizes dos comuns. A cidadania registra na memória o ar blasé das finanças e do agronegócio que, após dez dias, se soma à corrente de ajuda ao RS com, pasmem, 460 cestas de alimentos para as cozinhas emergenciais.
O número dá a exata dimensão da indiferença, comparado aos aportes do Movimento dos Sem Terras, dos Sem Tetos, dos Pequenos Agricultores, dos Atingidos pelas Barragens. Bem falava aquele alemão que “a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores” – com os afetos do trabalho.
*Luiz Marques é professor de ciência política na UFRGS. Foi secretário estadual de cultura do Rio Grande do Sul no governo Olívio Dutra.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA