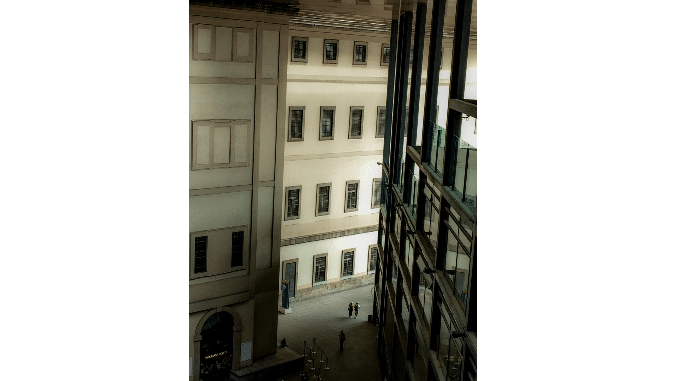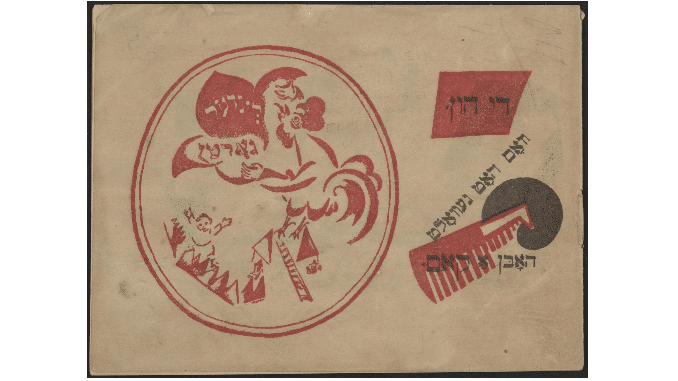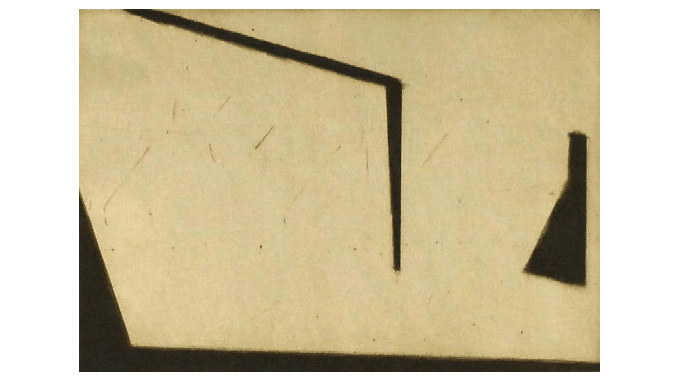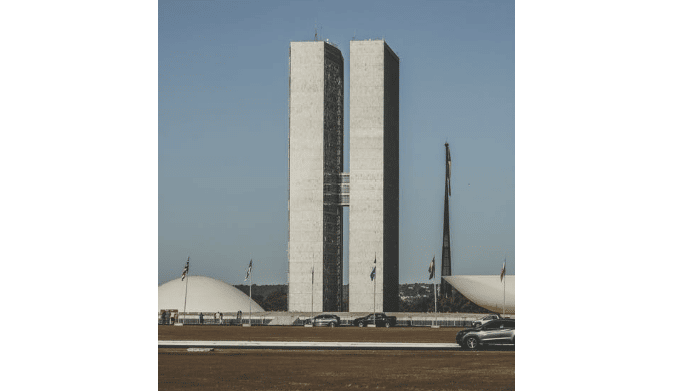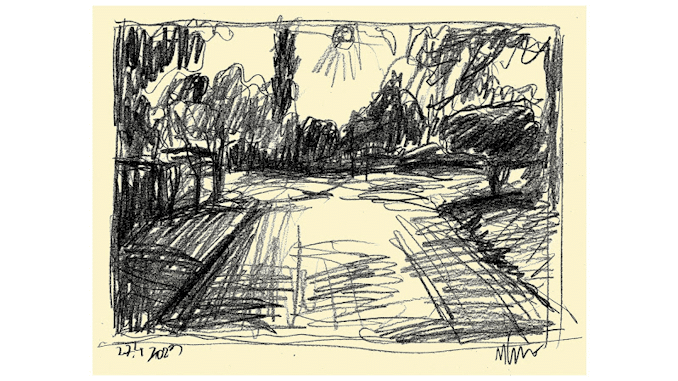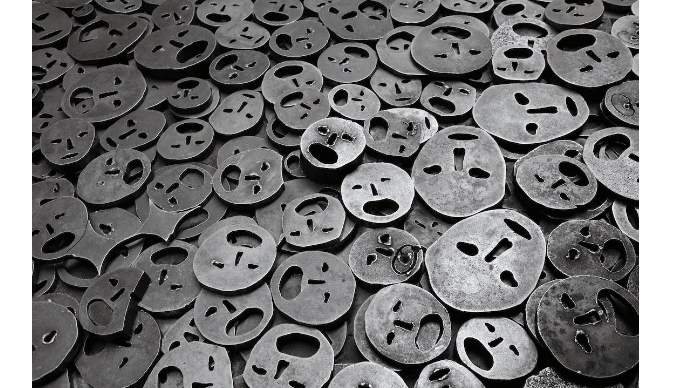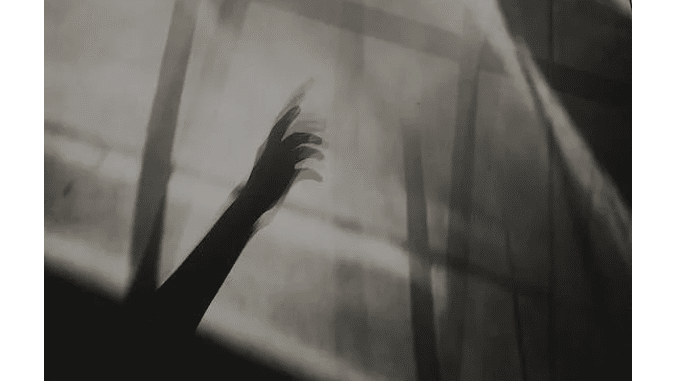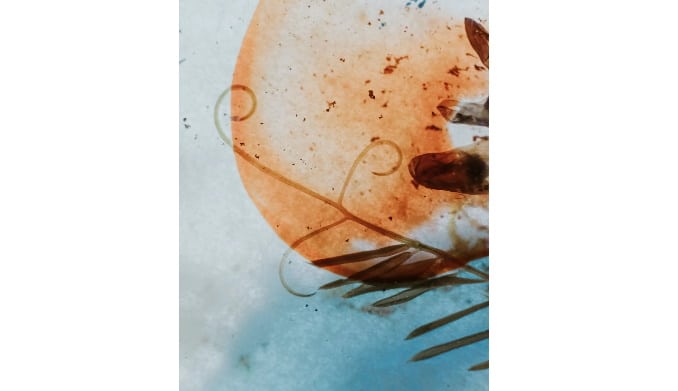Por FLAVIO FONTENELLE LOQUE
Apresentação do livro recém-editado de John Locke
Inverno europeu de 1689, meados de fevereiro. Locke embarca no navio Isabella, em The Briel, Holanda, com destino ao porto de Harwich, Inglaterra, de onde partiria para Londres e colocaria fim a um exílio de cinco anos e meio. Em setembro de 1683, quando optou por deixar seu país, seus medos eram a prisão e, talvez, a morte. Já haviam se passado os anos da Crise de Exclusão (1679-1681), a frustrada tentativa de retirar da sucessão real, pelo fato de ser católico, aquele que viria a se tornar Jaime II, mas as conturbações que eclodiram em junho de 1683, decorrentes do Complô de Rye House, suposto plano para assassinar Carlos II e seu herdeiro, fizeram recrudescer a tensão entre a Coroa e seus opositores.
Era de se esperar que houvesse represália. Homem reservado, mas visceralmente envolvido com a política inglesa desde que, em 1666, conhecera, em Oxford, Anthony Ashley Cooper (1621-1683), o futuro primeiro conde de Shaftesbury, Locke anteviu o que lhe poderia advir. Os realistas sabiam de que lado ele estava, já que durante anos estivera muito ligado a Shaftesbury, expoente político dos whigs, em cuja casa residiu por mais de uma década. É difícil dizer se e em que medida Locke participou de conspirações, mas se pode afirmar com segurança que, nesse período, começo dos anos 1680, ele compunha os Dois tratados sobre o governo e, assim, elaborava uma apologia do direito de resistência ativa, ponto culminante de sua resposta ao absolutista Robert Filmer (c. 1588-1653), cuja obra Patriarca: uma defesa do poder natural dos reis contra a liberdade inatural do povo acabara de ser editada.
Com a prisão e a morte de alguns opositores da Coroa, como Algernon Sidney (1622-1683), Locke julgou que a retaliação poderia alcançá-lo; por causa disso, compôs um testamento e partiu às pressas para a Holanda, imaginando que talvez jamais pisasse novamente em solo inglês. Seu regresso se deu apenas quando Guilherme III e Maria II assumiram o trono. A Inglaterra que deixou atrás de si era muito diferente, portanto, daquela a que retornou, ao menos quanto ao cenário político. A chamada Revolução Gloriosa havia se consolidado.
Até voltar do exílio na Holanda, Locke não publicara nada de relevância filosófica: poemas em latim e inglês, participações na Philosophical Transactions of the Royal Society, recensões na Bibliothèque Universelle & Historique, além de um resumo em francês do Ensaio sobre o entendimento humano. Talvez tenha ainda participado da composição de As constituições fundamentais da Carolina, em 1669, e de um panf leto político anônimo, Carta de uma pessoa de qualidade a seu amigo no campo, impresso em novembro de 1675, cuja recepção negativa, provocada por seu caráter sedicioso, explicaria sua partida quase imediata para a França, onde permaneceria até maio de 1679 (Locke alegou, no entanto, problemas de saúde).
Seja como for, o fato de até seu retorno do exílio na Holanda ele ter publicado relativamente pouco não significa que não tenha se dedicado à escrita: seus manuscritos, parte dos quais até hoje inéditos, comprovam o quanto ela era fecunda. Em 1689, porém, Locke resolveu dar a lume seu pensamento, ainda que duas das obras que então publicou não estivessem plenamente acabadas: um pedaço do primeiro dos Dois tratados sobre o governo se perdera, e o Ensaio sobre o entendimento humano padecia de certa prolixidade atribuída à sua redação descontínua. Nas edições subsequentes, Locke não buscou corrigir esses defeitos por ele próprio apontados, o que parece indicar que não os considerava assim tão sérios.
Do ponto de vista filosófico, as obras se sustentavam. Como dito há pouco, os Dois tratados foram em boa parte compostos no início dos anos 1680 (entre 1679 e 1683, as datações variam), mas é certo que receberam acréscimos posteriores e que sua finalização se deu quando Jaime II já não era mais rei. A escrita do Ensaio, por sua vez, remonta a 1671, data de seus dois primeiros rascunhos, A e B, e se estendeu no mínimo até 1685, ano atribuído ao rascunho C. Publicados em Londres no outono europeu de 1689, os Dois tratados e o Ensaio foram impressos com o ano 1690, e apenas este último foi assinado por Locke. Sua obra política chegou ao público anonimamente, assim como a Carta sobre a tolerância, a terceira grande publicação de 1689, esta ocorrida no mês de abril, em Gouda, Holanda, sob os cuidados de Philip van Limborch (1633-1712), a quem foi dedicada.
Escrita originalmente em latim no final de 1685, ela foi traduzida para o inglês por William Popple (1638-1708) logo depois de publicada e teve duas edições londrinas consecutivas: a primeira em outubro de 1689, e a segunda, corrigida, em março de 1690. É bastante conhecida a afirmação de Locke no codicilo a seu testamento de que essa tradução se realizou sem sua autorização ou colaboração (o original, “without my privity”, tem sentido controverso), mas cabe ponderar que ele sabia de seu andamento (cf. Correspondência, ed. de Beer, v. III, 1147) e nada fez para impedi-lo.
Mais do que isso, numa passagem da Segunda carta sobre a tolerância (ed. 1690, p. 10; Works, ed. 1823, v. VI, p. 72), Locke parece ter chancelado o resultado do trabalho de Popple, dizendo que poderia ter sido feito “mais literalmente”, mas que o “tradutor não deve ser condenado” por expressar o sentido do texto com palavras mais vivas do que as do autor. Em sua tradução inglesa, a Carta recebeu um prefácio que, por ausência de identificação, não se podia saber que era do tradutor. Aos leitores atentos, contudo, ele deve ter gerado certo estranhamento, pois exaltava uma “liberdade absoluta” que não condizia com os limites à tolerância defendidos na Carta.
Àquela altura, discutiam-se na Inglaterra duas alternativas para lidar com os conflitos religiosos: compreensão e indulgência, as quais, aos olhos de Popple, seriam uma paliativa, outra maléfica. Em carta a Limborch de 12 de março de 1689, Locke explica o que estava em jogo: “A questão da tolerância foi assumida pelo Parlamento sob um duplo título, a saber: compreensão e indulgência. O primeiro significa a extensão das fronteiras da Igreja com vistas a incluir um maior número pela remoção de parte das cerimônias. O segundo significa a tolerância daqueles que ou não querem ou não são capazes de se unir à Igreja Anglicana nos termos oferecidos por ela” (Correspondência, ed. de Beer, v. III, 1120).
A proposta de compreensão foi rejeitada, mas aprovou-se a indulgência na chamada Lei da Tolerância, de 24 de maio de 1689. Com ela, não foi abolida a legislação contra a dissidência religiosa, mas apenas suspensas as penas correspondentes a uma parte dessa legislação. Em termos práticos, isso significa que algumas discriminações foram preservadas, como as decorrentes da Lei do Teste, em vigor desde 1673, cuja finalidade era assegurar que dissidentes não assumissem cargos públicos. Aos antitrinitários e aos católicos nada foi concedido. A ementa da Lei da Tolerância não deixa dúvida quanto a seu objetivo: “isentar os súditos protestantes de suas majestades, os quais são dissidentes da Igreja Anglicana, das penalidades de certas leis”. Os anglicanos mantiveram assim seus privilégios, além de deixarem intocada a estrutura de sua igreja, que passou a coexistir a partir de então com as assembleias dos dissidentes, dado terem eles ganhado a concessão legal para realizar cultos públicos.
Em nova carta a Limborch, agora de 6 de junho de 1689, Locke tece um comentário elucidativo a esse respeito: “Sem dúvida você já deve ter ouvido isto: a tolerância, finalmente, foi agora estabelecida por lei no nosso país. Não talvez tão ampla em abrangência, como possam querer você e aqueles como você, que são verdadeiros cristãos e estão livres da ambição ou da inveja. Ainda assim, até agora, ela representa um progresso. Espero que com essas primícias tenham sido lançadas as fundações daquela liberdade e paz na qual a igreja de Cristo há de um dia se estabelecer. Ninguém está inteiramente impedido de realizar seu próprio culto ou suscetível a penalidades exceto os romanos, a menos que estejam dispostos a fazer o juramento de aliança e a renunciar à transubstanciação e a certos dogmas da Igreja Romana” (Correspondência, ed. de Beer, v. III, 1147).
Como se pode notar, a Lei da Tolerância não trouxe nenhum benefício para os católicos, que só eram admitidos depois de renunciar à supremacia do papa – era esse o intuito do juramento de aliança, que remonta a 1605, ano da Conspiração da Pólvora – e de renegar alguns de seus dogmas constitutivos, como a transubstanciação no sacramento da eucaristia. Aceitavam-se os católicos, portanto, desde que… deixassem de ser católicos! Deve-se notar aqui, contudo, que há dois elementos em questão: um de natureza política, outro de natureza doutrinal. Ao menos para Locke, como claramente se percebe na Carta, a rigidez e a pluralidade dogmática geram divergências que poderiam ser evitadas, e ele chega a defender, na obra A razoabilidade do cristianismo (1695), que de um cristão deve-se exigir assentimento a apenas uma proposição: Jesus Cristo é o Messias (e, a rigor, a alguns artigos que lhe são concomitantes: o de que Jesus ressuscitou e de que é o legislador e juiz supremos; cf. RC, §§ 291, 301).
Todas as outras crenças seriam inessenciais para a salvação e nunca deveriam justificar a separação entre os cristãos. Como atesta o post scriptum à Carta, esse mesmo raciocínio se aplica ainda aos ritos e implica uma redução ao mínimo das “coisas necessárias” em oposição às “indiferentes” à salvação. No léxico teológico da época, esse modo de conceber a religião cristã recebia o rótulo de latitudinário e era um dos traços precípuos dos arminianos (ou remonstrantes), com quem Locke haveria de se identificar na Holanda, pois eles também faziam desse minimalismo em religião uma das razões para a tolerância. Quanto à submissão ao papa, ela realmente era um perigo, supunha-se, pois, em caso de desentendimento entre Roma e Londres, os católicos poderiam trair o rei de que eram súditos. É assim que, na Carta, mas também já no Ensaio sobre a tolerância, escrito em 1667, Locke reivindica a exclusão dos católicos.
Na Inglaterra do século XVII, ao se tratar da tolerância, discutia-se a possibilidade de convívio entre os anglicanos, adeptos da igreja oficial, o heterogêneo grupo dos dissidentes (entre os quais presbiterianos, independentes, quakers e batistas se destacavam) e os católicos. Ao longo da Dinastia Stuart, iniciada com Jaime I em 1603, os avanços e recuos relacionados à tolerância em certa medida espelharam os embates entre a Coroa e o Parlamento, cujos pontos culminantes foram a deposição de Jaime II (1688) e, anos antes, as guerras civis (1642-1649) que levaram ao regicídio de Carlos I, em 29 de janeiro de 1649, e à instauração temporária da República.
Durante todo esse período, debatia-se de maneira acirrada a limitação do poder real e o papel que a Câmara dos Lordes e dos Comuns deveria desempenhar, criando-se assim um espectro político variegado – de absolutistas defensores do direito divino aos levellers – no qual a liberdade e a igualdade dos indivíduos era um componente nuclear e controverso. Não é à toa que Locke precisou afirmar na Carta que a igreja é uma associação voluntária. Uma das dimensões políticas da religião no início da Modernidade revela-se justamente no esforço por parte do poder civil em impor uma religião comum a todos os súditos. Veja-se, a esse respeito, o caso mais emblemático de todos: a situação dos protestantes na França depois da revogação do Edito de Nantes (1685).
Ao longo de sua vida, caso se compare o Primeiro (1660) e Segundo (c. 1662) Opúsculos sobre o governo com a Carta sobre a tolerância, é fácil perceber que a posição de Locke se alterou substancialmente. Num primeiro momento, em resposta à obra A grande questão sobre as coisas indiferentes no culto religioso (1660), de Edward Bagshaw (1629-1671), ele conferia ao poder civil um direito de regulação que, a seus olhos na maturidade, haveria de parecer não apenas excessivo, mas também contraproducente.
Ao discutir na Carta o pretenso caráter sublevador das assembleias religiosas de dissidentes, Locke argumenta que sedições e conjurações não têm relação alguma com a confissão religiosa de quaisquer das igrejas dissidentes, mas com a discriminação a que estavam submetidas. Estivessem elas livres para atuar, que razão poderiam ter seus membros para se rebelar contra o poder civil? No fundo, a tentativa de instituir uma uniformidade referente à doutrina e ao culto é a grande razão dos conf litos. Em Locke, ou melhor, no Locke que emerge a partir do Ensaio sobre a tolerância (1667), os limites do que é tolerável continuam a se justificar por razões políticas (inclusive no caso dos ateus, cuja exclusão se deve às implicações práticas de sua descrença), mas essas razões não mais chegavam ao ponto de admitir que o poder civil concebesse e regulasse as “coisas indiferentes” tal como defendido nos Dois opúsculos sobre o governo.
A Limborch, em 10 de setembro de 1689, Locke escreveu: “Os homens sempre diferirão em questões religiosas e os partidos rivais continuarão a discutir e guerrear entre si a menos que o estabelecimento de uma liberdade igual para todos crie um vínculo de caridade mútua por meio do qual todos possam se reunir num único corpo” (Correspondência, ed. de Beer, v. III, 1182).
Se há unidade possível, portanto, ela não há de decorrer da uniformidade, mas da admissão das diferenças. Em termos políticos, isso significa que o poder civil deve transferir para os indivíduos a responsabilidade por sua própria salvação. Conforme sua consciência, cada um deve aderir às crenças e cultos que julgar adequados e, assim, cultuar a Deus da maneira que lhe parecer correta, desde que não afete a ordem pública. A tolerância precisa ter limites, afinal, mas convém observar que suas fronteiras não são demarcadas pela errância dos indivíduos (admitindo-se que ela exista) na busca da salvação: o erro de alguém pode lhe causar a própria miséria, mas é inócuo para os outros, como afirma Locke na Carta.
Os limites à tolerância apenas se justificam tendo em vista o que ameaça a sociedade enquanto organização política, e isso jamais ocorre quando alguém se perde no caminho para Deus. Evidentemente, Locke não despreza o cuidado pastoral com os errantes, que chega a ser um dever para os cristãos, mas esse cuidado tem de se realizar sem o uso da força e nunca pode estar a cargo do poder civil.
Estado e Igreja têm finalidades diferentes: a um cabe a preservação e promoção dos bens civis; a outro, o cuidado da alma com vistas à vida eterna. Interferências mútuas são necessariamente deletérias. Essas duas definições, no entanto, não constituem um argumento a favor da tolerância. A rigor, elas apenas refletem a tese central da Carta: a necessidade de se distinguir os fins do Estado e da Igreja. Por que, no entanto, o cuidado com a salvação das almas não deve pertencer ao Estado?
Em sua resposta a esse problema, Locke se vale de algumas razões, como a de que o uso da força é inútil na formação de crenças: como poderia o Estado cuidar da salvação das almas, se o único meio de que dispõe é incapaz de alcançar o objetivo pretendido? Dado que o entendimento humano não pode ser demovido senão por argumentos, é impossível que a coerção altere a crença dos indivíduos e os faça acreditar na verdade que os salvaria. O máximo que a coerção faz é gerar hipócritas, supostos convertidos que almejavam, isso sim, livrar-se da perseguição. Eis, portanto, o mais célebre (e debatido) argumento para se distinguir os fins do Estado e da Igreja: meio de atuação característico do poder civil, a força é inadequada para a formação de crenças, o que significa que o cuidado com a salvação não pode ser uma finalidade do Estado.
Acontece, entretanto, que o argumento da inadequação da força desempenha ainda outro papel no raciocínio de Locke. Se esse argumento prova que o Estado não detém os meios apropriados para converter as almas, ele também opera como uma razão para explicar por que motivo os indivíduos jamais confiariam ao poder político o cuidado com a salvação das almas, caso lhes coubesse determinar seus fins. Que sentido poderia haver em conceder ao Estado o cuidado com a salvação das almas, se lhe falta um instrumento propício para tanto?
Sob essa perspectiva, o argumento da inadequação da força acaba por se entrelaçar a outro, que se pode bem chamar de argumento do encargo, o qual permite que se perceba com clareza que, em última instância, o que está em jogo na distinção entre os fins do Estado e da Igreja é a legitimidade do poder político. Ao defender a tolerância religiosa, o intuito de Locke não é advogar a favor de uma política estatal, mas da delimitação do próprio Estado, cujas funções são contrastadas com as da Igreja.
Pouco depois de publicada, a Carta ensejou a composição de duas críticas. A primeira, ainda em 1689, por Thomas Long (1621-1707): A “Carta sobre a tolerância” decifrada e o absurdo e impiedade de uma tolerância absoluta demonstrados, que Locke não se deu ao trabalho de responder diretamente. A segunda, em 1690, foi O argumento da “Carta sobre a tolerância”, brevemente analisado e respondido, de Jonas Proast (c. 1642-1710), capelão do All Souls College, em Oxford (1677-1688, 1692-1698), mais tarde arcediago de Berkshire (1698-1710), com quem Locke travou uma controvérsia que se estendeu até o final de sua vida: a Quarta carta sobre a tolerância é inacabada e veio a público apenas na edição das Obras póstumas, de 1706. Sempre sob o gênero epistolar e de maneira anônima ou pseudonímica, essa controvérsia – um total de quase 600 páginas! – compõe-se das seguintes publicações:
(i.a) LOCKE. Carta sobre a tolerância (Gouda, 1689), anônima; tradução inglesa de William Popple, acrescida de Prefácio do tradutor (Londres, 1. ed.: 1689; 2. ed. revista: 1690);
(i.b) PROAST. O argumento da “Carta sobre a tolerância” brevemente analisado e respondido (Oxford, 1690), anônimo;
(ii.a) LOCKE. Segunda carta sobre a tolerância (Londres, 1690), assinada por Filantropo;
(ii.b) PROAST. Terceira carta sobre a tolerância (Oxford, 1691), anônima;
(iii.a) LOCKE. Terceira carta sobre a tolerância (Londres, 1692), assinada por Filantropo;
(iii.b) PROAST. Segunda carta ao autor das Três cartas sobre a tolerância (Oxford, 1704), assinada por Filocristo;
(iv.a) LOCKE. Quarta carta sobre a tolerância (Londres, 1706, Obras póstumas).
Tomando como medida as datas de publicação, a troca de cartas foi bastante intensa em seus anos iniciais, mas ficou interrompida por mais de uma década, até que Proast reacendeu o debate, incitado por uma publicação anônima ocorrida em 1704, O caráter justo e imparcial do clero da Igreja Anglicana, e pela obra Os direitos dos dissidentes protestantes, de John Shute (1678-1734), cuja primeira parte também saiu naquele ano.
A bem da verdade, a maturidade e a velhice de Locke foram marcadas por diversos embates teóricos, nos quais ele se engajou sem reservas. Outros dois desses embates, centrados em implicações teológicas de seus escritos, deram-se com Edward Stillingf leet (1635-1699), a propósito do Ensaio sobre o entendimento humano, e com John Edwards (1637-1716), acerca de A razoabilidade do cristianismo. Anos antes, Locke já se contrapusera a Stillingfleet, mas tendo a tolerância como tópico: seu objetivo era responder ao sermão O dano da separação (1680) e, em especial, à obra A irrazoabilidade da separação (1681). Esse primeiro confronto entre eles, porém, continua muito desconhecido, já que a Defesa da não conformidade (ou Notas críticas) de Locke, datada de 1681-1682, permanece inédita.
De forma pública e detalhada, tratando especificamente da tolerância, foi mesmo com Proast que Locke haveria de debater, já que seus outros principais escritos sobre o tema, datados dos anos 1660, também foram pela primeira vez publicados em sua totalidade só muito tardiamente: o Ensaio sobre a tolerância, em 1876, na Vida de John Locke, de H. R. Fox Bourne; os Dois opúsculos sobre o governo, em 1961, numa edição preparada por C. A. Viano.
A crítica de Proast a Locke busca derrubar a tese da distinção entre os fins do Estado e da Igreja. De sua perspectiva, há um único argumento para sustentá-la, o da inadequação da força, e esse argumento é falho. A força pode sim, pensa Proast, contribuir para a formação de crenças. Muitos indivíduos, tidos por ele como opiniáticos, recusam-se a considerar as razões que lhes são apresentadas para avaliar suas crenças, o que significa dizer que um apego irracional os impede de dar ouvidos a argumentos ou posições que lhes são contrários. Frente a tal fechamento e excetuando-se a atuação da graça divina, só uma alternativa se coloca: o uso da força.
Ainda do ponto de vista de Proast, a força desempenha um papel “indireto e à distância” na formação de crenças: de fato, ela é incapaz de gerá-las, mas pode fazer com que os indivíduos, ao serem obrigados a analisar o que antes desprezavam, sejam levados a elaborar uma reflexão que de outro modo não elaborariam e, por conseguinte, a mudar de crença. Sendo assim, caso se possa atribuir à força essa capacidade, deve-se admitir que ela seja um meio passível de ser usado na salvação das almas; mais do que isso, caso se reconheça que há ainda a necessidade de usá-la, pode-se então defender que o Estado a empregue na promoção da religião ou, nos termos de Proast, da verdadeira religião. Se ao poder político cabe cuidar dos bens civis, por que ele haveria de se abster da tarefa infinitamente mais importante de salvar as almas, se isso pode estar a seu alcance? Não se justificaria, portanto, a distinção entre os fins do Estado e da Igreja.
Essa crítica provocou vários desdobramentos conceituais no debate entre Locke e Proast. A título introdutório, contudo, convém delinear duas linhas argumentativas a partir das quais se pretende justificar a maior ou menor amplitude dos fins do Estado: por um lado, inevitavelmente, a discussão sobre a utilidade da força na formação de crenças; por outro, a divergência sobre o conhecimento que se pode alcançar da verdadeira religião. Quanto à força, Locke inicialmente parece conceder que, ao menos em certa medida, ela pode sim ter uma utilidade indireta, mas, à medida que a controvérsia se desenvolve, fica claro que, a seus olhos, se a força porventura vier a produzir o efeito desejado, ele será apenas fruto do acaso.
Essa afirmação basta para que Locke mantenha sua tese fundamental, mas ele busca corroborá-la alegando que, mesmo se a força fosse útil, seria impossível aplicá-la sem que ocorressem injustiças e sem que se causasse, no cômputo geral, mais dano do que bem, de modo que os indivíduos jamais concederiam ao Estado o direito de empregá-la em questões religiosas. Entre as objeções que podem ser levantadas à aplicação da força, talvez a mais importante seja a seguinte: como efetivamente saber quando alguém já analisou os argumentos que lhe são apresentados? Ou a conversão é o único sinal de que alguém refletiu como se deve? Dada a natureza própria do entendimento, que é íntima ou interna, não há um critério exterior que permita estabelecer quando a reflexão se fez a contento, e, por conseguinte, torna-se impossível determinar por quanto tempo e a que grau de força um dissidente deve ser submetido. No limite, como se pode saber o que se passa na mente do dissidente que está sendo subjugado? A que sinal se pode recorrer para pôr fim à submissão exceto a conversão? Quem garante, contudo, que ela seja sincera? E os adeptos da religião oficial, eles de fato refletiram sobre sua crença? Caso alguns deles não o tenham feito, não deveriam também, por coerência, ser subjugados? Por tudo isso, ainda que se conceda abstratamente a utilidade “indireta e à distância” da força na conversão das almas, seria inevitável que seu emprego não resultasse em abusos, o que significa que os indivíduos sob hipótese alguma atribuiriam ao Estado a tarefa de cuidar da salvação.
O uso da força em questões religiosas é tanto mais reprovável porque, justificado à moda de Proast, parece pressupor ser impossível que, depois de refletir sobre os argumentos favoráveis à (suposta) verdadeira religião, um dissidente mantenha sua crença de uma maneira que se possa classificar como intelectualmente respeitável. A resposta de Locke à crítica que recebera explora, assim, uma segunda linha argumentativa, a qual explicita o dogmatismo de seu adversário, que tende a supor que a dissidência sempre resulta de uma falha ao mesmo tempo moral e intelectual.
Aos olhos de intolerantes como Proast, há razões suficientes para que se reconheça e creia na verdadeira religião, de modo que toda dissidência é tida não simplesmente como um erro, mas também como opiniaticidade ou até malícia. Trata-se de uma posição que classifica a crença religiosa dos indivíduos em certas e erradas, como se a distinção entre verdade e falsidade fosse inconteste e como se todo erro (ou suposto erro) só pudesse decorrer de alguma forma de desvio. Já na Carta, Locke se opôs radicalmente a esse tipo de postura, ao afirmar que “cada um é ortodoxo para si mesmo”. O que ele defende, tal como desenvolvera no Ensaio sobre o entendimento humano, é que em assuntos religiosos é impossível realizar demonstração, exceto da existência de Deus (cf. Ensaio, IV. 10). Demonstrar a existência de Deus, todavia, não implica demonstrar a verdade desta ou daquela religião, tampouco desta ou daquela igreja. Essas crenças não passam de opinião ou fé, jamais se enquadram na categoria de conhecimento.
Quando, ainda no início da Carta, Locke identifica com clareza três argumentos para sustentar a distinção entre os fins do Estado e da Igreja (sendo os dois primeiros o da inadequação da força e o do encargo), ele implicitamente recorre, no terceiro deles, à contraposição entre conhecimento e crença. Seu intuito é provar que, mesmo que se concedesse ao Estado a função de cuidar da salvação das almas e que a força fosse um meio adequado para tanto, isso redundaria num absurdo, pois diversas religiões seriam impostas, cada uma num país diferente. A razão é simples: em cada Estado, o detentor do poder político toma a sua própria religião como a verdadeira. E por que isso acontece?
Porque todos estão convictos de que possuem a verdade. A insistência de Proast de que a força deve ser usada na promoção da religião radica-se, pois, não apenas na constatação de sua utilidade “indireta e à distância” e na pretensa necessidade de que seja empregada, mas também na suposição de que há uma verdadeira religião, perfeitamente cognoscível, única em nome da qual seria legítimo recorrer à força. É apenas em nome da verdade, dessa verdade que se quer detentora de provas seguras, que se justifica a imposição. Ironicamente, justo esses que acusam os outros de serem opiniáticos são os que colocam sua própria crença acima de qualquer suspeita. Não resta dúvida: a pretensão de possuir a verdade é a raiz da intolerância.
Como dito há pouco, Locke não considera que a verdadeira religião seja demonstrável, mas isso nunca o impediu de crer no cristianismo e de ser adepto da Igreja Anglicana. Afirmar a limitação do conhecimento humano em assuntos religiosos não implica tornar-se ateu ou agnóstico. Talvez a maior consequência da crítica à pretensão à verdade seja uma mudança de ênfase na vida religiosa: mais do que a doutrina, há que se valorizar a ação. Para Locke, e o preâmbulo da Carta é um belo exemplo disso, sobretudo na menção ao capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, em que Paulo fala da “fé agindo pela caridade” (Gl 5:6), o mais importante é buscar a virtude, o amor ao próximo; em suma, viver segundo o exemplo de Cristo.
Locke critica ferrenhamente todas as pessoas, em especial os clérigos, cujas preocupações se concentram nos dogmas e em sua imposição, tantas vezes cruel, aos outros. A seus olhos, eles esquecem o fundamental, se é que não se valem da religião para mascarar interesses escusos. Falando metaforicamente, não raro é de suspeitar que eles estejam mais interessados no benefício do velocino do que no alimento da ovelha (cf. Ensaios políticos, Tolerância A, p. 286). Ainda no preâmbulo da Carta, afirma-se com todas as letras que aqueles que são coniventes com vícios opõem-se muito mais à glória de Deus do que os dissidentes que têm uma vida inocente.
Esse modo de compreender a religião cristã, que, assim como o latitudinarismo, é afeito à perspectiva dos arminianos, acaba por se constituir num novo argumento a favor da tolerância. Nesse sentido, o Evangelho e a razão confluem em sua defesa, como o próprio Locke admite, resguardados os limites políticos para que a ordem pública não seja afetada. Na Carta, porém, Locke não chega a mencionar outras interpretações da Sagrada Escritura, notadamente a de Agostinho (354-430), arauto dos intolerantes, que buscou justificar a perseguição a partir de algumas passagens bíblicas, como a célebre parábola do banquete, tal como ela ocorre em Lucas (14:15-24). Coube a Pierre Bayle (1647-1706) o enfrentamento direto de Agostinho numa obra em quatro volumes, publicados de 1686 a 1688, intitulada Comentário filosófico sobre essas palavras de Jesus Cristo “Obriga-os a entrar”.
No início da Modernidade, defender a tolerância religiosa significava, nos termos mais concretos possíveis, opor-se ao uso da força nas questões religiosas, isto é, opor-se à tortura, à prisão, à taxação, ao confisco, à pena capital e ao exílio, explicitando as injustiças ou abusos constitutivos da busca pela uniformidade religiosa. Tal como Locke escreveu em carta a Limborch, se há alguma unidade alcançável entre os membros de uma sociedade, ela não decorre nem pode decorrer da perseguição. Não se chega a fazer, entretanto, uma apologia da diversidade como algo intrinsecamente valioso. Locke a defende, antes, como alternativa à uniformização, que é politicamente insustentável.
Sob essa perspectiva, muito embora o Segundo tratado sobre o governo não aborde diretamente o tema da tolerância, pode-se dizer que a defesa da dissidência religiosa por meio da distinção entre os fins do Estado e da Igreja é análoga à crítica ao absolutismo. Num caso e noutro, trata-se de salvaguardar para os indivíduos um âmbito de liberdade e direito que deve estar protegido de qualquer intervenção arbitrária, isto é, de qualquer intervenção que extrapole os fins passíveis de serem atribuídos ao governo civil.
Em síntese, tomando a Carta sobre a tolerância em sua totalidade, é possível afirmar que Locke se opõe às três grandes linhas a partir das quais a intolerância era tradicionalmente defendida: em primeiro lugar, no que se refere ao aspecto político, discordando que a dissidência por si mesma tivesse qualquer caráter faccioso; em segundo, do ponto de vista eclesiástico, fomentando uma posição conciliadora em termos de doutrina e culto, ao defender que se enfatizem os elementos mínimos fundamentais da religião cristã: acima de tudo, importa a vivência ou prática cristã, não as discussões abstratas; em terceiro lugar, quanto à teologia, resguardando ao indivíduo a capacidade e o direito de buscar livremente a salvação da própria alma sem que isso implicasse que os dissidentes pudessem afetar os outros, influenciando-os negativamente.
A defesa de Locke da tolerância jamais se deu em causa própria, no entanto. Como já dito, ele era cristão e anglicano, embora talvez tenha sustentado posições heterodoxas no final de sua vida. Seja como for, o fato é que Locke considerava a religião um elemento essencial para a compreensão da própria humanidade. É com referência a Deus e à criação, por exemplo, que se fundamenta a moral (cf. Ensaio sobre o entendimento humano, I. iv. 8) e que se justificam a igualdade e a liberdade dos indivíduos (Segundo tratado sobre o governo, §§ 4, 6). Nos Ensaios sobre a lei da natureza (particularmente no sétimo), chega-se inclusive a falar em dever natural de cultuar a Deus.
Por causa disso, a defesa da distinção entre os fins do Estado e da Igreja não deve ser entendida como uma apologia de uma visão secularizante do mundo e da existência humana. Entre outras crenças, Locke sempre sustentou que há vida após a morte e que ela é mais importante do que a vida presente. Ao reivindicar a tolerância, Locke não almeja diminuir o valor da religião, e sim assegurar que o exercício religioso dos dissidentes não sofra restrições nem seja autorizado como uma mera concessão ou indulgência; desde que não afetem os bens civis dos outros, todos os indivíduos devem ter direitos iguais à crença e ao culto.
Nascido em 1632 e tendo testemunhado os eventos maiores da história inglesa do século XVII (as guerras civis, o regicídio de Carlos I, a República, o Protetorado de Cromwell, a Restauração da monarquia, a Revolução Gloriosa), Locke participou das principais questões políticas e intelectuais do seu tempo, que incluíam ainda, no campo filosófico, os avanços na ciência. Para além da composição do Ensaio sobre o entendimento humano, no qual se nota a presença de René Descartes (1596-1650) e Pierre Gassendi (1592-1655), cujas obras Locke conheceu no final dos anos 1650, quando era estudante em Oxford, é representativo de seu pendor científico os contatos que travou com Robert Boyle (1627-1691) e Thomas Sydenham (1624-1689), além de sua eleição para a Royal Society, em 1668.
Em vida, Locke ainda publicou sobre economia e educação: Algumas considerações sobre as consequências da redução do juro e elevação do valor da moeda (1691, mas datado de 1692), a que se seguiram outras obras em teoria monetária, e Alguns pensamentos sobre educação (1693). Se fosse o caso de dimensionar a inf luência de seu legado, não seria exagerado dizer que sua relevância corresponde à amplidão de seus interesses.
Especificamente no que se refere à tolerância, graças ao que hoje se sabe em razão do acesso a seus manuscritos, é provável que o encontro com Shaftesbury tenha alterado o rumo de seu pensamento, mas isso em nada desvaloriza a tese maior que Locke passou a defender a partir do Ensaio sobre a tolerância nem a torna cativa das circunstâncias em que foi concebida. Mantém-se atual a necessidade de distinguir os fins do Estado e da Igreja: por um lado, pela possibilidade de o poder político buscar se legitimar valendo-se da religião (o Estado cooptando a Igreja), por outro, pela persistência de religiosos, tanto clérigos como leigos, assediando o poder político com objetivos que extrapolam os fins admissíveis pela sociedade civil, isto é, tentando pautar a coletividade com base em suas crenças religiosas particulares (a Igreja imiscuindo-se no Estado). O ímpeto opressor dos que se arrogam possuir a verdade ou dos que falam oportunisticamente em seu nome não conhece descanso. A tolerância sempre precisa de defensores.
*Flavio Fontenelle Loque é professor de filosofia na Universidade Federal de Itajubá – campus Itabira. Autor, entre outros livros, de Ceticismo e religião no inicio da modernidade (Loyola).
Referência
John Locke. Carta sobre a tolerância. Organização, introdução e notas: Flavio Fontenelle Loque. Belo Horizonte, Autêntica, 190 págs,