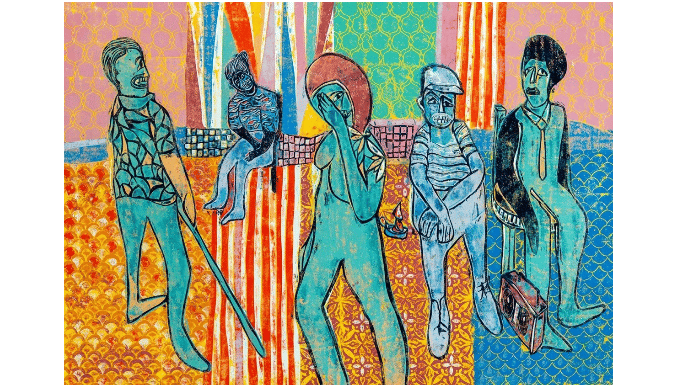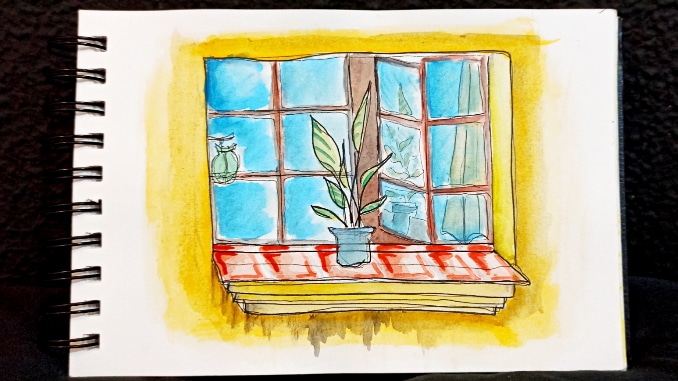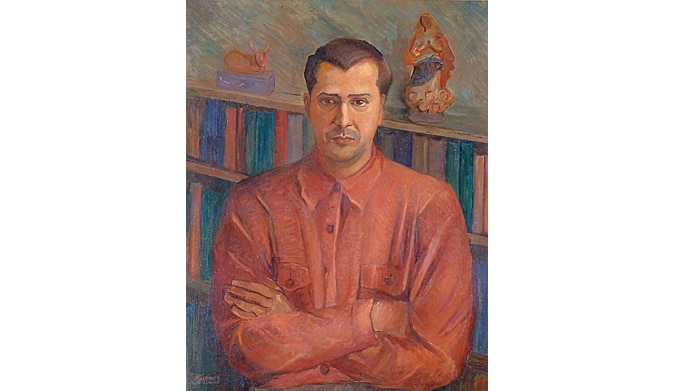Por PEDRO PAULO PIMENTA*
Prefácio da reunião, recém-editada, de dois livros de Denis Diderot
1.
A ideia de que as duas Cartas de Denis Diderot aqui reunidas formam um par depende quase exclusivamente da referência sensorial contida em seus respectivos títulos, “sobre os cegos”, “sobre os surdos-mudos”. Muitas outras coisas parecem separá-las, a começar pelo estilo, demonstrativo na primeira, ensaístico na segunda. A exposição sobre os cegos é ágil e direta, caminha com rapidez rumo ao seu objetivo, passando por três personagens desenhados a partir da vida real – na verdade quatro, se contarmos o apêndice acrescentado posteriormente.
A discussão sobre os surdos-mudos é lenta e digressiva, às vezes parece fora de foco, não tem personagens, e desemboca em um apêndice que, pela sua extensão, ameaça o equilíbrio formal do texto. Enquanto na primeira carta, datada de 1749, Denis Diderot elege uma série de aliados para sustentar as conclusões controversas a que chega, na segunda, de 1751, ele prefere se deter nos adversários. Ambos são escritos experimentais, pois, além de não chegarem a conclusões definitivas, procedem a partir do exame de um repertório de casos: indivíduos cegos aqui, evidências textuais ali.
Há outras afinidades óbvias quando as cartas são lidas em conjunto. A principal delas, eu gostaria de sugerir, é a ideia nítida que elas pintam, na imaginação do leitor, de um novo objeto, livre, autônomo, ativo, dotado de regras próprias: o corpo vivo, materialidade que desponta como pura sensação, que existe por si mesmo, não foi criado, e é, nessa medida, um indício de que a própria ideia de criação se tornou obsoleta. Essa pintura é feita magistralmente por meio de uma hábil combinação entre diferentes perspectivas, à maneira da mônada de Leibniz.
O cego que não vê sente na pele o que escapa aos dotados da visão, e, com isso, tem uma ideia diferente da tão propalada “ordem da natureza”. O surdo-mudo não fala nem ouve, mas gesticula, seu corpo é puro movimento, unidade que configura e reconfigura o espaço à sua volta. O esquema perfeito dessa totalidade integrada é o hieróglifo ou o ideograma. Assim como a verdade da visão está no tato – o olho sente tão fisicamente os objetos que o afetam quanto a pele –, a da fala está no gesto silencioso, primeira figuração do que Robert Bringhurst chamará de “forma sólida da linguagem”.[1]
2.
Denis Diderot entrou para a história da filosofia como um pensador errático, rapsódico, incapaz de produzir um sistema coerente. Confundiram-se, nessa avaliação, duas ordens, a do pensamento e a da exposição, que eram para ele indissociáveis: a elaboração de uma reflexão conceitual coerente, por meio de uma exposição marcada pelas descontinuidades de gênero, forma e estilo. Se tivéssemos que determinar o momento em que a elaboração de fundo ganhou fôlego e direção, teríamos de escolher a Carta sobre os cegos, para uso dos que veem. Os ecos desse texto se encontram por toda parte na produção posterior do filósofo, que, em 1782, reconhece que, se tivesse de alterar o texto, escreveria outro, provavelmente não tão bom. Quer dizer, malgrado imperfeições de composição e estilo, a ideia permanece lá, como germe de tudo o que virá depois, organicamente, a partir dela.
A metáfora vitalista é adequada, pois uma das experiências-limite a que o cego tem acesso privilegiado é, justamente, a da aproximação da morte, que ele, por uma série de razões, receia menos do que os videntes. Tudo se passa como se a própria ideia de vida ganhasse um contorno, na análise das sensações, não a partir da confortável remissão a um “princípio vital”, mas pela determinação dos modos de relação do organismo sensível, no caso, tomado a partir de sua configuração humana.
Chama a atenção na Carta sobre os cegos a perfeita simbiose entre exposição e argumentação. O texto se divide em três seções, elegantemente escandidas no fluxo da escrita, cada uma delas dedicada a um indivíduo cego que Diderot conheceu ou encontrou na literatura, e que lhe fornece a ilustração completa de um dos pontos que compõem o argumento (são cegos que ele torna complementares). Nessa Carta de título provocativo, Diderot faz questão de ser muito claro à destinatária, a srta. Simoneau, e nós, a quem ele concede o privilégio da leitura, só podemos nos beneficiar dessa qualidade.
O tom urbano é perfeito para a enunciação de uma tese de consequências profundas, cujo pressuposto atinge em cheio as pretensões da metafísica clássica. “Com efeito”, escreve Gérard Lebrun, “o cego obriga o moralista ou o metafísico a confessar que sua filosofia não é a obra de um sujeito racional, mas a ideologia de um ser vivo que julga ter com as coisas uma relação que chamamos de visão. Servindo-se apenas de suas perguntas, o cego coloca-nos na mesma posição em que poríamos um ser vivo provido de vários pares de olhos – faz-nos entrar ingenuamente na dimensão da monstruosidade”.[2]
Denis Diderot nos convida a pensar a razão como um poder limitado, não no sentido de uma finitude, em contraste com a plenitude da razão divina, mas de um traço constitutivo do animal humano, que adquire ou inventa esta ou aquela metafísica, a depender do uso integral ou parcial dos sentidos. O modelo se estende aos animais não humanos, que têm, assim, reconhecido um instinto de especulação que os leva a cogitar na experiência por soluções para os problemas que a sensação lhes coloca. De saída, é abalada a pretensão da metafísica a se tornar uma ciência universal, à qual caberia inclusive fornecer o fundamento racional da crença religiosa.
Os cegos de Denis Diderot não são figuras abstratas ou neutras. Em comum, têm uma parcialidade em relação à sua própria condição. Sabem-se diferentes, mas, ao mesmo tempo, sentem a fundo um estranhamento diante da maneira como os videntes enxergam o mundo e extraem, dessa experiência, consequências que para o cego não fazem sentido. Pode parecer espantoso que um cego seja geômetra e ensine essa ciência na Universidade de Cambridge a alunos dotados da visão. Esse espanto é fruto de uma ingenuidade: a geometria não é a língua que Deus escolheu para enunciar o mundo, mas um sistema de signos que descreve relações sensíveis, que podem ser apreendidas e expostas pela visão – o que nos leva a esquecer que o seu fundamento último, como descrição do espaço, são as relações táteis.
Em 1782, uma adição inesperada: uma pequena nota, na qual é introduzida uma quarta personagem, Mélanie de Salignac, jovem cega que Denis Diderot conheceu pessoalmente e que lhe ensinou, com refinamento e precisão, a autonomia e a elevação de uma metafísica que, agora, não parece apenas original, mas, também, sob muitos aspectos, superior à dos videntes, e, nessa medida, indispensável a ela. Mais do que um contraponto crítico, a ordem da jovem cega é como que a verdade subjacente à do leitor que vê.
A fisiologia da mulher cega não é como a do homem cego, e o que ela não vê lhe permite sentir outras coisas, que não são as mesmas que ele sente. Menos afeita ao raciocínio, menos impregnada pela metafísica abstrata, Mélanie abre os olhos de Diderot para as relações sensíveis a partir das quais o animal humano cogita isso que os filósofos gostam de chamar de “natureza” ou “mundo”.
A essa altura, a leitora de filosofia poderia se lembrar que, na metafísica clássica, o modo privilegiado da intuição divina é a visão. Não contente em nomear Deus como arquiteto de infinitas cidades que se sobrepõem umas às outras sob diferentes perspectivas, Leibniz garante, ainda, na Monadologia, que “ele que tudo vê” no universo “poderia ler”, em cada mônada, “tudo o que acontece por toda parte e mesmo o que foi feito e está por sê-lo”.[3]
Com seus cegos e sua cega, Denis Diderot se recusa a lamentar a finitude de criaturas que não veem tudo, celebrando, ao contrário, o privilégio dos seres vivos que, por não verem, compreendem que a ideia de uma visão do todo nunca passou de uma ilusão. Por isso, a estranha cosmologia que a Carta oferece, a certa altura, é uma descrição, em palavras, daquilo que os sentidos do cego percebem, sem, no entanto, nada ver.[4] Caberá à poesia – os modelos de Diderot são Lucrécio e Ovídio – suprir a lacuna deixada pela obsolescência da metafísica.
3.
À primeira vista, o animal desta outra Carta, sobre os surdos-mudos, não é o mesmo que o da primeira, que consome sensação e regurgita reflexão. Está mais para um bicho que fala, gesticula, dança, canta, recita – em suma, expressivo. Pela expressão começam os problemas do texto. Como diz Franklin de Mattos, a Carta sobre os surdos-mudos “não é das mais fáceis de se ler”, não porque seja obscura, mas porque o autor, que na Carta sobre os cegos adotara uma economia expositiva elegantíssima, prefere agora dissimular seus propósitos, cumulando questões diante de um leitor que, de tão perplexo, pode ficar exausto.
Estratégia que nos lança no âmago do que está em questão, e que só vem à tona no final do texto, dedicado à poesia. Pois, “o que define o ‘espírito’ da poesia é justamente o poder de vincular várias ideias a uma mesma expressão, isto é, de transformar o discurso sucessivo em linguagem simultânea (em “hieróglifo” ou “emblema”, como diz a Carta)”.[5] Resgatar o vínculo entre a linguagem e a sensação: imperativo que liga esta segunda Carta à primeira, na qual certo sistema de signos – a metafísica – é desvinculado não de sensações, mas das abstrações às quais se pretendia dar relevo.
Tudo se passa como se a Carta sobre os surdos-mudos demonstrasse pelo avesso a tese que defende a respeito da poesia, vinculando uma única ideia, da unidade fisiológica do espírito humano como fundamento das artes, a uma pletora de questões. Como apreender alguma coisa que não é entidade metafísica, tampouco realidade física, que não se deixa reduzir ao poder de unificação do conceito? Movendo-se agilmente na superfície dos modos da expressão, Diderot nos desvia a cada instante dos atalhos que poderiam nos levar à estabilização que se consuma no entendimento. Exprime, assim, a força inerente à sensação, que dá ao pensamento, que dela deriva, uma dinâmica diferente da capacidade contemplativa da alma cartesiana e mesmo da serenidade afetiva do corpo espinosano.
Tomada por muitos como um pequeno tratado de estética, como um escrito menor, a Carta sobre os surdos-mudos realiza uma revisão dos preceitos da composição retórica, chegando, assim, a uma poética que o próprio Diderot irá aplicar a suas reflexões sobre a arte dramática (que ele mesmo contribui para renovar) e aos exercícios de descrição que pontuam a estranha “crítica de arte” empreendida nos Salões. Cai por terra, nessas reflexões, o lugar de destaque dado ao belo pela tratadística francesa, conceito aparentemente neutro que, no entanto, como mostrara a Carta sobre os cegos, depende de uma concepção muito parcial da sensibilidade humana. Doravante, não cabe ao artista, das palavras, sons ou imagens, imitar a natureza e, depurando-a, chegar à belle nature – tarefa essa, agora sabemos, intimamente ligada aos preconceitos do teísmo. A tarefa dele é outra: significar isso que permite o signo.
Esse remanejamento conceitual acarreta uma redefinição da própria arte, que perde o estatuto intelectual e se torna um experimento físico, desde a sensação do pintor, escultor ou escritor, que maneja seus materiais e constrói com eles uma ideia, até a do espectador, transformado pela experiência do contato físico direto com essas construções ou “máquinas” que são os objetos artísticos. Denis Diderot nunca foi pintor ou poeta, e seus dramas filosóficos foram escritos em prosa.
A palavra traduz a sensação e modula a paixão: é signo daquilo que, por seu turno, a significa. A ideia de ordem, criticada na outra Carta, é agora renovada: à diferença da Natureza que se põe e se faz a si mesma, o discurso se torna, nas mãos do escritor filosófico, a ilustração da unidade do espírito que o produziu, e que, agora sabemos, é pura atividade, ou energia.[6] Se cada gênero da arte tem seu objeto próprio, que não compartilha com os demais, todos têm essa mesma sensualidade que define a experiência artística, situada no escopo mais amplo da experiência sensorial. A arte não imita a natureza, que não é bela; formaliza uma experiência, da sensação, que, em estado bruto, contém os elementos necessários à produção do mais intenso prazer.
4.
Anos mais tarde, encontraremos o filósofo perambulando pelas galerias do Louvre, nas exposições anuais dedicadas aos jovens pintores (os célebres “Salões”), tapando as orelhas com as mãos para escutar melhor os quadros, tentado a tocar com as mãos telas que seus olhos já tocam, e encontrando, no colorido dos quadros de Chardin, a própria substância das coisas imitadas.[7] O objeto artístico, fabricado pela hábil inteligência do pintor ou escultor, torna-se ocasião para uma experiência singular, de aguçamento da percepção, refinamento da sensação e intensificação do prazer. A contemplação se define como experiência sensorial que mobiliza o corpo inteiro do espectador, a exemplo do que fizera com o do artista.
Escrever sobre essas obras exige que o autor tenha um controle desses elementos e saiba como transformá-los em signos determinados, os caracteres escritos, que possam produzir, no espírito do leitor, a sugestão das imagens que ele descreve ou às quais alude. Os contornos se esfumaçam, o belo é elevado à potência do sublime, a representação é reduzida ao sentimento ativo e vital que primeiro a torna possível.
No verbete “Composição”, escrito para a Enciclopédia e publicado em 1753, dois anos depois da Carta sobre os surdos-mudos, Diderot elabora uma reflexão interessante, que permite medir a distância que separa a sua poética daquela do classicismo francês, com a qual, no entanto, ela ainda não rompe por completo.[8] Como observou meu colega Luís Nascimento, falecido prematuramente em 2022, em um texto que permanece inédito, grande parte do verbete é uma paráfrase do opúsculo de Shaftesbury, “Concepção do quadro histórico do julgamento de Hércules”, no qual o filósofo inglês examina o momento exato a ser escolhido por um pintor que queira representar na tela a história da escolha de Hércules entre o prazer e a virtude.[9] É um tema recorrente na iconografia pictórica, e, se Shaftesbury o retoma, é na tentativa de mostrar que, se os preceitos do desenho e da plástica, que tradicionalmente guiam a representação, são tão importantes, é porque deles depende a transmissão de uma mensagem moral.
O caráter moralizante da pintura é uma tópica recorrente dos Salões, e não admira que Denis Diderot o explore desde 1753. Contudo, não devemos esquecer a parte final do verbete, onde Diderot se arrisca a estender as considerações de Shaftesbury à representação de outra cena de caráter moral, a entrada de Alcibíades no banquete de Sócrates, tal como ela ocorre no diálogo homônimo de Platão. Melhor seria falar em deslocamento, pois, agora, a virtude heroica e cívica do Hércules de Shaftesbury dá lugar a uma virtude amorosa e erótica, na qual as forças do corpo – digamos, suas capacidades fisiológicas, tão bem exploradas nas cartas – são direcionadas para a execução de atos de prazer, que, exceto em casos excepcionais, não implicam a extenuação. O sacrifício físico, substituído pela entrega, deixa de ser a condição da elevação de uma alma que se torna metáfora de uma condição sensorial particular à qual Diderot dá o nome de “eu”.[10]
5.
As Cartas de Denis Diderot foram publicadas num momento – a virada da década de 1740 para a de 1750, no chamado “Século das Luzes” – que conheceu uma reviravolta importante no mundo das letras europeias. Até então, a filosofia francesa se contentara em contestar, mais programaticamente do que conceitualmente, a herança cartesiana que pesava sobre os espíritos. As Cartas filosóficas, escritas da Inglaterra pelo jovem Voltaire e publicadas em 1726, tentaram abrir os olhos de seus compatriotas para a revolução inglesa, causada pela física de Newton, pelo método experimental de Bacon, pela filosofia sensualista de Locke. Esse manifesto abre caminho não somente para os desenvolvimentos posteriores da filosofia de Voltaire, como também para a adaptação, pela nova geração, dos métodos insulares à maneira de pensar continental.
A abundância de referências aos ingleses na Carta sobre os cegos mostra que Diderot, tradutor de Shaftesbury, permanece um anglófilo resoluto. Dentre os franceses, ele destaca, além de Voltaire, Condillac, autor de um Ensaio sobre a origem dos conhecimentos (1746) e de um Tratado dos sistemas (1750), com os quais a Carta, embora não exprima uma concordância estrita, alinha-se estrategicamente. Essa entente, forjada havia algum tempo em encontros semanais no café La Coupole, dos quais Rousseau também participava, dura pouco. Com o Tratado das sensações, de 1754,[11] Condillac se afasta de seu mentor Locke e retoma a Carta sobre os surdos-mudos, mas mantém a investigação numa zona intermediária entre a metafísica, a gramática e a fisiologia. Diderot o acusa de plágio; a amizade se desfaz para sempre.
Na resenha do Tratado das sensações escrita por Grimm para a Correspondance littéraire, periódico que circula em tiragem limitada pelos altos círculos das cortes europeias, o livro de Condillac, embora receba elogios, é comparado desfavoravelmente ao de Diderot. Quase trezentos anos depois, compreendemos que essas rivalidades escondem um segredo precioso, de uma obra polimórfica, tecida coletivamente, que forma um legado – da Ilustração – com o qual volta e meia nos vemos obrigados a acertar contas. Redescobrir os textos, ganhar gosto pelo detalhe, apaixonar-se pela filigrana, são tantas maneiras de evitar as generalizações e de renovar com isso o exercício da crítica – quase sempre extenuante, via de regra compensador. A voz de Denis Diderot, expressa com tanta vivacidade nas Cartas, pode ser um guia para os que queiram se dedicar à realização dessa tarefa.
6.
O presente volume reúne, pela primeira vez em português, as duas Cartas, oferecendo-as em novas traduções, da lavra de estudiosos mais do que familiarizados com os escritos de Denis Diderot. O leitor encontrará, ainda, dois documentos complementares, o verbete “Cego”, escrito por d’Alembert para a Enciclopédia (v.1, 1751), na verdade uma resenha crítica da Carta sobre os cegos, bem como a resenha do Tratado das sensações, escrita por Grimm, como dissemos, para a Correspondance littéraire, que inclui uma apologia da Carta sobre os surdos-mudos.
*Pedro Paulo Pimenta é professor no Departamento de Filosofia da USP. Autor, entre outros livros, de A trama da natureza: organismo e finalidade na época da Ilustração (Unesp).
Referência
Denis Diderot. Carta sobre os cegos, para uso dos que veem e Carta sobre os surdos-mudos para uso dos que ouvem e falam. Tradução: Franklin de Matos, Maria das Graças de Souza, Fabio Stieltjes Yasoshima. São Paulo, Editora Unesp, 2023, 232 págs. [https://amzn.to/48b5nCu]

Notas
[1] Robert Bringhurst, A forma sólida da linguagem. Trad. Juliana A. Saad. São Paulo: Edições Rosari, 2006.
[2] Gérard Lebrun, “O cego e o nascimento da antropologia”, in: A filosofia e sua história. São Paulo: CosacNaify, 2006, p.55.
[3] Leibniz, “Monadologia”, 61, in: Discours de métaphysique suivi de Monadologie. Ed. Laurence Bouquiaux. Paris: Tel-Gallimard, 1995, p.197.
[4] Ver Maria das Graças de Souza, Natureza e ilustração. Sobre o materialismo de Diderot. São Paulo: Editora Unesp, 2002, cap. 1.
[5] Franklin de Mattos, “As mil bocas da sensação”, in: O filósofo e o comediante. Belo Horizonte: UFMG, 2004, p.158.
[6] Michel Delon, L’Idée d’énergie au tournant des Lumières. Paris: PUF, 1988, p.74-84.
[7] Ver Jacqueline Lichtenstein, La Tache aveugle. Essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l’âge moderne. Paris: Gallimard, 2003, cap. 2.
[8 ]Ver no original o v.3, p.772-4, e, na edição brasileira, o v.5.
[9] Shaftesbury, “A Notion of the Historical Draught of the Judgment of Hercules”, in: Second Characters, or the Language of Forms. Ed. Benjamin Rand. Bristol: Thoemmes Press, 1995.
[10] Ver Georges Vigarello, O sentimento de si. História da percepção do corpo. Trad. Francisco Morás. Petrópolis: Vozes, 2016, cap. 3.
[11] Condillac, Ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos. Trad. Pedro Paulo Pimenta. São Paulo: Editora Unesp, 2016; e Tratado das sensações. Trad. Denise Bottman. Campinas: Editora Unicamp, 1994.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA