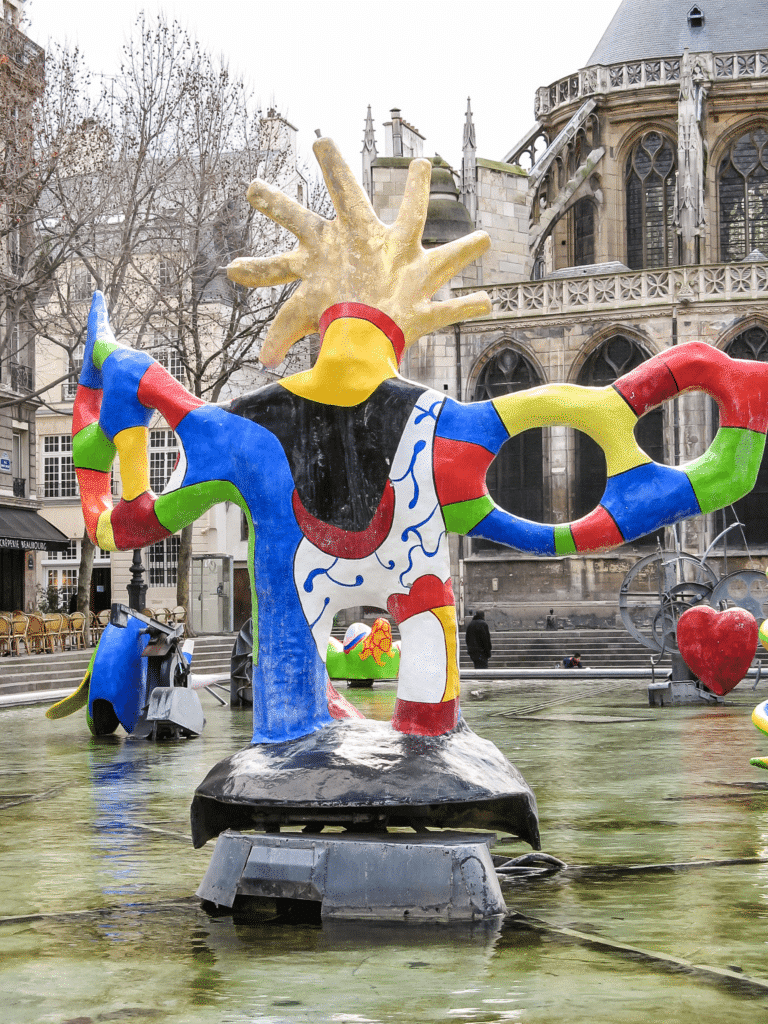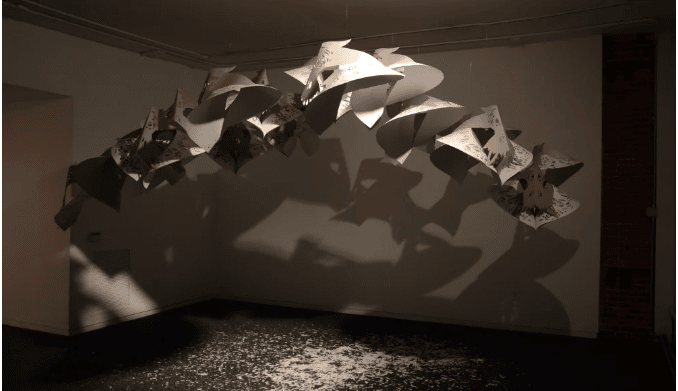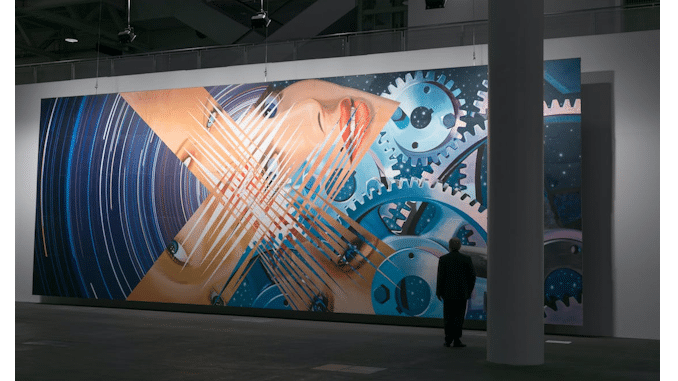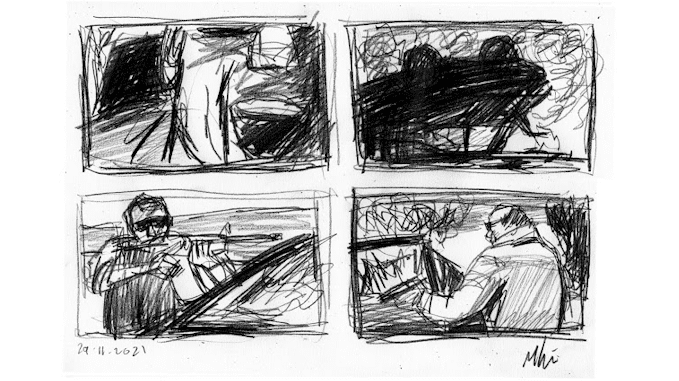Por LÚCIA LEITÃO*
O modo como se organizou a vida urbana no Brasil produziu, espacial e psiquicamente, um ambiente urbanístico de exclusão, claramente hostil
Sob o foco do urbanismo, busca-se mostrar aqui como e em que medida a cidade brasileira tem produzido, desde sempre, um espaço edificado claramente hostil. O mote para a construção do argumento vem da escrita freyriana, notadamente Sobrados e Mucambos, texto no qual o autor oferece uma narrativa detalhada do desenvolvimento do urbano na vida brasileira.
Da extensa narrativa produzida por Freyre, destacam-se, em especial, dois aspectos fundamentais para as ideias ora expressas. O primeiro é que a paisagem social brasileira, para usar uma expressão tão cara ao celebrado mestre de Santo Antônio de Apipucos, constituiu-se em torno da casa, do espaço privado, consequentemente. O segundo aspecto, decorrência direta dessa escolha socioambiental, é que nessa mesma paisagem não havia lugar para o não familiar, donde possivelmente deriva o processo de profunda negação da rua, o espaço público por excelência, na cidade brasileira — da colônia aos nossos dias. É a partir desses aspectos que se trabalha, neste texto, com a ideia de que o modo como se organizou a vida urbana no Brasil produziu, espacial e psiquicamente, um ambiente urbanístico de exclusão, claramente hostil.
Na verdade, o ambiente urbano no Brasil se constituiu inteiramente em torno da casa — aqui entendida como símbolo maior do espaço privado —, em especial do sobrado, que, na cidade então nascente, assumiu plenamente as funções, reais e simbólicas, da casa-grande brasileira. Desse modo, no tempo em que se deu o desenvolvimento do urbano em nossas terras tropicais, reproduziram-se, tanto no desenho quanto no uso do espaço urbanístico, as mesmas marcas de centralismo, de domesticidade, de privativismo, anotadas por Freyre, características da organização social que deu forma à casa-grande patriarcal. Sobretudo, expressou-se, com clareza invulgar, uma profunda rejeição à rua, espaço público fundamental para a vida que se quer urbana, plena, citadina.
Afinal, coerente com os valores que essas marcas expressavam, a casa-grande brasileira foi produzida e experienciada não apenas em sua função mais óbvia, espaço de morar, mas ainda no sentido ampliado que lhe dá Freyre quando a ela se refere como “o antigo bloco partido em muitas especializações — residência, igreja, colégio, botica, hospital, hotel, banco”. Esse é um primeiro ponto digno de nota, uma vez que essa ‘casa-bloco’ anunciava, desde então, um desenho espacial centrado no espaço privado, voltado para dentro, de costas para o ambiente público.
Uma análise sucinta do sobrado oitocentista permite que se compreenda melhor o que se disse antes, em especial o império da casa face ao desprestígio da rua no nascedouro da vida urbana no Brasil, conforme se busca mostrar ao longo destas notas.
O ponto de partida desta análise é a planta baixa desse sobrado. Coerente com a valorização do espaço privado, essa planta aparece totalmente voltada para o interior da habitação. Denuncia, com isso, uma perfeita harmonia entre o espaço edificado e a natureza privativista da casa brasileira.
Logo à primeira vista, chama a atenção uma aparente contradição entre a localização da sala de visitas, voltada para o exterior, para o que seria o espaço público, e o papel absolutamente restrito, segregado, que lhe cabia no cotidiano da vida familiar. Ao observador mais apressado, essa localização poderia sugerir uma aproximação do espaço doméstico frente ao espaço público, uma vez que a sala de visitas, em suas múltiplas janelas e aberturas, abria-se para ele. No entanto, a função que essa sala devia desempenhar no espaço doméstico contradiz, francamente, essa possível interpretação.
A sala de visitas, no sobrado, não se destinava ao estar da família. Muito pelo contrário, era esse o espaço dedicado ao estranho, ao visitante, ao não familiar. Essa natureza não familiar da sala de visitas fica clara quando se sabe que a ela tinha acesso tão somente o dono da casa no momento em que recebia seus visitantes. Vedada às mulheres, inclusive à dona da casa, e às crianças, essas salas funcionavam como um elemento a mais a afastar a vida doméstica do espaço público. Com efeito, a localização dessa sala, bem como o uso que lhe era destinado no contexto social em que esse espaço estava inserido, contribuía para manter a vida familiar afastada da rua. É como se um muro simbólico tivesse sido erguido entre a cena doméstica e a vida no espaço público.
Nesse sentido, a sala de visitas menos mediava uma relação, que se mostrava difícil entre a casa e a rua, do que consolidava, espacialmente, a separação entre o que era familiar e o que lhe era estranho, aquele ou aquilo cuja proximidade deveria ser evitada a todo custo. A vida em seu cotidiano tinha lugar efetivamente em dois outros espaços — a sala de viver e a cozinha —, cuja localização no sobrado atestam, exemplarmente, a domesticidade que caracterizou a casa brasileira.
Impedidas de sair à rua e de sequer chegar perto do espaço que não o doméstico, inclusive a sala de visitas, que, a rigor, não lhes pertencia, era nas salas de viver que a dona da casa e suas filhas passavam boa parte do tempo. Localizadas no interior da edificação, coerentemente com a ideia de espaços que “se fechavam contra a rua”, conforme anotou Freyre, essas salas eram mais confortáveis do que outros espaços da casa porque tinham aberturas que permitiam a entrada de luz e de ar, uma vez que se abriam para os espaços livres existentes na parte posterior da edificação.
Diferentemente das alcovas, por exemplo, fechadas, escuras, quentes e insalubres, as salas de viver favoreciam o estar, tornando o dia a dia mais agradável. Graças à ventilação e aos raios solares que recebiam diretamente, esses espaços eram muito mais saudáveis e bem mais adequados à vida.
Nessas circunstâncias, a forma arquitetônica que o sobrado materializou ratificava, naturalmente, a intenção patriarcal de manter a vida familiar fechada contra a rua (e não apenas no que dizia respeito às mulheres), inteiramente afastada de tudo que pudesse significar contato com o mundo exterior.
Mas, além da forma espacial, o sobrado herdou da casa-grande a sua marca de distinção e de pretensa “fidalguia”. Habitar um sobrado era símbolo inequívoco de prestígio social. Como consequência, a arquitetura que começa a definir o espaço edificado nas cidades brasileiras vai refletir, naturalmente, o lugar social de cada morador, não apenas na forma, no emprego de materiais nobres, mas novamente no volume edificado.
Edificações com vários pavimentos constituíam, tanto quanto proclamavam, a habitação dos senhores de engenhos quando esses se transformaram em moradores da cidade. Hierarquizavam, por si mesmas, a posição social do morador, enunciado nitidamente os valores sociais inerentes àquela sociedade. “Definiam-se com isso as relações entre os tipos de habitação e os estratos sociais: habitar um sobrado significava riqueza, e habitar casa de ‘chão batido’ caracterizava a pobreza”, como ensina Nestor Goulart Reis Filho em seu Quadro da arquitetura no Brasil.
A força dessa hierarquização explícita no desprezo pelo rés-do-chão e pela rua, consequentemente, era tamanha que o uso dado a cada nível de piso do sobrado denunciava o desprestígio que marcava a edificação térrea. Destarte, […] os pavimentos térreos dos sobrados, quando não eram utilizados como loja, deixavam-se para acomodação de escravos e animais ou ficavam quase vazios, mas não eram utilizados pelas famílias dos proprietários, ainda nas palavras de Reis Filho no texto já mencionado.
Na arquitetura do sobrado, a “fidalguia” brasileira se expressou no gosto pela construção verticalizada erguida bem acima do nível da rua. Esse é, pois, um outro ponto a considerar quando se aponta para o desprestígio da rua, para a sua negação no ambiente construído que o Brasil fez surgir. A verticalização e, com ela, o distanciamento da rua eram, pois, um modo de distinção social à medida que afastava os moradores assobradados do espaço desprestigiado da rua.
É interessante observar a marca de brasilidade — decorrente da casa-grande — expressa nesse modo de construir. Afinal, a casa-grandese erguia acima do rés-do-chão. Ao fazê-lo, anunciava distinção e pretensa nobreza. Anunciava principalmente que “ali existiam senhores” — a expressão é de Vauthier nas suas famosas cartas conhecidas como Casas de residência no Brasil — que se queriam distinguir da “plebe” escrava que habitava o rés-do-chão.
A ideia de que o afastamento do nível do chão pode ser vista como uma marca da casa brasileira em seu afã de distinção fica mais nítida quando se sabe que, em outros arranjos sociais, a casa, por mais nobre que seja, abre-se à rua sem nenhum problema aparente.
Um exemplo desse outro modo de edificar é a residência oficial do primeiro-ministro britânico (10, Downing Street, Londres), um dos endereços mais prestigiados do mundo ocidental, edificada no nível da rua, diretamente aberta para o espaço público. Esse exemplo permite considerar que o afastamento da rua na realidade brasileira — mais do que expressar uma possível escassez de terras, como no caso do Recife, ou a superação dos problemas gerados por uma topografia acidentada, a exemplo de Salvador — indica a permanência dos valores patriarcais na produção da paisagem edificada da cidade brasileira.
Nesse contexto, não surpreende que a rua brasileira, o espaço de todos, tenha nascido feia, suja, fétida, desprestigiada, concebida como mero caminho em direção a casa, ao espaço que se queria nobre, distinto.
Do ponto de vista urbanístico, o desprestígio da rua brasileira em seu nascedouro e, ainda em nossos dias, o seu não reconhecimento como espaço fundamental da vida urbana podem ser apreendidos a partir de três pontos principais. O primeiro vem à tona quando se observa o uso plebeu (destinado ao escravo, ao pobre, ao negro) que lhe foi dado. O segundo evidencia-se na função de circulação (de animais, de águas servidas, etc.), que marcou o seu nascedouro; e, finalmente, na forma residual, quase ao acaso, sugerida em muitos arranjos espaciais. Vê-se, pois, que estavam postas as bases que determinariam a configuração urbanística da cidade brasileira tal como a conhecemos hoje.
Desse modo, à sombra da herança cultural da casa-grande, a cidade brasileira produziu, e continua a fazê-lo, um espaço de exclusão, centrado no espaço privado, com todas as consequências sociourbanísticas decorrentes desse fato, mesmo que disso não pareça se dar conta, ainda, a sociedade brasileira.
Em sua expressão atual, a primazia do espaço privado, exclusivo e excludente se materializa, por exemplo, na construção, cada vez mais intensa nas principais cidades brasileiras, de condomínios fechados, cuja característica marcante é o fato de se constituírem em espaços que se fecham em si mesmos.
Nesses espaços, não é apenas o modo de habitação condominial, isto é, um espaço partilhado entre coproprietários que está sendo difundido, mas um estilo de vida, uma maneira de morar onde o espaço privado afastado do ambiente que lhe é externo se faz mais e mais valorizado. Como se sabe, especialmente nos condomínios horizontais, o marketing feito para atrair potenciais moradores especifica, claramente, a oferta de diversos serviços a serem prestados dentro dos condomínios, de maneira que seus habitantes possam usufruir o conforto de vivenciar o espaço da casa, mantendo-se, ao mesmo tempo, o mais distante possível do espaço da rua.
Esses ambientes são espaços que se fecham contra a rua, num processo claro e explícito de reafirmação dos valores, devidamente atualizados na vida contemporânea, que definiram o reinado da casa em tempos patriarcais, tanto e em tal proporção que a comercialização desses condomínios anuncia, abertamente, como uma vantagem a mais a se juntar à compra do espaço de morar, a possibilidade de se viver nesses ambientes, sem sair à rua ou saindo o mínimo possível, exatamente como queriam os moradores dos sobrados urbanos do Brasil oitocentista.
Os moradores desses ambientes utilizam esses espaços para a diversão ou para o encontro. As crianças brincam no playground enquanto os adultos se divertem no salão para festas ou em ambientes assemelhados, espaços onde efetivamente se dá a convivência. Do ponto de vista social, constituem-se, pois, no espaço dos iguais (vizinhos com hábitos, costumes, renda, etc. assemelhados), o que lhe tira qualquer característica ou função pública.
É evidente que a violência urbana, nos níveis absolutamente alarmantes e intoleráveis a que chegou o Brasil, oferece uma ótima justificativa, plenamente apoiada na racionalidade, para que as pessoas se fechem contra a rua. No entanto, a opção por esse modo de morar (na verdade uma escolha por um modo de viver) expressa apenas a face racional, declarada da questão. Consideradas as marcas de brasilidade que caracterizam a construção da paisagem edificada no País, é lícito levantar a hipótese de que a preferência por esse modo de vida em ambientes que se fecham contra a rua manifesta, de fato, a permanência de valores caros à casa quando essa se fez brasileira.
Um olhar mais acurado sobre essa questão pode revelar que, embutida na realidade da insegurança urbana, a preferência pela moradia em condomínios fechados manifesta igualmente o desejo de se fazer distinto, quer social, quer espacialmente, de se manter longe “das vulgaridades da rua”, como anotou Freyre, identificada, ainda hoje, como o espaço do pobre, do moleque, do socialmente marginalizado, enfim.
Nesse sentido, o argumento da insegurança urbana usado como justificativa para esse modo de habitar expressa apenas uma meia verdade. Se é fato de que nesses espaços se dispõe de maior segurança, aquela que se pode comprar, não é verdade que neles se possa estar verdadeiramente a salvo de qualquer ação criminosa, conforme atestam, exemplarmente, os crimes praticados em condomínios “altamente seguros”, divulgados pela mídia com assustadora frequência.
A questão da violência urbana em sua expressão urbanística é certamente um dos pontos para o qual os construtores da cidade, notadamente os herdeiros da casa-grande assobradada, não deram ainda a devida importância. Talvez por isso continuem a repetir, na cidade atual, alguns dos equívocos que marcaram a forma de edificar no Brasil oitocentista.
Gilberto Freyre, no texto que norteia estas reflexões, chamou a atenção para a hostilidade, ou a inimizade, em suas palavras, presente na relação do sobrado com a rua, ao anotar a raiva dos que, na rua, se sabiam excluídos dos espaços nobres assobradados. Se se tem em mente que os que estavam na rua naquele momento específico da história brasileira eram os escravos libertos e seus pares sociais, é fácil perceber o sentimento de exclusão que explodia na raiva incontida contra o sobrado e tudo aquilo que ele simbolizava.
Para aqueles que vivenciavam a rua, os escravos e, depois, os trabalhadores mais pobres, moradores do mocambo ou da casa construída ao rés-do-chão, o sobrado, o espaço privado, representava pelo menos dois momentos de exclusão: o primeiro referia-se à vida familiar na qual os escravos eram, no desempenho da sua função servil, meros apêndices. O segundo dizia respeito à exclusão da vida urbana, uma vez que fora do sobrado não havia nenhum tipo de reconhecimento social.
A maneira encontrada para mediar essa relação dá bem a medida da tensão que a permeava. Do lado dos moradores dos sobrados, a solução para “defender a casa da rua” foi a utilização de “cacos de garrafas nos muros; as lanças pontudas de seus portões e das suas grades de ferro, a grossura das paredes […]”. O outro lado, o lado dos “mulecotes”, a isso respondia “pulando o muro para roubar frutas” ou, numa clara expressão da hostilidade alimentada por essa relação desigual, dedicava-se a fazer, “dos umbrais de portões ilustres, das esquinas de sobrados ricos, dos cantos de muros patriarcais, mictórios e, às vezes, latrinas” ou “simplesmente sujá-los com palavras ou figuras obscenas”, ainda de acordo com Gilberto Freyre no texto citado.
Alheia aos registros da escrita freyriana, a sociedade brasileira não se deu conta, ainda, da repercussão social, e, mesmo urbanística, da produção indiscriminada de espaços de exclusão manifestos na construção de muros altos, de espaços vedados até mesmo ao olhar do outro, na cena urbana contemporânea. Não se deu conta da hostilidade que esse ambiente expressa nem tampouco dos efeitos desse modo de edificar nas relações sociais, urbanas — no sentido próprio do termo, isto é, de favorecer ou de dificultar a prática da urbanidade —, da reação, por parte dos excluídos, que esse modo de construir pode produzir.
Não perceberam, principalmente, que a negação da rua, materializada na construção de muros altos, de guaritas eletrônicas hermeticamente fechadas, de espaços que se fecham para o convívio social, pode ser um elemento a mais na incitação da violência urbana na medida em que reforça o sentimento de exclusão e o ódio que o acompanha de todos e de tudo que esteja alijado do espaço privilegiado da casa; do espaço privado, por conseguinte .
Um outro tipo de espaço edificado a indicar a opção brasileira por um modo de vida privado e privativista tão ao gosto do Brasil patriarcal aparece na cidade contemporânea sob a forma de shopping centers. À semelhança da casa e de seu ajustamento — a expressão é de Freyre, uma vez mais — à vida nacional, esses espaços logo manifestaram a marca de brasilidade que distingue a paisagem edificada no Brasil.
Entre nós, esses espaços não desempenham apenas a função de centros de compra que os caracteriza em outros contextos sociais. Aqui, os shopping centers rapidamente se abrasileiraram, transformando-se, precisamente, em espaços-bloco, tal como o foi a casa-grande brasileira em seu nascedouro. São espaços em que, além de centro de compras, toda uma gama enorme de serviços e atividades é oferecida e neles desenvolvida: escolas de línguas, cinemas, espaços para festa, consultórios médicos, unidades laboratoriais e mesmo hospitalares, mercearias, agências bancárias, cabeleireiros, livrarias, cafés, etc.
Eminentemente privados, ainda que de uso coletivo, esses ambientes deixam extremamente claro o papel que pretendem desempenhar na vida social brasileira. São espaços que acolhem apenas os iguais — rejeitando claramente aqueles que não pertencem ao mesmo grupo social —, à semelhança do que fazia a casa patriarcal. Agora, a natureza privada e privativista do espaço que na casa-grande se expressava em sua domesticidade se revela, nos shopping centers, na seleção “natural” dos que são convidados a frequentá-los, definida pelo poder aquisitivo de cada um.
Nos shopping centers brasileiros, a ideia de um espaço destinado a grupos sociais assemelhados e, nesse sentido, familiares, exatamente como ocorria na casa-grande, fica clara quando se observa o perfil dos usuários desses espaços especiais. Nas cidades maiores, essa distinção é tão nítida que é possível saber de antemão que grupo social se vai encontrar em cada shopping center da cidade.
Mas não apenas no que diz respeito à segregação social, os shopping centers se abrasileiraram. No que se refere à função social que esses espaços desempenham na sociedade, é possível ver a marca de brasilidade que lhes foi transmitida. Os shopping centers brasileiros transformaram-se em ponto de encontro, exatamente o papel que compete ao espaço público em qualquer sociedade onde esse espaço tenha efetivamente surgido, tanto e em tal medida que muitos se apressaram em defini-los como o novo espaço público, esquecendo-se de que nos shopping centers estão ausentes algumas das condições fundamentais para que um espaço possa ser reconhecido e usufruído como espaço público.
Além de ser necessariamente aberto, isto é, sem qualquer limitação ou condição para que a ele se tenha acesso, o espaço público, em sua expressão urbanística, é o espaço da pluralidade, do encontro e do convívio com o diferente, bem ao contrário de um espaço onde renda e classe social são condições imprescindíveis para que nele se seja acolhido.
Poucos espaços, no Brasil, explicitam, pois, tão claramente, os valores patriarcais quanto esses centros de compra e de prestação de serviços. Ao se abrasileirarem, esses espaços se produziram à imagem e semelhança da sociedade brasileira. Caíram como uma luva numa sociedade excludente como poucas. Diferentemente do que acontece em outras sociedades, o shopping center nacional tem função e uso próprios. Não é, pois, um centro de compras aberto a todo e qualquer consumidor. É, sim, um espaço-bloco produzido precisamente com a intenção de tirar as pessoas da rua, fazendo-as ficar o maior tempo possível no seu interior, no espaço privado.
É para afastar as pessoas da rua e do seu desprestígio que o shopping center se fez bloco, isto é, agregou à função de centro de compras quase todas as outras atividades que antes tinham lugar no espaço urbano: ir ao banco, consultar o médico, frequentar a escola, arrumar o cabelo, ir ao cinema, encontrar os amigos, etc. De tal modo que, atividades antes desenvolvidas em espaços diversos passam a ter lugar num espaço único, o espaço-bloco, outra vez materializado no ambiente construído brasileiro.
Como consequência, nitidamente ancorado no modo patriarcal de conceber a vida social, esse novo espaço livra os herdeiros da casa-patriarcal, os brasileiros de antiga linhagem, como diria Vauthier, das vulgaridades da rua, do espaço sujo, feio, tantas vezes malcuidado na cidade brasileira. Socialmente, garante que cada um se sinta em casa, uma vez que ao seu redor estão apenas aqueles que lhe são familiares, aqueles com os quais há uma perfeita identificação, pois pertencem ao mesmo agrupamento social.
Do ponto de vista da produção da paisagem edificada da cidade brasileira, a distinção que esses ambientes — segregados e segregadores como poucos — perseguem se expressa em espaços que não se integram com o entorno onde estão fisicamente inseridos, que não se misturam com o resto da cidade. No que diz respeito à configuração urbanística constituem-se em espaços guetos, em enormes bolsões edificados, apartados dos espaços que os circunda, assentados, muitas vezes, no ambiente construído, como elefantes em lojas de louça.
Ao seu redor, tudo se transforma de modo a acolhê-los, independentemente da destruição que possam trazer a outros espaços da cidade, a exemplo de centros históricos, plenos em valor simbólico e, por isso mesmo, fundamentais para a construção e a manutenção da memória coletiva de qualquer ajuntamento humano.
Na realidade brasileira, com as exceções de praxe, a implantação de espaços-bloco, quer sejam condomínios habitacionais, quer sejam shopping centers, favorece, frequentemente, a exclusão dos demais espaços da cidade, notadamente quando a vizinhança não lhes é conveniente, social e economicamente falando.
Mas nada disso decorre do acaso. Afinal, à luz do que se disse antes, o espaço urbanístico da cidade brasileira é uma expressão eloquente dos valores mais caros da sociedade que o tem edificado. Valores com os quais essa sociedade se identifica desde sempre, sem, no entanto, mostrar-se capaz de refletir sobre eles, de modo a construir uma outra história, a produzir outros valores, desta feita mais adequados à vida na polis.
Como consequência, do ponto de vista do ambiente construído, produz-se um espaço em tudo distinto da função primeira da arquitetura em seu papel de prover o espaço do acolhimento do humano em seu desamparo frente às intempéries da natureza, de oferecer abrigo, de favorecer o desenvolvimento do sentimento de pertencimento presente na relação das pessoas com o ambiente onde vivem. Muito ao contrário. Em sua face excludente, a configuração urbanística da cidade brasileira manifesta a hostilidade de uma sociedade segregadora como poucas, que, para se fazer distinta, exclui o outro, o diferente, o pobre, o negro, negando-lhes os mais elementares direitos humanos. Alienada, inebriada pela obsessiva busca de privilégios, de distinção, de ambientes privés, espera daqueles que exclui, paradoxalmente, um comportamento afável, próprio da urbanidade que essa cidade está longe de proporcionar.
O resultado mais evidente dessa prática é o surgimento de um ambiente construído marcadamente hostil, exatamente o oposto da função maior da cidade, compreendida como espaço privilegiado do exercício da urbanidade, do convívio com o outro, do reconhecimento e do respeito às diferenças pessoais e coletivas num ambiente público que se quer urbano, isto é, citadino.
A questão que se traz à luz e à discussão com este texto é que, na verdade, nada disso surge do acaso, como foi dito antes, mas, sim, como produto de uma construção social centrada no espaço privado.
Em outras palavras, a forma arquitetônica da cidade surge como consequência direta do modo como se organizou a paisagem social no Brasil patriarcal. Nesse sentido, importa refletir sobre as implicações do modo de viver urbano que tem lugar no Brasil atual, bem como sobre os valores sociais que determinam a construção material da cidade. Importa, sobretudo, refletir em que direção social, política e humana essa opção sociourbanística nos está levando.
Afinal, como bem escreve Alexander Mitscherlich em Psychanalyse et urbanisme, publicado pela Gallimard em 1970, citado aqui em tradução livre: “A maneira como damos forma ao ambiente que nos cerca é uma expressão do que somos internamente”.
*Lúcia Leitão é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE.
Este texto é uma síntese do livro Quando o ambiente é hostil – uma leitura urbanística da violência à luz de Sobrados e Mucambos e outros ensaios gilbertianos. (Ed. Universitária da UFPE).