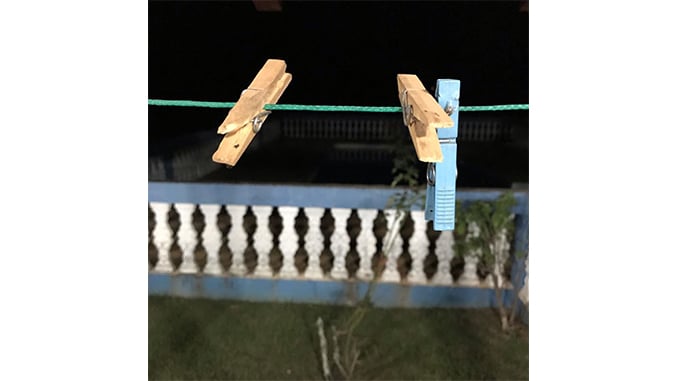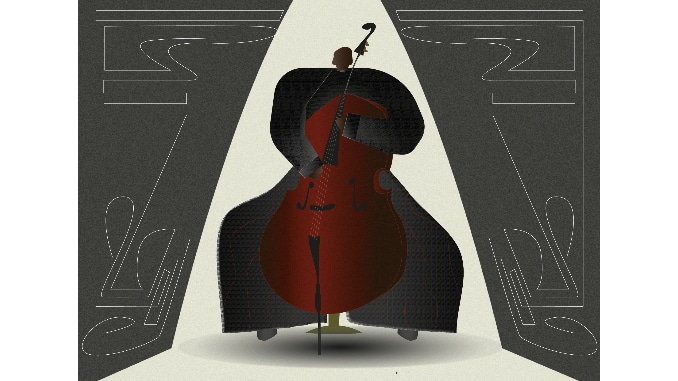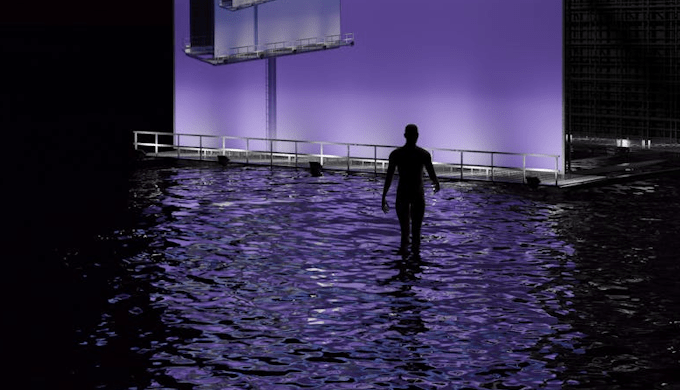Por JOSÉ GATTI*
Entre a análise e o afeto, Roland Barthes nos ensinou que o cinema não é apenas objeto de estudo, mas experiência sensível – onde o espectador, mesmo esmagado pela tela, pode resgatar seu poder crítico. Como ele, deixamos a sala não apenas com teorias, mas com a memória de um olhar que transforma fotogramas em política e risos compartilhados em resistência
“Para Jean-Claude Bernardet que, na garupa de minha moto, foi companheiro de umas tantas sessões de cinema”.
1.
Meu primeiro encontro com Roland Barthes foi justamente em Mitologias. Eram os anos 1970, eu começava a graduação e aquilo parecia sacudir todas as ideias que eu tinha sobre a universidade. Roland Barthes era irreverente, ousado e, acima de tudo, generoso e livre. A pergunta que me ocorria era, “Então eu também posso?”.
Era como se ele estivesse me dizendo, “Você tem o direito de escolher o que irá pesquisar, você tem o direito de montar sua própria metodologia, você tem o direito de chegar onde quiser”. Roland Barthes podia estar apresentando a mais intrincada das teorias, mas seu tom era acessível, “Volte quando quiser, eu explico outra vez”. Eu ainda tinha o mestrado e o doutorado diante de mim, mas Roland Barthes nunca deixou de me acompanhar, como um sábio, aquele que às vezes sabe que você vai quebrar a cara, mas estará lá para lhe confortar com suas ideias.[i]
Quando Mitologias foi publicado na França em 1957, já vinha em perfeita sincronia com os estudos que se iniciavam em vários lugares: na esteira da Escola de Frankfurt, Williams e Hoggart, do outro lado do Canal da Mancha, criavam os estudos culturais; MacLuhan, do outro lado do Atlântico, também já tinha tomado objetos da mídia para suas pesquisas.
Os britânicos trouxeram Marx e Engels para redefinir o que seria cultura, dando início à história dos Estudos Culturais que já conhecemos; os norte-americanos, em sua maioria, deixavam Marx de lado.[ii] Já os franceses, notadamente Roland Barthes, reuniam o pensamento marxista, a psicanálise e, no foco central de seus trabalhos, Saussure.
Àquela época, a escolha dos objetos podia chocar a comunidade acadêmica e, ao mesmo tempo, revelava um espírito profundamente democrático, ciente de que o ser humano, no século XX, já estava imerso numa pluralidade discursiva que podia abranger “altas esferas” da produção cultural (e as aspas aqui servem para ironizar), as manifestações culturais populares e os “subprodutos” da indústria cultural, ou seja, os objetos mais desprezados (e portanto menos considerados) pela academia até os anos 1950.
Podiam ser campeonatos de luta-livre, comerciais de sabão em pó ou documentários pseudocientíficos. Como ele mesmo diria, em Roland Barthes por Roland Barthes, seria “um terceiro termo, o termo subversivo da oposição em que estamos enclausurados: cultura de massa ou cultura superior”. É esse entendimento da abrangência da dimensão superestrutural que lhe dá permissão para atuar além de preconceitos de classe.[iii]
Mas Roland Barthes traria um outro elemento central a seu pensamento, que se faz presente em quase todos os seus trabalhos. Trata-se do autorreconhecimento do autor na pesquisa, fazendo do sujeito a variável essencial tanto na escolha dos objetos quanto na abordagem que articulará para pesquisá-los. Se para alguns o autor “morrera”, ele ressuscitaria continuamente nos trabalhos de Roland Barthes.[iv]
Além disso, o ego cogito barthesiano muitas vezes vem acompanhado do ego sentio – tanto no sentido do sentir, do afeto, quanto no sentido de fazer sentido, do significado. Ou seja, o pesquisador corre o risco permanente de exposição, ao realizar seu trabalho de reflexão reconhecendo sua participação pessoal e afetiva no processo, isto é, deixando entrever seu desejo. Decididamente, Roland Barthes não opera no sigilo.
2.
Roland Barthes se exporia ao descrever sua própria espectatorialidade, na breve nota Ao sair do cinema (1975).[v] Em que pese sua relação ambígua com o cinema – o Roland Barthes pesquisador jamais se reconheceria como especialista – o registro que faz de sua experiência na situação-cinema já seria suficiente como contribuição para os estudos audiovisuais.
Nessa quase-crônica, Roland Barthes nos dá pistas sobre seu comportamento como cinéfilo, além de comentar os efeitos da máquina-cinema. Ele gostava de ir ao cinema durante as noites de semana, evitando assim as filas e as salas lotadas. Descreve o processo a que se submete durante a projeção, em que passa por uma hipnose que remete às origens da psicanálise.
Roland Barthes revela, também, como ele carregava essas impressões para fora da sala, ao pisar nas calçadas mal iluminadas do mundo lá fora. Num estilo quase confessional, ele nos aproxima de sua experiência pessoal e conta que evitava debater o filme logo após a saída, por um lado por ainda se sentir atordoado, por outro, para adiar aquele prazer. É como se o filme exigisse um período de decantação.
Ainda nesse estado letárgico, ele diz que talvez procurasse um café, onde – me arrisco a imaginar – encontraria um companheiro de jornada, alguém com quem pudesse trocar ideias a respeito daquela experiência. Essa situação-rua, quase uma extensão do vivido na sala de exibição, nos permite imaginar encontros carregados de (homo)erotismo.[vi]
Podemos presumir que foi assim que ele assistiu a Júlio César, com seu irresistível cartaz (em que o torso nu de Brando tem destaque), a Sindicato de Ladrões (eis o icônico Brando, novamente), aos filmes estrelados por Greta Garbo, Chaplin e quem sabe os filmes de Serguei Eisenstein: numa noite qualquer, discretamente.
Em Ao sair do cinema, Roland Barthes não se intimida pelo poder do cinema, ele seguramente o mantem em sua malha crítica. Ao mesmo tempo, ele se comporta como o espectador amoldado ao ritual previsto, silente em sua poltrona iluminada pelo feixe projetado desde algum lugar logo ali atrás.
Roland Barthes se coloca, assim, pequeno e grande ao mesmo tempo: ele se sabe rendido à tela que o esmaga e àquilo que ela retroprojeta sobre si; ao mesmo tempo, ele demonstra maestria ao pôr em prática seu conhecimento teórico para avaliar os efeitos ideológicos dessa tela avassaladora.
Julio Cortázar escreveu que a cena inicial de O Cão Andaluz (Luis Buñuel e Salvador Dali, 1927), em que vemos o olho sendo cortado pela navalha, ilustra o estupro que o cinema hegemônico perpetra no espectador, tornando-o refém da tela.[vii]
3.
Em sua primeira declaração de amor ao cinema, Jean-Claude Bernardet disse algo parecido: “Sento sempre nas primeiras fileiras. Não há nenhuma distância respeitável a manter entre eu e o filme. O prazer de ser esmagado por uma imagem cinematográfica. O prazer de ser esmagado”. E mais diante, “Só assim pode viver o mito: não se fixa e não vem quando é chamado. O mito lança-se sobre a gente como a águia sobre o coelho, violentamente. Cruelmente”.[viii]
Roland Barthes, por sua vez, nos devolve ao prazer consentido de entregarmo-nos à tela, ao mesmo tempo em que tomamos as rédeas de nossa própria espectatorialidade. Ou seja, agora que eu sei como esse discurso foi elaborado, eu posso usufruir dele como eu quiser.
Roland Barthes examina aqui um fenômeno bastante estudado na teoria do cinema, o da suspensão da descrença. O trabalho do analista resultará da consciência dessa suspensão, o que poderá trazer, também, o gozo de que só um sujeito munido da teoria poderá desfrutar.
O crítico analisa o objeto, analisa sua própria posicionalidade de sujeito naquele processo e, eventualmente, retorna ao objeto, desta vez sem a alienação prevista pela suspensão da descrença, mas com a entrega consciente (e, por que não dizer, amorosa) a ela, o que poderá aumentar seu próprio prazer espectatorial. Creio que todos nós, que praticamos a análise textual de objetos audiovisuais, experimentamos esse processo com certo prazer: é como se, após a análise, nossa entrega à obra fosse ainda maior.
Ao mesmo tempo, Roland Barthes se considerava desequipado para enfrentar o desafio teórico que as imagens-em-movimento apresentavam. Em Mitologias ele escreve sobre penteados em filmes ditos históricos, sobre o engajamento político oscilante do personagem de Chaplin e, anos depois, ele produziria análises brilhantes de alguns fotogramas dos filmes de Eisenstein.
Ainda assim, ele diminuiria sua contribuição ao campo: “(…) a opinião corrente que se tem do fotograma: um subproduto diante do filme, uma amostra, um meio de atrair a clientela, uma cena pornográfica e, tecnicamente, uma redução da obra pela imobilização do que se considera como a essência sagrada do cinema: a imagem em movimento”.[ix]
Modestamente, ele parece se esquecer que o fotograma é a molécula essencial do cinema. Ao se debruçar sobre a composição de um fotograma, o pesquisador explora dimensões tão importantes quanto à da ilusão de movimento, como por exemplo a mise-en-scène, a proporção e a luz.
Ele retira a imagem da torrente da ilusão, examina o fotograma sob seu microscópio e nos devolve, marcando para sempre nossa memória do filme. Parafraseando Humberto Mauro (“Cinema é cachoeira!”), é como se Roland Barthes congelasse a cachoeira por um instante, para em seguida deixar que ela se derrame sobre nós.
Por exemplo: ao analisar uma imagem de Encouraçado Potemkin, que mostra um comício liderado por mulheres em torno do corpo do marinheiro Vakulinchuk, Roland Barthes faz conexões inesperadas, demonstrando como um coque de cabelo, mostrado em primeiríssimo plano, se insere num contexto histórico e estético em que se articulam gênero e política. É à própria vanguarda soviética (artística e política) que Roland Barthes se refere, ao momento em que as mulheres concretamente conquistam direitos. E está tudo ali, sintetizado num adereço enquadrado num fotograma.
4.
Mas voltemos à sala de cinema. Se você me permite, eu gostaria de me imaginar numa sessão de cinema ao lado de Roland Barthes, mais exatamente em novembro de 1973 (está bem, pode ser numa noite no meio da semana). Passo de moto por sua casa, lá perto da igreja de Saint-Sulpice, e o levo na garupa. Me divirto ao dar-lhe essa carona para assistir a O magnífico, que estreara naquela semana.
Era uma comédia de Philippe de Broca, que tinha adquirido prestígio internacional nos anos 1960, com seus filmes O homem do Rio e Esse mundo é dos loucos, filmes estrelados por dois epítomes de masculinidade cinematográfica, o francês Jean Paul Belmondo e o muito inglês Alan Bates (que surgia nu, na cena final – desculpe o spoiler).
O Magnífico reúne três protagonistas: um autor de uma quarentena de best-sellers de espionagem que vive numa crônica pobreza (Jean-Paul Belmondo, em excelente forma física), seu editor rico, ganancioso e mulherengo (vivido pelo comediante italiano Vittorio Caprioli) e a vizinha, uma jovem inglesa que estuda sociologia da literatura em Paris (Jacqueline Bisset).
O filme se escancara em farsa, na medida em que a imaginação do escritor o leva a fantasiar seu personagem, um espalhafatoso e sedutor agente secreto que aproveita qualquer oportunidade para exibir seu talento de acrobata (quase sempre sem camisa). As cenas se alternam, assim, entre uma Paris gris, fria, úmida e uma Acapulco ensolarada, multicolorida, onde os inimigos se enfrentam ao som de irritantes e onipresentes mariachis.
O escritor se apaixona por sua vizinha e a imagina como sua parceira de aventuras (com seus penteados milagrosamente impecáveis, em meio a explosões, mergulhos no mar infestado de tubarões e fugas atabalhoadas pela selva). E vê em seu editor a figura patética de um “espião albanês” (portanto do eixo do mal, gorducho, trapaceiro e com perucas ridículas).
O filme de Broca faz piada com a Guerra Fria, com os filmes de James Bond e, de quebra, debocha da universidade, pois a jovem estudante decide “pesquisar a sério” a obra do vizinho para seu mestrado, escolha que seus colegas de pós-graduação ridicularizam, por tratar-se de um objeto pouco digno para uma tese acadêmica. É claro que Roland Barthes e eu nos divertimos, tanto com o estilo da improvável personagem de Bisset quanto com os sedutores dotes físicos de Belmondo.
Mas Roland Barthes seria surpreendido por uma cena que se passa na universidade, quando a mestranda entra num auditório onde uma aula é ministrada. De Broca não perderia a oportunidade de fazer mais uma caricatura. São apenas dois planos: no primeiro, vemos dois professores mais velhos, dotados de barba e óculos, com expressões de enfado; atrás deles, jovens estudantes prestam atenção à aula. No plano seguinte vemos o que eles estariam presenciando: um conferencista à meia luz lê, em voz alta, textos em imagens projetadas numa grande tela. São onomatopéias de histórias em quadrinhos, “Zap! Pouet! Puwags! Bam Bam!”
Consigo perceber, numa primeira leitura, que a cena sustenta a comédia por duas razões: a primeira é a futilidade dos estudos culturais, já que onomatopéias de histórias em quadrinhos não constituiriam objetos merecedores estudo; a segunda é a própria didática do conferencista, pois como se não bastasse a projeção das onomatopéias, o conferencista apenas repete o que já se lê na tela, produzindo ruidosas redundâncias.
De Broca recorre ao senso comum para retratar os estudos de cultura de massa como desprovidos de seriedade, pois ciência seria outra coisa. Diante dessa cena, me vejo rindo ao lado de Roland Barthes, que se diverte ao ver seus colegas (e, quem sabe, ele mesmo) retratados na tela. De crítico do discurso dos meios de comunicação, Roland Barthes se vê inserido nele como personagem, como peça de um produto de uma ideologia que menospreza a educação superior.
Por outro lado, se Roland Barthes e eu rimos da cena, percebemos que outras pessoas na sala de exibição, alheias ao mundo acadêmico, também riem, possivelmente por motivos bem diferentes. Assim como as cenas de Acapulco retratam personagens mexicanos (ou albaneses) como seres destinados a sucumbir por sua própria estupidez, produzindo um discurso francamente colonialista, o mundo acadêmico de O Magnífico é igualmente povoado de estupidez e seus personagens produzem trabalhos no mínimo inúteis (“É para isso que nossos impostos sustentam a universidade?”, resmungariam alguns espectadores ao nosso lado).
Claro que a essas alturas Roland Barthes e eu ainda não conversamos sobre os desdobramentos possíveis dessas cenas, algo que faremos mais tarde, num café amigo, depois de percorrer ruas cobertas pela noite fria do outono. Ou não, pois as cenas finais de O Magnífico nos reservariam surpresas amargas.
Aparentemente incapazes de encontrar um fechamento adequado para um filme excessivamente recheado de cenas de aventuras mirabolantes, os roteiristas (ninguém menos que os próprios de Broca, Belmondo e Caprioli) se valem de um recurso rasteiro para resolver o impasse. A estonteante espiã de Jacqueline Bisset abandona os dois protagonistas inimigos, pois estes repentinamente se revelam “gays” e apaixonados um pelo outro. De Broca os retrata de maneira caricatural, debochada e vil, insistindo nos estereótipos mais homofóbicos. Só para reiterar: estamos em 1973, ainda distantes da visibilidade e das conquistas políticas LGBT.
Se Barthes e eu havíamos nos deleitado com o exibicionismo de Belmondo, esse prazer agora nos era flagrantemente castrado. No contexto indiscutivelmente heteronormativo, a homossexualidade era mais uma vez usada como maldição, castigo e subalternidade – como ainda seria por muitos anos no cinema hegemônico.
Depois de tantos risos à nossa volta, saímos acuados do cinema, em silêncio, procurando um bar onde pudéssemos descontrair e, talvez mais tarde, exercer nosso direito à crítica.
5.
Quando a Biblioteca Virtual do Pensamento Social[x] me chamou para escrever numa série comemorativa dos 70 anos da publicação de Mitologias, vi-me enredado por memórias que ecoavam a voz de Jean-Claude Bernardet. Dei-me conta de que ao escrever sobre a obra de Barthes, rendia-me à memória de minha privilegiada convivência com esse outro mestre, igualmente importante na formação de meu pensamento.
Essa confluência talvez tenha sido provocada pelo som da voz que me trazia o mesmo “r” gutural de Jean-Claude e de Roland Barthes, que em minha imaginação também falava um corretíssimo português. No caso de Jean-Claude, era aquele rumor que me vinha das páginas, da sala de aula e da garupa de minha moto.
Agora que Jean-Claude se foi, só aumenta meu respeito por sua imensa obra, sua generosidade como professor de vanguarda e sua coragem pessoal. Fomos juntos a várias sessões de cinema, ele munido de sua prancheta, em que folheava papel ofício para fazer anotações em letras gigantescas, eu com minha modesta cadernetinha, em que anotava minhas impressões em letra miudinha. Ambos escrevendo sem tirar os olhos da tela, para não perder um segundo sequer das vertiginosas imagens, como ensinara Paulo Emílio.
Não posso me queixar; tive bons mestres.
*José Gatti é professor de cinema no Centro Universitário Senac. Autor, entre outros livros, de Cinema em trânsito: Glauber filma no exterior (Editora Insular). [https://amzn.to/3J54LHG]
Notas
[i] Por isso mesmo reli Barthes algumas vezes, e ainda tenho uma lista das obras que pretendo revisitar (S/Z é o próximo).
[ii] Décadas mais tarde, ao combater o antimarxismo tão freqüente nas universidades estadunidenses, Peter MacLaren renomearia o campo na América do Norte como multiculturalismo crítico, ao tentar recuperar elementos do materialismo histórico em seus trabalhos. Multiculturalismo Critico (São Paulo: Cortez, 1997).
[iii] Roland Barthes por Roland Barthes. São Paulo, Estação Liberdade, 2017, p. 68. É tentador ver, nessa guinada acadêmica, a sincronicidade com a emergência da arte pop, em que a apropriação de significantes do mundo do consumo são recriados e recontextualizados, apontando para novas significações. Isso se vê na obra de Warhol e na vanguarda brasileira das décadas de 1950 e 1960, nas obras de concretistas e tropicalistas.
[iv] O Rumor da Língua. São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora, 2004.
[v] Idem, p. 427-433.
[vi] Como ousa imaginar D. A. Miller, em Bringing Out Roland Barthes. Berkeley: University of California Press, 1992. Confesso que me sinto cúmplice de Barthes, por ter vivenciado encontros parecidos – dentro e fora do cinema.
[vii] Fantomas contra los vampiros multinacionales. Buenos Aires: Destino, 2002.
[viii] Trajetória Crítica. São Paulo: Polis, 1978, p. 11.
[ix] O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Trad.: Léa Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 45-6
[x] Agradeço a André Botelho, coordenador da Biblioteca, pela abertura que me deu quando lhe propus um texto em que misturava comentários acadêmicos com ficção. https://blogbvps.com/2024/08/26/serie-mitomanias-mitologias-com-barthes-no-cinema-por-jose-gatti/
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA