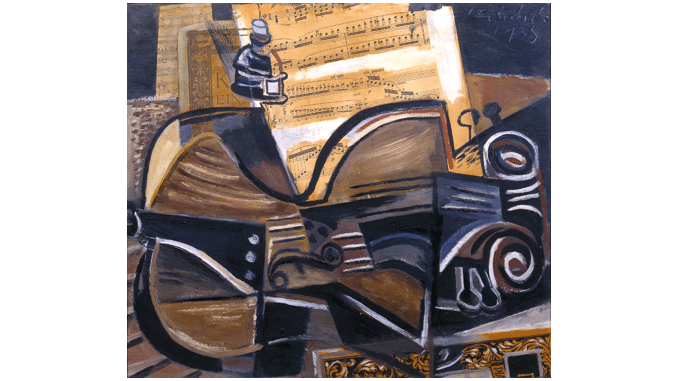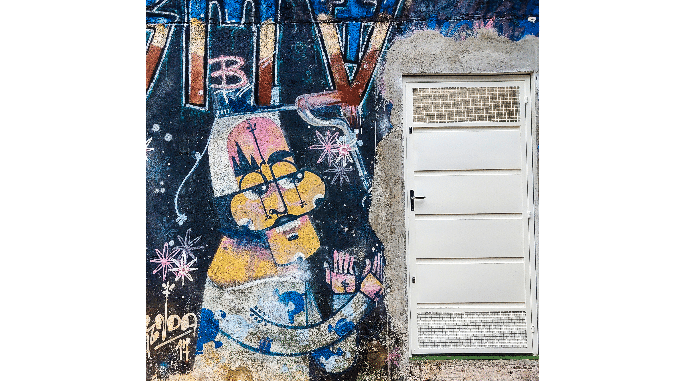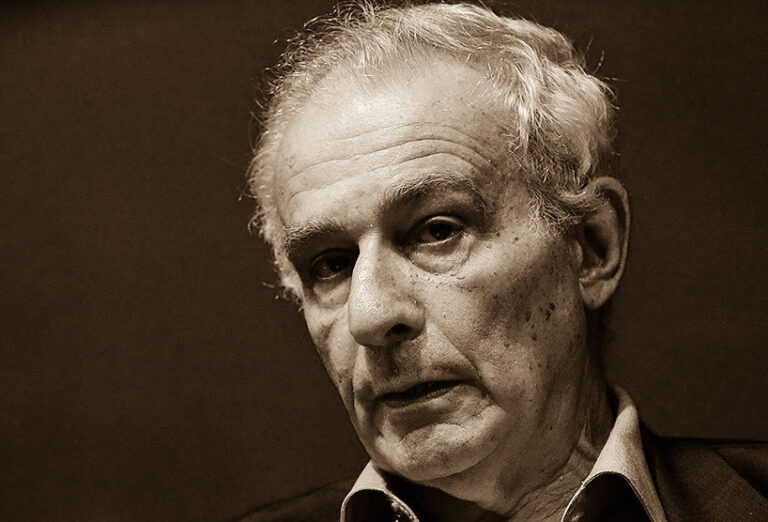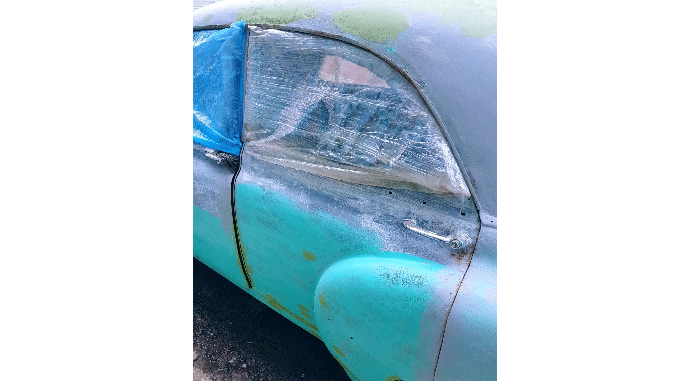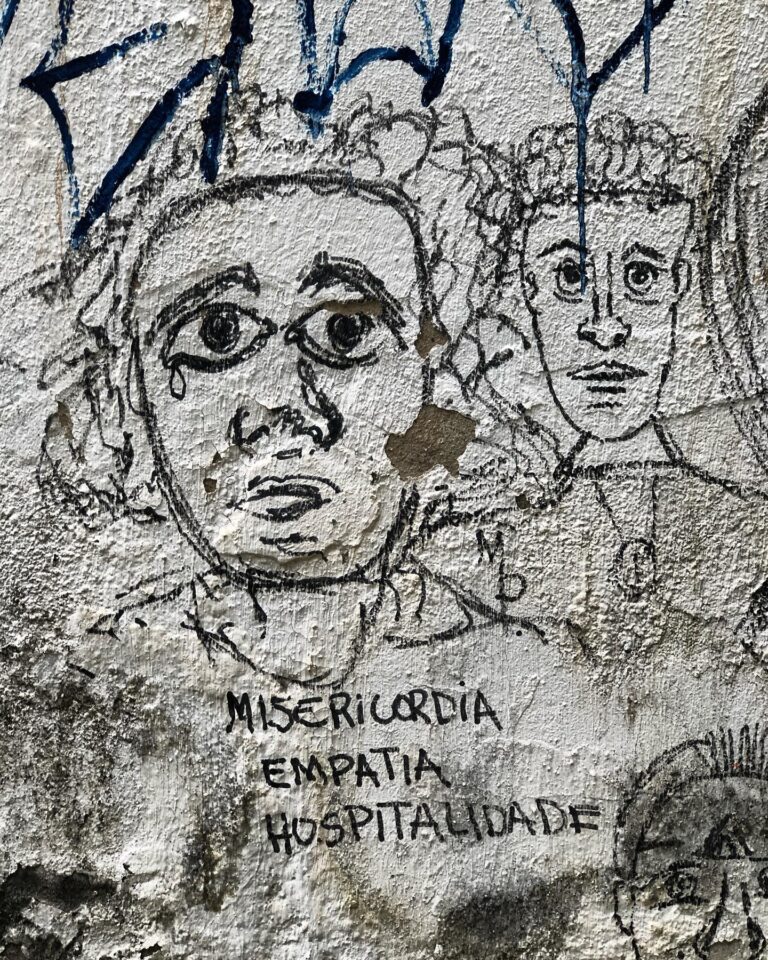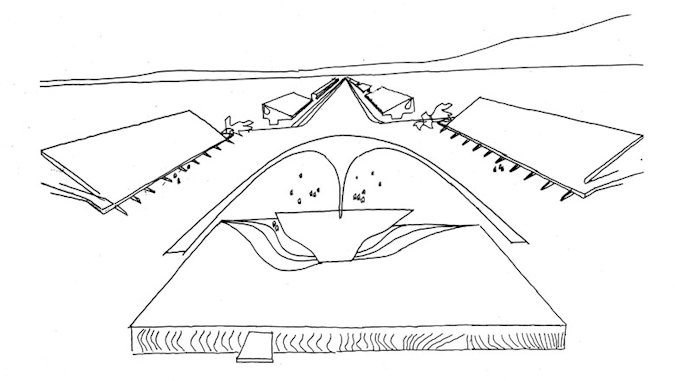Por DANIELE DE PAULA*
O caráter tardio da CNV e suas limitações em relação ao poder de julgar e condenar os perpetradores da ditadura parece ter sido seu grande problema
Em dezembro de 2014 foi entregue o relatório final da Comissão Nacional da Verdade à então presidenta, Dilma Rousseff. Criada pela lei 12.528, o objetivo da CNV era examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas pelo Estado brasileiro entre 1946 e 1988, a fim de consolidar o direito à memória, à verdade e promover a reconciliação nacional. Contudo, passados dez anos desde a entrega do relatório final, as disputas pela memória da ditadura no país se intensificaram e a reconciliação nacional parece estar cada vez mais distante. Afinal, o que aconteceu?
Para alguns especialistas, como Rodrigo Motta (2021), a Comissão Nacional da Verdade serviu de estímulo para a mobilização de setores ligados à extrema direita, fazendo com que eventos relacionados ao golpe de 1964 e à ditadura militar se tornassem cada vez mais comuns no debate público. De fato, desde que a criação da comissão foi sugerida, na terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos (2009), ela tem suscitado intensas discussões e disputas memoriais.
Na imprensa, por exemplo, as primeiras críticas à comissão apareceram em 2010, por meio das declarações de generais e publicações de cartas e opiniões (DIAS, 2013). Apesar dessas tensões iniciais, a proposta de criação da CNV foi formalizada e enviada para o Congresso Nacional em 2011, onde sofreu forte contestação do então deputado federal Jair Bolsonaro (ALMADA, 2020).
De modo geral, para setores ligados às Forças Armadas e à extrema direita, a comissão representou o “revanchismo” das esquerdas e a violação da Lei de Anistia (1979). Como se sabe, a transição brasileira (1979-1985) foi tutelada pelos militares e a lei de anistia, de certa forma, refletiu essa tutela ao ter garantido a impunidade dos militares e ter estabelecido as bases para a construção de uma política de “esquecimento”, sob a premissa de que seria necessário esquecer o passado ditatorial para construir o futuro democrático.
Essa política de esquecimento prevaleceu nos anos subsequentes à transição e somente a partir da década de 1990 é que o governo federal adotou algumas políticas de memória em relação à ditadura. Como exemplo desse tipo de iniciativa podemos citar: a Lei dos desaparecidos políticos (1995), a Lei de reparação aos anistiados (2002), a transferência dos arquivos do SNI para o Arquivo Nacional (2005), o livro-relatório Direito à memória e à verdade (2007) e o projeto Memórias reveladas (2009).
Tais medidas também geraram desagrado na caserna e em setores conservadores, mas não tiveram a amplitude e a repercussão da Comissão Nacional da Verdade que, de certa forma, objetivou escrever uma história “oficial” sobre o período da ditadura, além de ter colocado os perpetradores desse período em evidência.
Sendo assim, é compreensível que a Comissão tenha gerado a reação de setores ligados à extrema direita civil e militar. Tais grupos, fortalecidos pelo sentimento de aversão ao partido dos trabalhadores, encontraram um terreno fértil para disseminar não apenas as suas críticas à comissão, como também a defesa da ditadura de 1964. Com isso, a história da ditadura se tornou mais presente no debate público dos últimos anos, reacendo disputas políticas e memoriais.
Durante a efeméride dos cinquenta anos do golpe de 1964, por exemplo, assistimos a uma verdadeira guerra de memórias na sociedade brasileira protagonizada pelos herdeiros e defensores de uma memória crítica à ditadura, cuja hegemonia tem sido ameaçada pela extrema direita nos últimos anos (NAPOLITANO, 2015).
Obviamente os efeitos indesejados da Comissão Nacional da Verdade, isto é, a mobilização de setores reacionários em defesa da ditadura, não diminui a sua importância. A Comissão cumpriu com um papel importante ao nomear e responsabilizar os perpetradores do período (361 agentes do Estado) e afirmar – o que a historiografia já havia mostrado, diga-se de passagem – o caráter sistemático das violações contra os direitos humanos.
Ademais, a comissão também reconheceu 434 mortos e desaparecidos políticos e, propôs, medidas interessantes no que tange ao campo da memória: a proibição de comemorações oficiais do golpe de 1964, o reconhecimento pelas Forças Armadas das violações cometidas contra os direitos humanos, a reformulação do conteúdo curricular das academias militares e o incremento de uma política de preservação da memória das violações dos direitos humanos durante o regime militar (NAPOLITANO, 2015).
No entanto, o seu caráter tardio e as suas limitações em relação ao poder de julgar e efetivamente condenar os perpetradores da ditadura (judicialmente), é que parece ter sido o grande problema. A justiça de transição, de modo geral, baseia-se em quatro pilares: (i) no direito à verdade e à memória; (ii) na reparação das vítimas; (iii) na justiça (através de julgamentos judiciais) e (iv) nas reformas institucionais para fortalecer a democracia. Se levarmos em consideração o processo de transição no Brasil, inicialmente nenhum desses pilares foi cumprido, pois como exposto, a lei de Anistia buscou garantir o “esquecimento” e a impunidade dos militares.
Posteriormente, já em um contexto democrático, alguns dos pilares da justiça de transição começaram a ser construídos no Brasil por meio das políticas de memória citadas acima e da própria Comissão Nacional da Verdade. Contudo, o “esquecimento” que prevaleceu durante tanto tempo, aliado à falta de justiça, parecem ter contribuído para uma má incorporação dos valores democráticos na sociedade brasileira. Portanto, não surpreende que a extrema direita tenha encontrado, nos últimos anos, um terreno fértil para defender a ditadura militar e novos projetos autoritários para o país.
Posto isso, é incompreensível a atitude do presidente Lula que, recentemente, optou por vetar os eventos relacionados à efeméride dos 60 anos do golpe de 1964. Tal postura – ainda que esteja relacionada a uma estratégia política – alimenta o “esquecimento” que nos trouxe até aqui.
*Daniele de Paula é mestranda em História Social na USP.
Referências
DIAS, Reginaldo Benedito. A comissão Nacional da verdade, a disputada da memória do período da ditadura e o tempo presente. São Paulo, Patrimônio e Memória, v. 9, nº 1, 2013.
ALMADA, Pablo Emanuel Romero. O negacionismo na oposição de Jair Bolsonaro à Comissão Nacional da Verdade. RBCS, v. 36, n. 106, 2021.
NAPOLITANO, Marcos. “Recordar é vencer”: as dinâmicas e as vicissitudes da construção da memória sobre o regime militar brasileiro. Antíteses, Londrina, 2015.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Passados Presentes: o golpe de 1964 e a ditadura militar. Zahar, Rio de Janeiro, 2021.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA