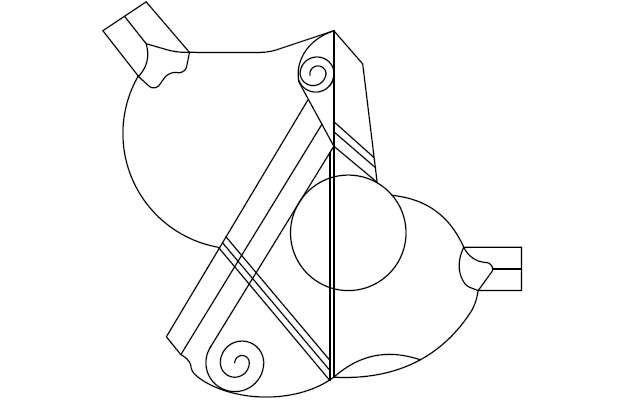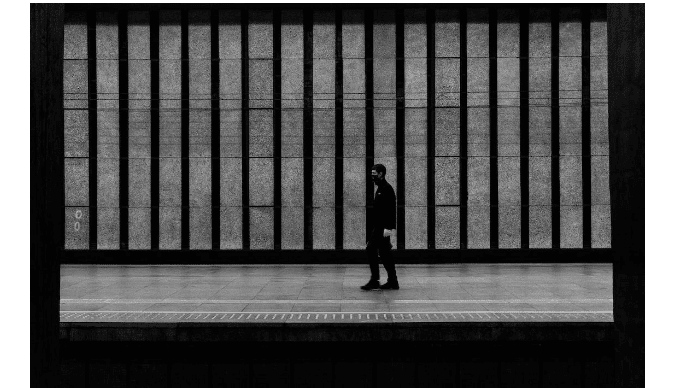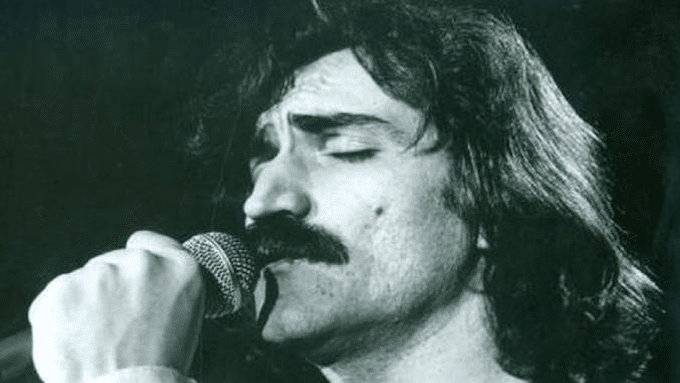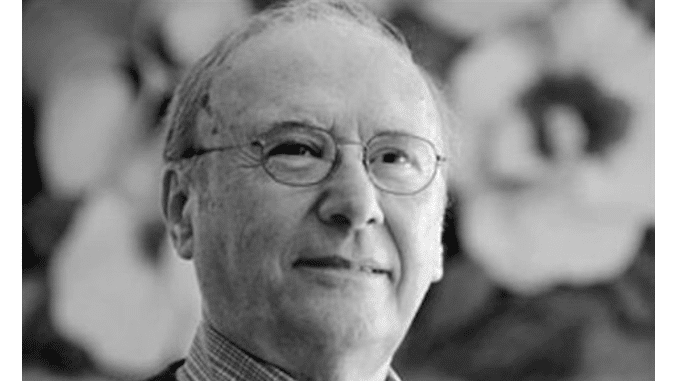Por PEDRO DANIEL BLANCO ALVES*
A implementação de mecanismos de controle social é essencial para assegurar que os princípios do trabalho decente sejam respeitados e promovidos
1.
A PNAD contínua do 2º trimestre de 2025 identifica um mercado de trabalho no Brasil com 108,5 milhões de pessoas na força de trabalho (a antiga “população economicamente ativa”). São 102,3 milhões de ocupados (94,2%) e 6,2 milhões de desocupados (5,8%), indicador que, apesar da informalidade estrutural de 37,8%, marca o menor desemprego da série histórica.
Como boa parte do mundo desindustrializado, o Brasil é uma sociedade de serviços. O setor terciário (comércio, transporte, alimentação, administração, serviços) absorve 72,3% dos postos de trabalho, contra 20,1% do setor secundário (indústria, construção) e 7,5% do primário (agricultura, extrativismo).
São 12,8 milhões de pessoas no setor público (12,5% da ocupação), o que demonstra que 87,5% dos trabalhadores ocupados (89,5 milhões) estão vinculados ao setor privado, onde o salário médio de quem tem carteira assinada (R$ 3.151,00) é a metade da média salarial do funcionalismo público em regime estatutário (R$ 6.201,00).
Apesar da tendência de no setor público haver um movimento crescente de desligamentos a partir de marcos como o tema 1022 do STF, julgado em 2024 (permitindo a dispensa de servidores), é notório que as elevadas taxas de rotatividade no Brasil são marcas das empresas privadas, onde o trabalhador é dispensado imotivadamente. Permanecer pouco tempo na empresa (sabendo que será dispensado, e até torcendo para isso, tendo em vista elementos como o esvaziamento de sentidos do trabalho realizado) é um dos muitos aspectos que estão na raiz da baixa densidade sindical no país.
Muito se diz sobre a promoção do trabalho decente nas empresas – um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (o de número 8) –, mas os dados públicos revelam que isso só é efetivado a partir da postura proativa de instituições de proteção ao trabalho (sindicatos, inspeção laboral, judiciário, MPT).
Tão acusadas de desarrazoadas, as ações trabalhistas ainda são o único espaço em que direitos mínimos (como o recebimento de verbas rescisórias) encontram alguma chance de serem satisfeitos. Aliás, este é o tema da maior parte dos processos trabalhistas no Brasil.
2.
De acordo com SmartLab, iniciativa interinstitucional com a qual colaboram órgãos como MPT, OIT, SUS, IBGE e ministérios, os afastamentos pelo INSS ligados à saúde mental mais do que dobraram no período de 2022 (200.588) a 2024 (471.649).
Isso demonstra a calamidade que o adoecimento psíquico representa na sociedade brasileira, que viveu na pandemia da COVID-19 uma das maiores taxas de morbidade em todo o mundo, com mais de 10% de todos os óbitos concentrados em território nacional (em um contexto de notória subnotificação), com frágeis políticas públicas de proteção dos trabalhadores e dos seus empregos (o que é historicamente bem simbolizado na denúncia da Convenção 158 da OIT, que limita a dispensa imotivada, decretada em 1996 por Fernando Henrique Cardoso sem ouvir o Congresso).
No léxico empresarial, contaminado pela ideia do “colaborador” que, sem sindicato e desautorizado de pensar criticamente a própria ocupação, credita as expectativas de viver uma vida digna no trabalho a partir da benevolência que aposta existir em conceituações como “compliance” ou “ESG”, o controle social do adoecimento decorrente do trabalho é um tema evidentemente neutralizado, o que inviabiliza pensar a possibilidade de conceber espaços “democráticos” e “livres” dentro da empresa.
No último relatório da Confederação Sindical Internacional sobre direitos (Índice Global de Direitos de 2025), o Brasil é classificado como um país que “viola sistematicamente” direitos trabalhistas, o que diz muito a respeito da opressão contra a força de trabalho.
Na abstração jurídica dos debates sobre direitos, não faltam odes aos supostos “mecanismos de controle interno” que o sistema normativo prescreve às organizações, como se, num passe de mágica, a “CIPA”, a “nova NR-1” ou o “compliance”, de alguma maneira, suprissem o déficit democrático e de cidadania existente nas relações de trabalho de um país cujas entranhas são cravadas no escravismo e na exclusão.
Contexto social em que a saúde e segurança do trabalho, em um número incomensurável de situações, não passa de um conjunto de atos meramente cartoriais esvaziados de significado científico, profissional e até ético.
3.
Em meio a isso, é evidente a dificuldade de se conceber a efetivação plena do “trabalho decente” sem a integração de organismos de controle social, que, mesmo em sua projeção institucional de garantia de direitos, tendem a abranger apenas a parcela do mercado de trabalho minimamente incluída à cidadania (menos do que a metade da força de trabalho nacional), como os trabalhadores formalizados (sejam assalariados com direitos ou verdadeiramente autônomos, sem se considerar nesta categoria o “pejotizado” e outras miragens de “empreendedorismo de si próprio”).
No sistema brasileiro, a cobertura das negociações coletivas realizadas por sindicatos não alcança sequer a metade da população ocupada, o que é grave em uma sociedade cuja Constituição Federal elenca como meta a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades.
Os dados (judiciais, inclusive) revelam que o empregador brasileiro não valoriza direitos sociais – e poderíamos dizer o contrário se o judiciário não estivesse abarrotado de ações à procura do cumprimento dos direitos mais básicos em matéria trabalhista. O resultado da equação é simples: socializa-se o custeio do adoecimento (absorvido pela seguridade social e pelas famílias) e, antes do descarte do indivíduo doente, entesoura-se o lucro da produção, cada vez mais incrementado.
O próprio processo judicial, em todos os anos de seu desenvolvimento, é frequentemente visto como um “bom negócio” para a empresa financeirizada (a atrasar, como método, a satisfação do direito vindicado).
Em um mercado de trabalho com a estridente informalidade de 37,8%, as altas taxas de adoecimento e todos os seus indicadores de precariedade e exclusão, incluindo as elevadas taxas de rotatividade, é impossível cogitar a efetivação de direitos humanos (dentre os quais o trabalho decente, o pleno emprego e o acatamento a direitos) sem que as empresas, em suas iniciativas de “internalização” das “políticas trabalhistas”, sejam ordinariamente fiscalizadas por instituições de proteção ao trabalho (como sindicatos, inspeção laboral, judiciário, MPT).
A propósito, organizações que fomentam verdadeiramente o “trabalho decente” não cerceiam, ou não deveriam cercear, o seu controle social.
*Pedro Daniel Blanco Alves, advogado, é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Autor de Marchandage e a máquina do tempo da terceirização (Lutas Anticapital).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA