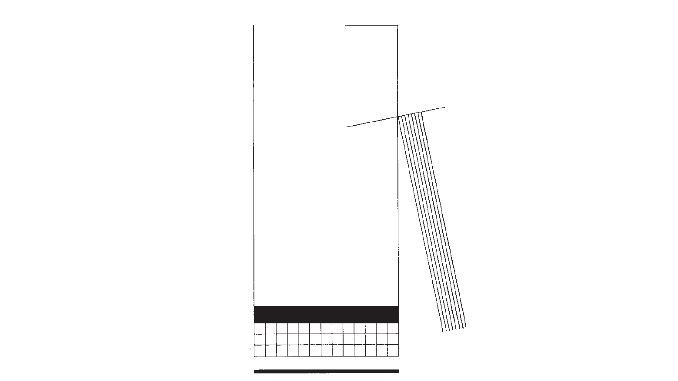Por CONRADO RAMOS*
Comentário sobre o livro de Cora Coralina
Em Do Beco da Vila Rica – publicado em 1965 –, da Aninha feia da ponte da Lapa, a Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a nossa Cora Coralina – nome prenhe de poesia -, a história dos vencidos encontra um lugar: “A estória da Vila Rica / é a da cidade mal contada, / em regras mal traçadas. / Vem do século dezoito, / vai para o ano dois mil.”
“Vila Rica não é sonho, inventação, / imaginária, retórica, abstrata, convencional.” Mas tem seu materialismo alegórico. “É real, positiva, concreta e simbólica. / Involuída, estática. / Conservada, conservadora. / E catinguda.” (CORALINA, C. Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. São Paulo: Círculo do Livro, 1990, p. 66).
Neste lugar a presença irrecalcável da morte é diária e indiferente e é com ela que entramos no Beco, já nos primeiros versos do poema, como quem sai das zonas de proteção do Estado: “No Beco da Vila Rica / tem sempre uma galinha morta. / Preta, amarela, pintada ou carijó. / Que importa? / Tem sempre uma galinha morta, de verdade. / Espetacular, fedorenta. / Apodrecendo ao deus-dará.” No Beco da Vila Rica a história de abandono tem longa duração e nenhuma esperança. Nele, a necropolítica se camufla de segunda natureza, como um hábito diário que a morte tem de morrer; morte que o Beco herdou como tradição, como monumento, sem que ninguém mais ali pensasse no Beco sem ela: “No Beco da Vila Rica, / ontem, hoje, amanhã, / no século que vem, / no milênio que vai chegar, / terá sempre uma galinha morta, de verdade. / Escandalosa, malcheirosa. / Às vezes, subsidiariamente, também tem / – um gato morto.” (p. 65). Nos becos do mundo a morte compõe a paisagem ordinária. Paisagem subsidiária do progresso e da ordem desse mundo.
A cadeia de acontecimentos que o Angelus Novus vê como uma catástrofe que acumula ruínas dispersas a nossos pés aparece, ao feitio de Coralina, na forma que os destroços aglomerados ganham nos becos, como monturos: “No Beco da Vila Rica tem / velhos monturos, / coletivos, consolidados, / onde crescem boninas perfumadas.” (p. 65). Mas não nos deixemos enganar pela poesia das boninas, pois lá elas estão não como a flor de Drummond, que nasceu na rua, furando o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. As boninas dos monturos de nosso Beco é a teimosia ruderal da miséria lumpensinata; a vida que insiste em sua pouquidão agreste e inculta, espalhando-se, sempre emigrada, entre tédios, nojos e ódios; as sobrevivências refugiadas de várias cores que se agarram aos cantos e vielas do mundo (quantos becos nos êxodos das lentes de Salgado!…): “E a ervinha anônima, / sempre a mesma, / estendendo seu tapete / por toda a Vila Rica. / Coisinha rasteirinha, sem valia. / Pisada, cativa, maltratada. / Vigorosa. / Casco de burro de lenha. / Pisadas de quem sobe e desce. / Daninheza de menino vadio / nunca dão atraso a fedegoso, / federação, manjiroba, caruru-de-espinho, / guanxuma, são-caetano. / Resistência vegetal… Plantas que vieram donde? / Do princípio de todos os princípios. / Nascem à toa. Vingam conviventes. / Enfloram, sem amparo nem reparo de ninguém. / E só morrem depois de cumprida a obrigação: / amadurecer… sementear, / garantir sobrevivência. / E flores… migalhas de pétalas, de cores. / Amarelas, brancas, roxas, solferinas. / Umas tais de andaca… boninas… / Flor de brinquedo de menina antiga. / Flor de beco, flor de pouco-caso. / Vagabundas, desprezadas.” (p. 68-9). Flores sem fronteiras e destinos, aos mil-milhares, prófugas e redivivas.
As mais duradouras heranças das classes dominantes desaparecem das paisagens burguesas e vão parar nos escondidos das passagens às portas e portões dos fundos do capitalismo: “Monturo: / Espólio da economia da cidade. / Badulaques: / Sapatos velhos. Velhas bacias. / Velhos potes, panelas, balaios, gamelas, / e outras furadas serventias / vêm dar ali.” (p. 66). Todas as espécies de inutilezas – não aquelas de Manoel de Barros, que ganham prestanças poéticas – vivas ou não, acidentais ou impostas, vão dar nos becos.
Também no monturo do nosso Beco o duradouro casamento entre o legado do consumismo e a violência ambiental: “Não há nada que dure mais do que um sapato velho / jogado fora. / Fica sempre carcomido, / ressecado, embodocado, / saliente por cima dos monturos. / Quanto tempo! / Que de chuva, que de sol, / que de esforço, constante, invisível, / material, atuante, / silencioso, dia e noite, / precisará um calçado, no lixo, / para se decompor absolutamente, / se desintegrar quimicamente / em transformações de humo criador?…” (p. 67). É genial o recurso do excesso de vírgulas de modo a ritmar a respiração da temporalidade lenta. Nos becos do mundo um magma de vírgulas e reticências se solidificam sobre as potencialidades históricas (transformações do humo criador).
“Às vezes, um vadio, / malvado ou caridoso, / põe fogo no monturo. / Fogo vagaroso, rastejante. / Marcado pela fumaceira conhecida. / Fumaça de monturo: / Agressiva. Ardida. / Cheiro de alergia. / Nervosia, dor de cabeça. / Enjoo de estômago. / Monturo: / tem coisa impossível de queimar, / vai ardendo devagar, / no resto da cinza, na mortalha da fumaça.” (p. 67). O Beco da Vila Rica também tem seus holocaustos: catingudo, fedorento, malcheiroso – ainda que ali vinguem boninas perfumadas -, a fumaça dos monturos é fumaceira conhecida. A periferia do capitalismo cheira a fumaça: fumaça de lixo, fumaça de fábrica, fumaça de floresta, fumaça de queimada, fumaça de incêndio, fumaça de guerra, fumaça de morte, fumaça. É das nuvens do gás da pobreza que o Angelus Novus tenta acordar os mortos e juntar os fragmentos. A vida defumada dos becos agarra de mal-estares o corpo: o que do sistema encontra rejeições, ganha vapores nauseabundos. É pela fumaça que os becos entram nos corpos.
Também para os monturos do Beco da Vila Rica vão os patriarcas falidos que ao sistema não servem mais: “Monturo… / Faz lembrar a Bíblia: / Jó, raspando suas úlceras. / Jó, ouvindo a exortação dos amigos. / Jó, clamando e reclamando de seu Deus. / As mulheres de Jó, / As filhas de Jó, / gandaiam coisinhas, pobrezas, / nos monturos do beco da Vila Rica.” (p. 67). (No capitalismo tomado como religião, que o nome do pai continue a ser louvado.) Os monturos dos becos, para as cidades interioranas, equivalem aos debaixos das pontes das grandes capitais: locus da exclusão máxima do laço social a ocupar nossos fantasmas burgueses e que assombrou também a tradicional família da menina-poeta: “Eu era menina pobrezinha, / como tantas do meu tempo. / Me enfeitava de colares, / de grinaldas, / de pulseiras, / das boninas dos monturos.” (p. 67-8).
De costas para o Beco, os muros e portões mimetizam a aristocracia, a fragilidade política de sua existência ultrapassada e suas salvaguardas institucionais historicamente engessadas: “Velhos portões fechados. / Muros sem regra, sem prumo nem aprumo. / (Reentra, salienta, cai, não cai, / entorta, endireita, / embarriga, reboja, corcoveia… / Cai não. / Tem sapatas de pedras garantindo.)” (p. 66).
Muros e portões a fazerem a austera e avarenta fronteira entre o desamparo do Beco e a sempiterna propriedade privada: “Vivem perrengando / de velhas velhices crônicas. / Pertencem a velhas donas / que não se esquecem de os retalhar / de vez em quando. / E esconjuram quando se fala / em vender o fundo do quintal, / fazer casa nova, melhorar. / E quando as velhas donas morrem centenárias / os descendentes também já são velhinhos. / Herdeiros da tradição / – muros retalhados. Portões fechados.” (p. 66).
Tal qual com os monturos, o desdém adorna os muros: “Na velhice dos muros de Goiás / o tempo planta avencas.” (p. 66).
Mas o olhar atento da poeta-menina revela que as elites têm medo dos becos: “Vila Rica da minha infância, / do fundo dos quintais… / Sentinelas imutáveis dos becos, os portões. / Rígidos. Velhíssimos. Carunchados. / Trancados à chave. / Escorados por dentro. / Chavões enormes (turistas morrem por elas). / Fechaduras de broca, pesadas, quadradas. / Lingueta desconforme, desusada. / Portões que se abriam, / antigamente, / em tardes de folga, / com licença dos mais velhos.” (p. 68).
Mas nosso Beco já teve seu momento romântico para as famílias de renome antes do fechamento dos portões: “Aonde a gente ia – combinada com a vizinha, / conversar, espairecer… passar a tarde… / Tarde divertida, de primeiro, em Goiás, / passada no Beco da Vila Rica, / – a dos monturos bíblicos. / Dos portões fechados. / Dos mosquitos mil. Muriçocas. Borrachudos. / E o lixo pobre da cidade, / extravasando dos quintais. / E aquela cheiração ardida.” (p. 68). E já foi rota de escondidas coisas de diferentes classes, como “Dos escravos de sunga de tear, camisa de baeta, / pulando o muro dos quintais, / correndo pra o jeguedê e o batuque.” (p. 65); como das visitas de sinhazinhas: “Estas e outras visitas se faziam / passando pelo portão. / Andar pelas ruas. Atravessar pontes e largos, / as moças daquele tempo eram acanhadas. / Tinham vergonha de ser vistas de ‘todo o mundo’…” (p. 71). As praças, os largos, as feiras e avenidas, lugares de palcos, palanques, púlpitos, tribunas, altares e publicidades mal sabem que é pelos becos que circulam as verdades da cidade: “Becos da minha terra… / Válvulas coronárias da minha velha cidade.” (p. 69). A geografia dos conluios, ardis e conchavos, o mapa das confidências, armadilhas e traições, o labirinto das intimidades, discrições e tocaias, tudo o que a história dos vencedores oculta, renega, silencia, incorpora o mosaico dos becos: “Dar lembrança, dar recado. / Visitas com aviso prévio. / Mulheres entrarem pelo portão. / Saírem pelo portão. / Darem voltas, passarem por detrás. / Evitarem as ruas do centro, / serem vistas de todo o mundo.” (p. 72).
O mais importante, no entanto, é reconhecer que, enquanto a praça pública acolhe o cortejo de vencedores, pelo chão dos becos escorrem os horrores impostos a gerações de derrotados: “Além do mais, Vila Rica tem um cano horroroso. / Começa no começo. / Abre sua boca de lobo / e vai até o rio Vermelho. / Coitado do rio Vermelho!… / O cano é um prodígio de sabedoria, / engenharia, urbanismo colonial, / do tempo do ouro. / Conservado e confirmado. / Utilíssimo ainda hoje. / Recebe e transfere. / Às vezes caem lajes da coberta. / A gente corre os olhos sem querer. / Meninos debruçam para ver melhor / o que há lá dentro. / É horroroso o cano do seu arrastar de espurcícias, / vagaroso.” (p. 69). Herança do colonialismo, conservada e confirmada, utilíssima ainda hoje, pelos canos que atravessam a América Latina, como veias abertas de Galeano, ainda correm os horrores genocidas, racistas, machistas, LGBTfóbicos. O espurco da civilização insiste em romper o esgoto ideológico feito para encobri-lo – o cano é um prodígio de sabedoria. E por vezes ele vence lajes, irrompe vulcânico à flor do dia.
Mas eis que bradam dos céus torrentes censuradoras, chega rapidamente a enxurrada dos biopoderes higienizantes e os dilúvios eugênicos a garantir que o proletariado siga existindo livre como os pássaros: “Deus afinal se amerceia de Vila Rica / e um dia manda chuvas. / Chuvas pesadas, grossas, poderosas. / Dilúvio delas. Chuvas goianas. // A enxurrada da Rua da Abadia lava o cano. / O fiscal manda repor as lajes. / E a vida da cidade continua, / tão tranquila, sem transtornos.”
Diz Benjamin na segunda tese sobre o conceito de história que o passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção. E diz também que nos foi concedida uma frágil força messiânica à qual o passado dirige um apelo. E diz ainda, na tese quatro, que, graças a um misterioso heliotropismo, o passado tenta dirigir-se para o sol que se levanta no céu da história. No nosso Beco, por mistérios alquímicos, a história vira ouro. E são poucos os que, do apelo poético dos becos do mundo, sabem ouvir os brilhos: “Diz a crônica viva de Vila Boa / que, debaixo do cano da Vila Rica, / passa um filão de ouro. / Vem da Rua Monsenhor Azevedo. / Rico filão. Grosso filão. / Veia pura, confirmada. / Atravessa o beco – daí o nome de Vila Rica. / E vai engolido pelo rio Vermelho.“ (p. 69-70).
É dos subsolos dos becos do mundo, dos chãos que sustentam, acolhem e engolem os vencidos, do que neles se recolhe e condensa, que podemos extrair o precioso metal do qual faremos as ferramentas da transformação.
Pelos becos de Cora Coralina, pelos becos de Goiás, “Beco do Cisco. / Beco do Cotovelo. / Beco do Antônio Gomes. / Beco das Taquaras. / Beco do Seminário. / Bequinho da Escola. / Beco do Ouro Fino. / Beco da Cacheira Grande. / Beco da Calabrote. / Beco do Mingu. / Beco da Vila Rica…” (p. 62), flanaria Walter Benjamin com seu olhar de constelar a história e de buscar a totalidade no particular. Mas foi a menina feia da ponte da Lapa quem o fez.
*Conrado Ramos é psicanalista e poeta, pós-doutor pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP.