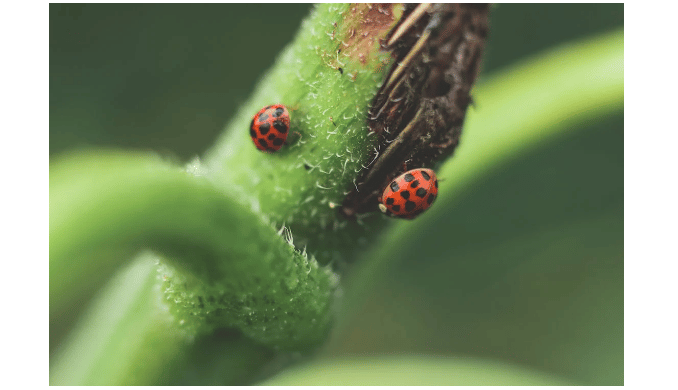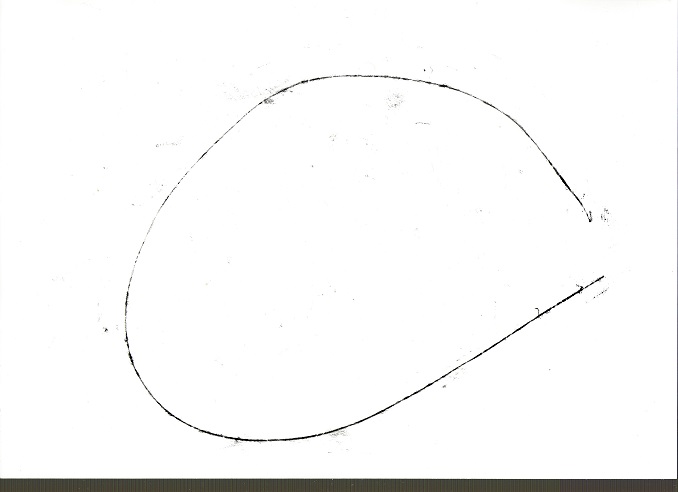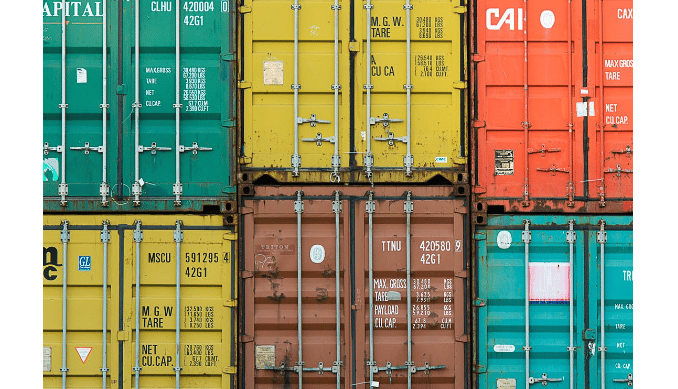Por FÁBIO AKCELRUD DURÃO*
40 fragmentos sobre a literatura e a vida contemporânea
Esboço é um sinônimo de rascunho, um desenho de linhas gerais para ser completado depois. O esboço difere do rascunho quando incorpora a incompletude. Se ela pode ser vista com preguiça também pode ser encarada como convite. Tentativa de traduzir experiências cotidianas em conceito. Produzir um tipo de escrita que acolhesse a conversa, aqui pensada como uma forma privilegiada de intersubjetividade, um estar-junto.
1.
A emergência da teoria literária facilitou muito o trabalho transdisciplinar. O aparato conceitual que servia à exegese de textos ficcionais, hoje pode ser transferido para os mais diversos campos do saber. Críticos literários escrevem sobre temas centrais de outras especialidades, sem obviamente dominar o debate subjacente a cada um deles. Fala-se de democracia, sendo um estranho à ciência política, de inconsciente, desconhecendo as várias vertentes da psicanálise, de sociedade, ignorando a história social do termo, do tempo, desconhecendo sua configuração na tradição filosófica, de cultura, sem a perspectiva comparativa da antropologia… Com frequência, o resultado final é um híbrido que não se insere plenamente em disciplina alguma, mas que pode penetrar em cada um adelas. A teoria literária tornou-se uma espécie de vírus. Erra quem diz que a literatura morreu: ela está mais viva do que nunca, como doença.
2.
Há poucas coisas mais cativantes do que a mistura de inteligência brilhante com uma aparência física abjeta.
3.
Definição de autonomia: deixar ser.
4.
Definição de erudito: não simplesmente aquele que leu muito, que possui uma biblioteca na cabeça, mas alguém que consegue situar as questões em horizontes bem amplos.
5.
Estava assistindo uma fala sobre novas tendências nas digital humanities, mas não conseguia entender o que havia de interessante naquilo, que tanto excitava palestrante e plateia. Em meia hora, senti-me velho, sem ter fisicamente envelhecido. Eis aí um bom exemplo do conceito enfático de anacronismo, a coexistência de tempos diferentes no mesmo espaço, uma das mais ricas experiências críticas, pois nos retira do presente sem nos ancorar no passado.
6.
A dificuldade maior de emular o pensamento de Adorno não reside na já quase absurda mistura de erudição e imaginação, no domínio de um amplo horizonte bibliográfico conjugado com a atenção e sensibilidade para o detalhe. Ela se encontra ao invés na manutenção, em nosso espaço mental, de um horizonte de possibilidade: a insistência inquebrantável de que as coisas poderiam ser concretamente outras. Realidade e estreitamento implicam-se mutuamente.
7.
Revisar um texto de verdade significa relê-lo até só sobrar o nojo.
8.
Qualquer texto pode ser lido como literário, à exceção da má literatura.
9.
É curioso que a memória como teoria, tema e mesmo campo seja atualmente avassaladora nos estudos literários, enquanto a memorialística de um Pedro Nava tenha caído em esquecimento.
10.
O oportunismo clássico baseia-se em uma estrutura de ocultação: achar “x”, mas estar disposto a defender “y”, ou “z”. O que essa figura tem de interessante reside nas estratégias que precisa colocar em jogo para legitimar, para outros, mas também para si mesmo, a coerência das escolhas, as motivações subjacentes ao agir, cuja finalidade última não pode surgir como tal, mas que ao invés deve aparentar ser resultado do acaso, do rumo natural das coisas. Isso está em grande medida ultrapassado. O oportunista contemporâneo não acha nada; não teve uma formação suficientemente robusta para cristalizar uma crença que se veja forçado a secretamente repelir. Pode assim flanar livremente pelo mundo das opiniões alheias, colhendo com gosto as mais adequadas ao momento, sem preocupar-se com a consciência dos outros ou a sua.
11.
Microrromance: “Falta inteligência demais na carência dela para eu me apaixonar. – Falta carência demais na inteligência dele para eu me interessar”.
12.
“Não vou deixar, nem que você queira”.
13.
Ideal metodológico: falar “em” ao invés de “sobre”.
14.
Quando criança, achava muito estranho que as instalações escolares fossem piores do que as casas das pessoas.
15.
Ciência por subtração. A crítica impressionista é hoje impossível, não tanto por causa do veredito que lhe foi lançado por uma teoria literária cientificizada, nem ainda porque são poucas as obras atualmente que de fato impressionam, embora isso mereça ênfase e reflexão. O motivo principal para o seu ocaso é o desaparecimento do erudito, aquela pessoa que, a partir da sedimentação de inúmeros textos, conseguia fazer convergir, ainda que falivelmente, gosto e objetividade. Diante disso, a ciência aparece como um quebra-galho.
16.
É sempre uma alegria quando conseguimos perceber que uma pessoa não é um algoritmo.
NB. Julgá-lo impossível encaixa-se em um.
17.
Como é rápida, fácil e tranquila a passagem do sufixo “studies” para industry (e vice-versa).
18.
Estou lendo Eichmann em Jerusalem, de Hannah Arendt, e percebo que, de novo, embarco em uma fantasia: volto no tempo e mostro o livro para lideranças judaicas, que agora podem se mobilizar para resistir ao plano nazista de extermínio. Não consigo lidar com a bibliografia sobre o holocausto sem me render a algum devaneio desse tipo, que muda conforme o conteúdo da narração. Para ser preciso, trata-se de um pequeno delírio, que só dura o tempo da leitura, mas que já é sinal de insanidade. Ele me faz lembrar a criança, que sempre imagina uma saída mirabolante para não encarar o terrível. Pensando bem, essa fuga atesta a loucura do princípio de realidade, a adaptação ao qual regia Eichmann e seus comparsas.
19.
Quando jovem, queria saber um monte de coisas; hoje, ambiciono ter uma ideia apenas.
20.
Adorno escreve em algum lugar que a arte nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. O Facebook e o Google dizem o mesmo.
21.
De um jeito ou de outro a educação pela dureza continua sendo o modelo geral. Diante de uma vida árdua, parece fazer sentido forjar o sujeito a marteladas, gerando internamente a mímesis da opressão que faz o mundo. Esse mecanismo de adaptação tem na criança mimada o seu oposto. Veja bem, não é uma questão de receber presentes, que amiúde não são mais do que a materialização da carência dos adultos à serviço da indústria; trata-se, pelo contrário, originar uma satisfação do jovenzinho com aquilo que performativamente passa a ser. É claro que o confronto com a rudeza da sociedade será sofrido, e o sentimento de desamparo, quase inevitável; no entanto permanecerá a convicção profunda de que o mundo lhe é devedor, de que, perante as dificuldades, a culpa é dele. Esse é um solo fértil para a consciência crítica.
22.
(Com voz de locutor de comercial:) A questão está cabeluda demais? Não tem problema! Invente um conceito e está tudo resolvido.
23.
O conceito de geração é perfeito para se isolar algo que incomoda.
24.
Desconfie quando a teoria se mostrar mais radiante do que a realidade.
25.
Intelectual-biruta. Não, não é o que você está pensando; não se trata de um pensador maluquinho (note o hífen). O intelectual-biruta, pelo contrário, é aquela pessoa que, desprovida de qualquer personalidade, segue à risca os ventos das modas acadêmicas. É uma figura muito útil, porque poupa bastante trabalho: você não precisa fazer uma pesquisa bibliográfica para saber o que está in; basta ver o que ela está fazendo no momento.
26.
“Não, ‘maneirismo’ não é o estudo de coisas maneiras”. – Embora não seria ruim se fosse.
27.
(Ideia roubada do F.U.) O ataque ao cânone literário é um subterfúgio para não ter que se voltar para (ou contra) a sociedade.
28.
Lendo um texto, trombei na expressão “interpretação hegemônica”. Esfreguei os olhos e respirei fundo para tentar lidar com uma combinação de palavras que para mim deveria ser um oxímoro, mas para o autor representava um inimigo. Pior do que o barateamento da interpretação, que não mais é tida como ambicionando a verdade, mas confunde-se com a simples produção de sentido, que faz com que cada uma seja igual às outras no supermercado das ideias – pior do que isso é a beligerização do discurso acadêmico, que pensa, com maior ou menor má-fé, estar fazendo política.
“Interpretação hegemônica”, na realidade, quer dizer “opinião consensual da área”; ao basear seu discurso no campo semântico da guerra, o crítico performativamente apaga tudo aquilo que funda a democracia universitária (as decisões colegiadas, a autogestão, a avaliação por pares, o caráter público de toda documentação, etc.), adequando o debate intramuros à barbárie que está se constituindo fora dele.
29.
Às vezes escrever um livro é uma estratégia para conseguir desenvolver até o fim uma ideia, exorcizá-la para poder pensar outras coisas.
30.
Na crítica literária, o elogio talvez pudesse ser definido como uma estratégia para impedir que o argumento avance e o pensamento rompa barreiras. Um jeito para deixar tudo como está.
31.
Quando você vai ficando mais traquejado, adquirindo familiaridade com o universo das formas fixas, torna-se quase inevitável pô-las em relevo. Surge assim a possibilidade de se falar, literalmente, de um suspense formal: ao invés de “será que o assassino é o mordomo?”, temos a pergunta “será que o assassinato vai ser revelado? E se o detetive morrer antes disso?”. – Mas esse exemplo é fantasioso, porque aponta para uma abertura, ao passo que o mais comum é o contrário: “como que esse problema interessante do começo vai ser neutralizado no decorrer da narrativa para descambar no inescapável final feliz?”
32.
Um colega me confessa: “não sei se são os meus orientandos que estão ficando mais inteligentes, ou eu que me acomodei sem saber”.
33.
Uma amiga brilhante meio que sem saber fez com uma brincadeira a melhor defesa que conheço da forma ensaio: “odeio ler artigos, porque os abstracts e as introduções já dão spoilers do argumento”.
(Se precisar explicar: quando se aplica à teoria procedimentos de análise literária surgem resultados interessantes: conceitos como personagens, argumentos como enredos, atenção para o tom da escrita, a posição do narrador, os campos semânticos das metáforas utilizadas, a estilística frasal, a inserção em subgêneros etc. De uma hora para outra a imaginação dá um pulo.)
34.
A modest proposal: o processo de privatização e mercadorização do ensino exige que nos livremos de uma terminologia ultrapassada e a substituamos por outra mais ágil e moderna, mais adequada aos tempos em que vivemos. Que o professor seja um prestador de serviço, e o aluno, o cliente, é algo que já sabemos; falta ainda mudar “diploma” para “recibo”.
35.
Nunca consegui entender exatamente por que tenho vergonha de escrever na frente dos outros. Talvez esse pudor esteja ligado à escolha das palavras, como se fossem peças de roupa.
36.
Em tempos de pós-crítica. Uma inteligente aluna de pós me explica por que escolheu como tema da tese que está fazendo nos EUA os ecos do fundamentalismo religioso na literatura norte-americana contemporânea: “foi o único jeito que encontrei de garantir um mínimo de negatividade no meu trabalho”, disse ela.
37.
As três fases de desenvolvimento do intelectual: (i) a juventude: pouca bagagem mas muito entusiasmo; (b) a maturidade: um repertório de leituras constituído em busca da construção de uma obra; (c) a decadência: não por falta de forças, mas como decorrência do apaixonar-se por si mesmo.
38.
“Nossa, como você está bem, não envelheceu nada! Me passa a receita do seu gene?”
39.
Velhice. Sempre que pensava na metáfora que melhor descreveria a relação ideal entre crítica e obra me ocorria a imagem da criança com seu brinquedo. Hoje me vem à mente a do o cachorro roendo o osso.
40.
Conversando com um colega.
Diz ele: “Como é possível falar de uma obra literária? Como abordá-la, se já está tudo lá?”
Eu: “É que ela não sabe disso.”
Ele: “Mas e o crítico?”
Eu: “Finge para si que sabe.”
Ele: “O seu leitor?”
Eu: “Com sorte acredita”.
*Fabio Akcelrud Durão é professor do Departamento de Teoria Literária da Unicamp. Autor, entre outros livros, de O que é crítica literária? (Parábola/Nankin).
Para acessar o primeiro lote de fragmentos clique em https://aterraeredonda.com.br/esbocos-de-critica/?doing_wp_cron=1639746960.8139789104461669921875
Para acessar o segundo lote de fragmentos clique em https://aterraeredonda.com.br/esbocos-de-critica-ii/?doing_wp_cron=1643553404.9466409683227539062500
Para acessar o terceiro lote de fragmentos clique em https://aterraeredonda.com.br/esbocos-de-critica-iii/