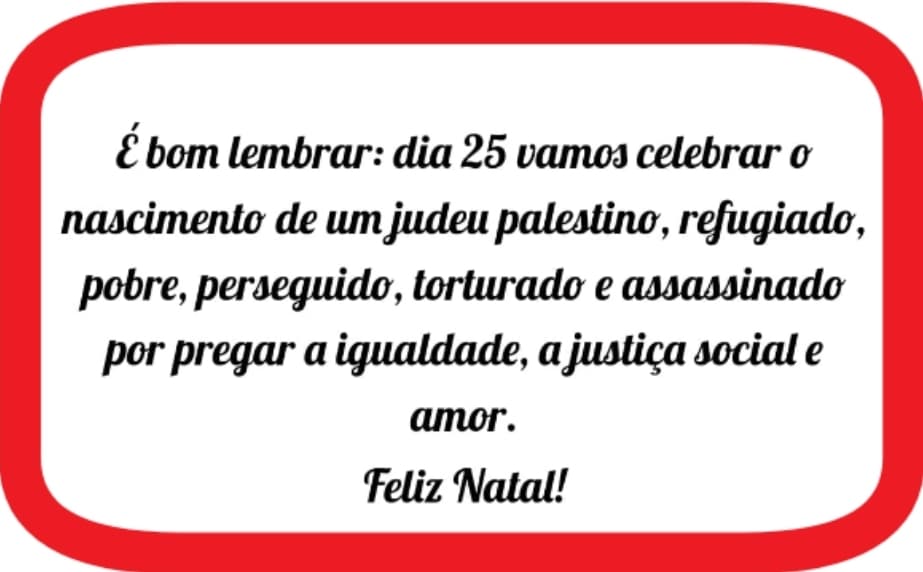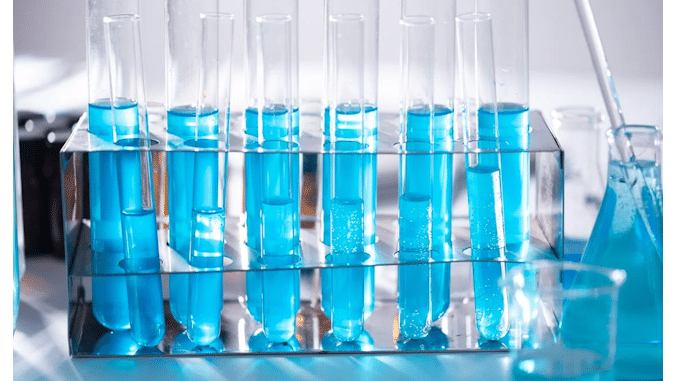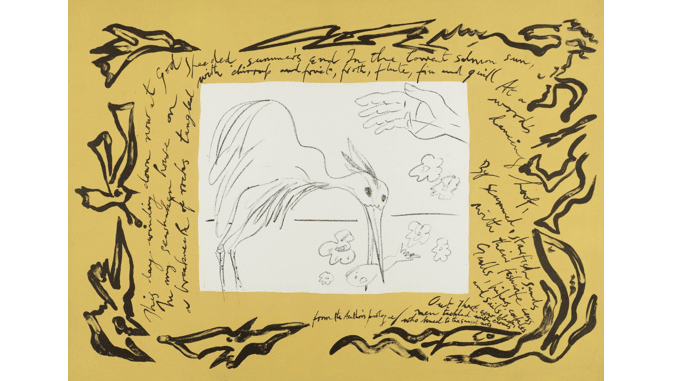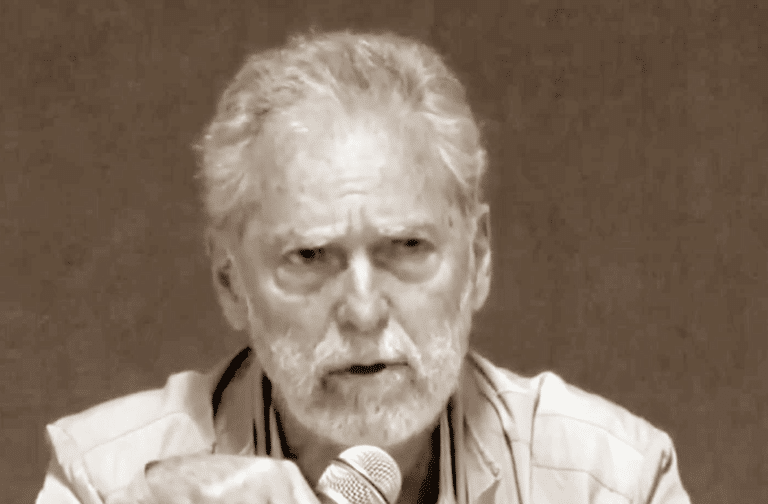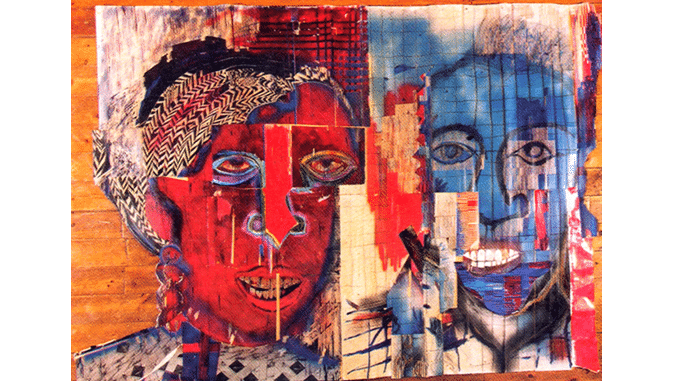Por LARISSA ALVES DE LIRA & HERICK VAZQUEZ SOARES*
A abertura de novas fronteiras acena com novos “eldorados”, empurrando nossas contradições adiante no tempo e no espaço
Em 1952, o geógrafo francês Pierre Monbeig, após sua estada de 11 anos no Brasil, tinha ainda distanciamento suficiente para perceber que o slogan publicitário – “Fique rico” – da Loteria Federal, divulgado em uma pequena cidade da zona pioneira do oeste paulista, era, na verdade, uma “palavra de ordem coletiva”, que reproduzia no Brasil, o mito do Eldorado (MONBEIG, 1952, p. 110).
Para Monbeig, a franja pioneira encarna o nascimento de um capitalismo à brasileira. Ao percorrer as páginas de seu livro Pionniers et Planteurs de São Paulo, publicado na década de 1950, tem-se a sensação de que o mito do Eldorado e a atração dos pioneiros pelo desbravamento da floresta produziam um efeito de ilusão (além de endividamento para adquirir terras novas) nos chamados “pequenos pioneiros”.
A luta pela melhoria de vida, que poderia ser retratada por Monbeig na sua observação sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro nos anos de 1920 e 1930, não aparece para o geógrafo sob o aspecto de uma luta de classes, agrária ou urbana, mas surge, especialmente, na forma de um deslocamento migratório de trabalhadores em direção à fronteira, na luta contra a mata virgem, no endividamento, na desilusão, no retorno à metrópole e na proletarização, depois de um longo ciclo de lutas coletivas pouco reivindicatórias. Nesse sentido, o objetivo deste texto é apresentar questões sobre a existência de um efeito amenizador que o espaço da fronteira, e sobretudo, os espaços amplos como os do Brasil, podem ter no grau de intensidade da luta de classes neste país.
Geopolítica da luta de classes
Se, do ponto de vista histórico, o século XX é um século de violências (HOBSBAWM, 1995), do ponto de vista geográfico, é o século em que emerge a sensação de um espaço-mundo fechado. Aliás, o fenômeno da violência, seja ela revolucionária ou contrarrevolucionária, e o esgotamento dos espaços “vazios” (na perspectiva ocidental) estão intimamente relacionados. A ideia de um espaço fechado, que atinge o seu zênite no começo do século XX, corresponde ao fato de que a globalização econômica se estendeu a todos os confins do mundo. Politicamente, os espaços já possuíam, quase todos, algum tipo de soberania ou apropriação. O resultado é que não há mais espaços vazios que possam servir de válvula compensatória aos conflitos políticos e que possam ser destinos de grandes migrações. O geopolítico inglês, Halford Mackinder, vaticina no antigo estilo:
“De hoje em diante, na idade pós-Colombina, devemos novamente ter de lidar com um sistema político fechado, e no entanto será um de escopo mundial. Toda explosão de forças sociais, no lugar de ser dissipada em um circuito ao redor, de espaço desconhecido e caos bárbaro, será fortemente re-ecoada desde as longínquas partes do globo (…)” (MACKINDER, 2011 [1904], p. 87).
A Era pós-Colombiana, para Mackinder, correspondia à época dos Grandes Descobrimentos e da generalização do capitalismo comercial. Nesse ponto, o imperialista britânico tem o aval de Karl Marx e Friedrich Engels quando ambos professam a avaliação da história das sociedades como uma história de luta de classes. O ápice da luta de classes era também o novo ápice da globalização, da conquista do mundo pelas ferrovias e da globalização econômica e industrial. No Manifesto do Partido Comunista (2008), na célebre passagem em que os autores professam a transformação social radical produzida pela sociedade burguesa, em que “tudo que é sólido se desmancha no ar” (p. 15), é possível realizar uma leitura geográfica.
Com efeito, no Manifesto, no início de um longo raciocínio sobre o processo de formação do mercado mundial, que “promoveu um desenvolvimento incomensurável do comércio, da navegação e das comunicações” (p. 12), pode-se entender que o preenchimento desses espaços pelo capitalismo produziu uma agudização dos conflitos políticos e sociais, a partir do qual “tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas” (p. 16). Sendo assim, no interior da era do espaço fechado, abre-se a era da luta de classes. A mesma constatação foi feita pelo revolucionário Vladimir Lenin: o ápice do capitalismo financeiro era também um novo momento de guerras e de revoluções (LENIN, 2011).
Por esses exemplos, observa-se como a violência política, horizontal ou vertical, pode estar relacionada – do ponto de vista geopolítico – com o fechamento dos espaços e suas sucessivas globalizações. Ocorre que, ainda em 1935, outro geopolítico norte-americano, ocupando a função de conselheiro de Franklin Roosevelt, Isaiah Bowman, tomou a justeza desta “lei” pelas suas exceções: o mundo encontrava-se novamente fechado (às vésperas da Segunda Guerra Mundial), mas havia ressalvas: Brasil, África do Sul, Austrália e Sibéria ainda resguardavam frentes pioneiras. O problema, para nós, é refletir como a frente pioneira pode-se constituir como uma estrutura do Brasil.
Fronteira e luta de classes na origem do capitalismo brasileiro
Para falar de uma geografia econômica que aborda o nascimento do capitalismo brasileiro e suas consequências sociais e políticas, é válido retornar ao trabalho de Pierre Monbeig. A ideia de ciclo urbano, uma de suas primeiras contribuições ao tema, é apresentada no Brasil, em 1940, doze anos antes da defesa da tese de doutorado de Monbeig, em Paris, em 1952. Ele sustenta que esse ciclo urbano da franja pioneira frequentemente reabre-se no espaço e reproduz um novo ciclo. De tais aberturas, surge a possibilidade de adiar lutas reivindicatórias agrárias e urbanas, no campo e na cidade. Por isso, a franja pioneira que se expande no espaço “vazio”, na forma de ação e retroação sobre o espaço, cria também um ciclo de superexploração do trabalhador brasileiro que atrasa seus processos de sedentarização e, por consequência, de reivindicação.
Monbeig introduz essa apreensão cíclica da economia brasileira no espaço: o Brasil herda do espaço colonial múltiplos centros urbanos, mas o fator de fundação da cidade é um fator pretérito, e o que determina a geografia da modernização são os fatores de progressão da urbanização da franja, pois o impulso do avanço da exploração da terra roxa pelo café era seletivo. Essa seletividade valorizava alguns cruzamentos (cidades), em desfavor de outros. Isso, em função da situação em uma rede geográfica. Imediatamente, após a explosão da demanda por café no mercado mundial, tinha-se, localmente, o avanço da ferrovia em função de recursos da terra roxa e da posição dos nós desse espaço econômico, numa rede de relações geográficas, (em que o relevo, por exemplo, jogava papel essencial para o favorecimento da circulação) que gerava o “florescimento” das cidades. A franja pioneira deslocava-se para o seu ponto terminal, o front, enquanto as cidades que ficavam na retaguarda envelheciam, gerando um pequeno mercado interno, pequenas roças, pequenas propriedades e uma protoindustrialização.
Nessa condição, a nova cidade que se tornava “boca do sertão” passava a significar um importante mercado entre a parte do ecúmeno industrializado e o sertão. A nova cidade servia como espaço de aprovisionamento entre as zonas então ocupadas e as zonas afastadas, gerando um verdadeiro mercado de convergência entre os produtos do sertão, zona ainda não atingida pela estrada de ferro, e as zonas que produziam mercadorias manufaturadas. É justamente essa nova cidade que passava a atrair a mão de obra do Brasil sertanejo e promover a sua redistribuição. As primeiras colheitas que essa cidade concentrava eram distribuídas e exportadas pela via férrea e depois pelo porto, e eram excepcionais. Mas, logo o solo se esgotava pelo seu próprio ciclo pedológico, dos solos tropicais. Porém, os pioneiros, esses trabalhadores nômades, os fazendeiros e aqueles pequenos sitiantes endividados, conseguiam renovar as suas esperanças com a ideia de avançar ainda mais sob novas terras. Não era ainda o momento de reivindicações.
Contudo, tendo capturado as principais informações do Estado no que tange às especulações sobre as novas construções ferroviárias, os capitalistas antecipavam a ideia e começavam a organizar a nova boca do sertão à distância: missões científicas, especulações, precificação da terra, planos para a via férrea. Quando havia um deslocamento ao pioneering front, a partir da renovação da demanda do mercado externo pelo café e da “descoberta” da localização de nova terra roxa, a antiga cidade perdia sua condição de entreposto comercial e, nas palavras de Monbeig, começava o período crítico: os solos esgotados tenderiam a não resistir à concorrência das novas zonas e a antiga cidade decaía, expulsava parte de seus habitantes e começava um ciclo de envelhecimento. Com isso, os novos pioneiros avançavam para as novas terras já divididas entre grandes fazendeiros. E, assim, o ciclo se repetia.
Caso, a agora velha cidade, tivesse conseguido se solidificar, aderindo a uma nova função urbana, ela teria mais chances de sobreviver: indústrias, escolas, praças bancárias poderiam ajudar na especialização dessa função. Um eventual sindicalismo poderia surgir. Depois da decadência, as migrações poderiam seguir em dois sentidos principais no espaço: ou para as novas zonas pioneiras ou então para as regiões industriais na retaguarda do processo, mais próximas da capital paulista. Na nova zona pioneira, via-se um recomeço do ciclo. Nas cidades, gerava-se um ciclo de crescimento e industrialização. Assim, ao redor da cidade industrial, sendo a maior delas a capital paulista, construíam-se bairros ou vilas para produção de hortaliças.
Vê-se na obra de Pierre Monbeig que o problema da sedentarização do trabalhador e, ademais, da própria construção do mercado interno no Brasil, possuem também suas especificidades: o mercado era constantemente abalado pela frente pioneira e por mobilizações em massa de trabalhadores. Além disso, a sedentarização do trabalho dava-se na retaguarda do processo, após um longo ciclo de desenvolvimento regional comandado pela franja, e que poderia repetir-se enquanto houvesse espaço (solos férteis) e demanda externa, ou seja, recursos disponíveis e uma conjuntura econômica global propícia. Como já afirmado, o fim do ciclo ou o “envelhecimento” da cidade ainda guardariam as chances de produzir o embrião de um sindicalismo.
O fato essencial é que o trabalhador brasileiro se assentava à terra ou à indústria na retaguarda do processo, ou seja, entre a metrópole e a zona pioneira, depois que sua classe, cheia de ilusões, tinha sido explorada na zona pioneira. Assim, a sedentarização do trabalho e a própria construção do mercado interno passaram por um ciclo de décadas de dinamização da frente antes de ocorrer na cidade.
Fronteira e luta de classes na origem do espaço agrário industrializado
Um texto de Octavio Ianni lançado pelo CEBRAP, em 1976, é uma perfeita continuidade ao trabalho de Pierre Monbeig. Aliás, a geografia francesa parece ter deixado marcas profundas na intelectualidade brasileira. Octavio Ianni analisa as relações de produção da sociedade agrária, no município paulista de Sertãozinho, microcosmo da zona pioneira, do fim do século XIX até 1975. Nessa época, o município passava pelos seguintes períodos: o da cafeicultura, sucedido por seu “envelhecimento”; o do aparecimento da policultura; e, finalmente, o da chegada da industrialização no campo, com o “amplo domínio da agroindústria açucareira” (p. 3). Mas, diferentemente de Pierre Monbeig, Ianni escolhe como foco principal a relação entre as classes sociais, o que nos sugere uma perspectiva sociológica e política importante em continuidade à perspectiva geográfica de Monbeig.
Nesse período de desenvolvimento econômico de Sertãozinho, a força de trabalho escrava estava sendo substituída pelo trabalho livre e, esse, por sua vez, estava sendo fornecido pelo fluxo de migrantes italianos. Ianni demonstra a relação que se pode estabelecer entre o espaço e a questão da exploração da força de trabalho: observa-se uma extrema mobilidade social, denominada por ele como uma “instabilidade”, a qual o trabalhador estava sujeito, e que a fazenda cafeeira teve que vencer.
Para tanto, havia uma supercontratação de mão de obra, fazendo com que a constituição de um mercado industrial de reserva superasse a instabilidade social provocada pela própria disponibilidade de espaço e pelo avanço da fronteira, entre outros elementos: “É claro que nem todos os colonos que chegavam às fazendas permaneciam ali. Havia razoável instabilidade e mobilidade dos colonos, por motivos econômicos, sociais e culturais. Havia os que não se adaptavam aos meios e modos de vida com que se defrontavam na fazenda de café. Uns chocavam-se com os valores e padrões de estilo escravocrata que frequentemente irrompiam nas relações dos fazendeiros e administrados com os colonos e seus familiares. Outros eram mal pagos pelos fazendeiros. (…) Houve aqueles que procuravam outras fazendas, ou núcleos urbanos, em busca de melhores condições de trabalho e de vida. (…) Essa instabilidade explica a luta dos fazendeiros para que sempre chegassem ao Brasil novos imigrantes. Era necessário que o seu número fosse acima das necessidades reais da lavoura, que a oferta de mão-de-obra excedesse de muito à procura, a fim de que os ‘colonos’ se contentassem com salários razoáveis e pudessem também ser substituídos com facilidade” (IANNI, 1976, p. 11).
Essa instabilidade enfrentada pelos donos das fazendas constitui um mecanismo pelo qual, de um lado, os trabalhadores puderam se aproveitar: “Além de que não estavam nunca satisfeitos com os seus salários, a superioridade dos salários pagos nas fazendas que se abriram nas zonas novas, em desbravamento, fazia com que os colonos não renovassem os contratos de trabalho com o mesmo fazendeiro (…)” (p. 12). Por outro lado, uma segunda consequência foi o processo, mais ou menos residual, em que os colonos terminavam por adquirir terras, principalmente, nos momentos de crise de café, constituindo uma policultura. O importante a constatar, é que em ambas as situações, não se vê uma agudização da luta de classes na frente pioneira. Assim, talvez se possa inferir que a contrapartida dessa extrema mobilidade ou do aliviamento temporário da monocultura sobre a terra também era um processo em que a organização da força de trabalho se retardava.
Depois, a indústria cafeeira retoma parte da terra antigamente perdida, e uma nova concentração da propriedade se verifica no município de Sertãozinho. É também o momento em que se vê um mercado interno estabelecido, seja pela resiliência dos benefícios da fase de policultura, seja pelo crescimento das cidades. A trajetória social, portanto, coincide com o ciclo retratado inicialmente por Monbeig: de colono na frente pioneira, a pequeno proprietário na policultura, após longo período de desbravamento da floresta e mobilidade social, até, por fim, operário nas usinas de açúcar. É nesse momento, segundo Ianni, que uma prática reivindicatória de organização de sindicatos começa a aparecer em Sertãozinho, a partir dos arredores de 1940, mas ainda com baixa intensidade: “nota-se que o sindicalismo não teve maiores desenvolvimentos na agroindústria açucareira” (p. 47), tendo recebido um mais forte impulso a partir de 1963, com o reconhecimento por João Goulart, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O problema é que, enquanto Ianni se concentra em uma periodização validada para Sertãozinho, se seguirmos o raciocínio de Monbeig, isso é, na verdade, um ciclo mais amplo de ação e retroação sobre o espaço.
Fronteira, espaço e agudização das lutas de classes no Brasil?
Em 1964, o Golpe Militar inicia uma trajetória de repressão da primeira ascensão das lutas reivindicatórias. Mas, essa trajetória de repressão coincide com um novo ciclo de expansão rumo à fronteira, que se inicia com a expansão da soja. Tal ciclo constrói um paralelo que parece contraditório ao argumento de que o espaço poderia aliviar os conflitos de classes. Só que agora, a expansão da soja era mediada pelos capitais financeiro e industrial. Aparentemente, com a técnica industrial amplamente utilizada, o próprio espaço do Brasil começava a encontrar o fim em potencial de suas fronteiras, o que também coincidiu com uma ainda mais vasta expansão das grandes propriedades pelas novas frentes.
Com efeito, o entendimento dessa expansão passa pela compreensão das grandes transformações da economia brasileira, e na forma como o papel da agropecuária se reconfigurou nesse novo contexto. Pois, em paralelo, o acelerado processo de urbanização, ocorrido no período de 1950 a 1980, levou a um aumento significativo do emprego não agrícola, com a consequente demanda por produtos agrícolas num curto período de tempo. Além disso, constava de todos os planos econômicos dos governos militares[i] a diversificação da pauta de exportações agrícolas, tendo em vista que, para além do abastecimento urbano, a agropecuária seguia sendo fonte provedora de divisas externas para o restante da economia.
Essas transformações demandaram e incentivaram o início de um processo de mudança na base técnica da agricultura brasileira, através de sua integração com a indústria, tendo se formado o chamado Complexo Agroindustrial brasileiro (CAI). Tratava-se de uma mudança bastante relevante em relação aos avanços fronteiriços anteriores, visto que a agricultura se tornou menos dependente do trabalho humano e das condições naturais, para que um maior investimento em bens de capital e de processamento de alimentos permitissem uma maior manipulação das condições naturais e um maior grau de mecanização da produção.
Esse processo foi importantíssimo no sentido de colocar a agricultura no tempo do capital, isso é, de fazer com que a reprodução ampliada do capital na agricultura passasse a depender menos do trabalho humano e das condições naturais e mais dos produtos e dos processos industriais. Consumou-se assim, o casamento entre a indústria agroalimentar e a grande propriedade agrícola, que possibilitou uma “modernização conservadora” da agricultura brasileira, na qual as elites agrárias lograram manter suas propriedades intocadas, bem como seu poder político sobre os rumos do desenvolvimento do país, tendo a burguesia industrial como “sócio menor” (RANGEL, 2005a, b. 61).
Ou seja, mesmo que houvesse a expansão da nova fronteira, isso coincidiria também com uma maior e mais vasta expansão da grande propriedade, fazendo com que o espaço agrícola brasileiro se apresentasse potencialmente mais exíguo. Aparentemente, o processo de mecanização e expansão da agroindústria ocorreu em uma intensidade ainda maior do que o avanço geográfico da fronteira, o que permite especular que, o argumento aqui defendido – de que a fronteira contribuiu com aliviamento das tensões – ainda possa ser validado, se bem contextualizada as condições técnicas na nova expansão.
Possivelmente, tão ou mais importante para a expansão da soja rumo à fronteira oeste, foi a política fundiária implementada pelo regime instaurado em 1964. Nesse quesito, os militares estabeleceram duas diretrizes básicas: as bases institucionais de seu projeto de reforma agrária e o princípio da inviolabilidade da empresa rural, tido como importante pilar da Política de Desenvolvimento Rural. No que tange à política de reforma agrária desse período, a fronteira teve papel essencial, posto que a política baseava-se fundamentalmente em projetos de colonização públicos e privados em terras públicas devolutas e em espaços considerados “vazios”, na prática, esse processo constituía-se numa contrarreforma agrária. Nos projetos de colonização privada, as terras eram vendidas às empresas por valores simbólicos para a criação de projetos agropecuários. Os projetos agropecuários serviam também como forma de garantir o controle da propriedade da terra, visto que seu uso empresarial era condição essencial para aquisição de empréstimos subsidiados por programas de incentivo à agropecuária, numa tática que concentrava terra e crédito subsidiado nas mãos de produtores integrados à agroindústria (SOARES, 2018).
Em linhas gerais, apesar de o Estatuto da Terra conter a previsão de Reforma Agrária, ela se reduziu a programas de titulação e distribuição de lotes nas franjas de projetos de colonização. O destaque da política fundiária do período esteve concentrado no apoio aos grandes empreendimentos rurais. Esse apoio deu-se, principalmente, através do suporte à colonização privada e de incentivos fiscais a projetos agropecuários. Ademais, todo o espaço tornou-se virtualmente apossado, uma vez que a propriedade de terras passou a constituir reserva de valor na carteira de ativos das empresas, além de um meio para se obter crédito e incentivos subsidiados. Passou a existir, então, a expectativa de valorização das terras em virtude das políticas agrícolas e agrárias do governo, sem que houvesse necessidade de aplicação de capital produtivo nessas áreas. Finalmente, essa visão especulativa da propriedade da terra deixou seu preço sujeito à avaliação capitalista de ativos e títulos financeiros de forma geral.
A reprodução ampliada, e agora mediada pelo capital financeiro, da estrutura latifundiária brasileira no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso (estado com maior concentração fundiária do Brasil), em decorrência da contrarreforma agrária levada a cabo pela ditadura militar, criou, aparentemente de maneira diversa aos demais ciclos da fronteira, obstáculos à absorção destas massas de trabalhadores rurais que migraram em direção à região. O espaço disponível para a absorção dos excedentes de mão-de-obra do Sudeste e do Nordeste ficou restrito a poucos loteamentos e projetos de colonização, que em sua maioria, deixaram de fora os pequenos produtores mais pobres, posseiros e trabalhadores rurais. Para essa massa, o destino foi a periferia das novas cidades do agro que surgiram principalmente no eixo da BR-163.
Nesse contexto, centros regionais de médio e grande porte viram massas de trabalhadores (especialmente oriundos da região Nordeste) ocuparem áreas precariamente atendidas por infraestrutura pública, tidas no discurso dominante como focos de violência, doenças e desordem, contra os quais reforçou-se estratégias de controle e hierarquização na organização do espaço urbano, bem como os aparatos de segurança do Estado (FARIAS, 2020, pp. 159-166).
Sendo assim, pode-se dizer que o novo espaço urbano do agronegócio representou uma importante e inaudita arena dos conflitos na fronteira agrícola e um importante palco das contradições de nossa condição de “celeiro do mundo”. O suposto “eldorado da soja”, dotado de terras fartas, férteis e baratas, terra de oportunidades para migrantes, rapidamente converteu-se numa fronteira fechada, onde a violência, a desordem e as mazelas desse modelo, passaram a ser atribuídas justamente aqueles cuja implantação supostamente visava atrair, os migrantes em busca de novas oportunidades.
A organização espacial das cidades do agro denota como a luta de classes na nova fronteira manifestava-se de forma particularmente violenta. Contudo, é no mundo do trabalho que essa violência se expressava de forma mais clara e com fins ainda mais, visivelmente, espoliativos. Trabalho escravo, remunerações pífias e jornadas de trabalho exaustivas e dilacerantes constituíam o cotidiano da agropecuária brasileira. Ainda que os setores mais rentáveis e industrializados contratassem seus trabalhadores de maneira formal, as médias salariais dificilmente ultrapassavam a linha dos dois salários-mínimos. (DIEESE, 2013, p. 30 ).
Mas, paradoxalmente, num momento em que o fechamento dos espaços se tornava ao menos relativo, e tanto a ascensão dos conflitos como a repressão se acentuavam, o ciclo de expansão novamente se relançou. A rápida conversão do “eldorado” em zona de exclusão e segregação, em uma fronteira “fechada” de variadas formas, leva novamente a uma necessidade constante de deslocamentos rumo à novas terras. Convertidas em espaços funcionais do agronegócio monopolista mundializado, num intervalo de 30 anos, as cidades da soja do Centro-Oeste passaram de terra de oportunidades a uma fronteira fechada, com elevada concentração fundiária e sem disponibilidade de terras para novos pioneiros. O desemprego, a violência e a desigualdade impulsionaram novos conflitos, mas também novos fluxos migratórios rumo às novas fronteiras do agro na Amazônia, principalmente, em Rondônia e no sul do Pará, palcos principais da atual destruição da floresta.
Conclusão
Por fim, esse texto não pretende apresentar respostas, mas questionamentos: essa constante transumância do trabalho é uma característica fundante do nosso modelo de desenvolvimento? Seria da constante abertura de novas fronteiras geográficas que depende a sobrevivência do nosso modelo, com crescente depauperação da massa de trabalhadores, temperado com um alívio da luta de classes e concentração incomensurável de riquezas? Aparentemente, a possibilidade de deslocar-se no espaço rumo a novos “eldorados” é um dos fatores que não nos levam a uma situação de radicalização da luta de classes?
Talvez, se possa afirmar que, embora as contradições desse modelo espoliativo, predatório e concentrador mantenham uma importante massa de trabalhadores em constante inquietação, tal inquietação não deixa de se expressar por meio de deslocamentos em busca de melhores oportunidades de acesso à terra e ao trabalho – mesmo que essas oportunidades, dificilmente se concretizem ou se concretizem residualmente – isso aparece como solução alternativa, pelo menos a uma parte da população pauperizada, à radicalização da luta de classes.
Afinal, como qualificar a massa de pioneiros, garimpeiros, mineiros e posseiros que ainda se deslocam constantemente? Através dos deslocamentos e pela constante abertura de novas fronteiras, a luta de classes constitui-se num conflito violento, porém politicamente de baixa intensidade no Brasil? Embora o domínio da estrutura fundiária ultraconcentrada e da violência contra trabalhadores gerem conflitos constantes e violentos, a abertura de novas fronteiras acena com novos “eldorados”, empurrando nossas contradições adiante no tempo e no espaço.
*Larissa Alves de Lira, doutora em Geografia pela École dês Hautes em Sciences Sociales, é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP.
*Herick Vazquez Soares é doutor em história econômica pela Universidade de São Paulo (USP).
Refrências
DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O mercado de trabalho assalariado rural brasileiro. Estudos e Pesquisas, n° 74, pp.2-33. SãoPaulo-SP, 2013.
FARIAS, Luiz Felipe Ferrari Cerqueira de. Classe trabalhadora na ‘capital do agronegócio’: terra, trabalho e espaço urbano em Sorriso-MT. 2020. Tese (Doutorado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. doi:10.11606/T.8.2020.tde-11062021-170518.
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo, 1995.
IANNI, Octavio. A classe operária vai ao campo. Cadernos CEBRAP, 24, São Paulo: Brasiliense, 1976.
LENIN, Vladimir. O imperialismo, etapa superior do capitalismo. Campinas, Unicamp, 2011.
MACKINDER, Halford. O pivô geográfico da história. GEOUSP- Espaço e Tempo. São Paulo, n. 29, 2011, pp. 87-100. Tradução de Fabrício Vasselai.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. São Paulo: Expressão Popular, 2008.
MONBEIG, Pierre. Pionniers et Planteurs de Sao Paulo. Paris: Armand Colin, 1952.
RANGEL, I. Obras reunidas. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005b. V. 2.
SOARES, HerickVazquez. O eldorado da soja no Centro-Oeste brasileiro (c. 1980 – c. 2010): a produção monopolista do espaço sob perspectiva histórico-econômica. 2018. Tese (Doutorado em História Econômica) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/T.8.2019.tde-20052019-143227
Nota
[i] Para o governo militar, a agropecuária tinha o papel de assegurar preços baixos para os produtos que predominavam na formação dos preços da mão-de-obra e gerar divisas mediante a exportação de gêneros agrícolas in natura ou já industrializados, conforme foi expresso no Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) e no Plano estratégico de Desenvolvimento 1968-1970, base para o I PND (1972-1974).