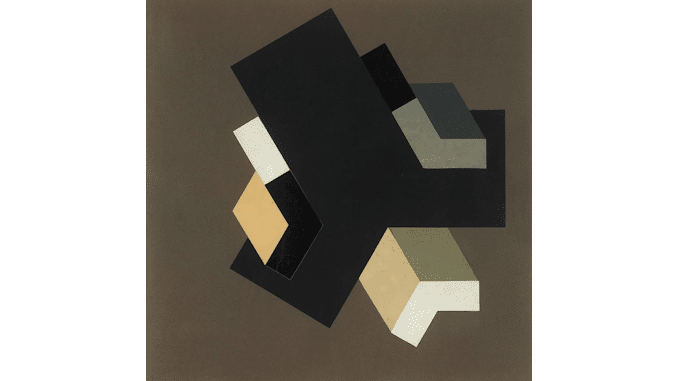Por PADMA VISWANATHAN*
Relato das peripécias da tradução feita por Graciliano do romance A Peste.
Em 1915, muito antes de se tornar um dos romancistas mais aclamados do Brasil, Graciliano Ramos era um jovem tentando ter sucesso como jornalista no Rio de Janeiro. Eu sempre ouvira que ele havia falhado em sua busca por essa carreira. Tímido, com saudade de casa e inadequado às condições sofisticadas da vida na cidade grande, ele estava a milhares de milhas e a um mundo de distância de sua remota cidade natal de província, Palmeira dos Índios, localizada no interior do árido Nordeste do Brasil. Eu o imaginava batendo em retirada, regressando para se tornar um comerciante como seu pai antes dele, se irritando com clientes que interrompiam sua leitura.
Em 1928, entretanto, Graciliano Ramos foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios e, por essa rota improvável, ganhou proeminência literária nacional. Como líder municipal, ele foi instado a submeter relatórios anuais para o Estado de Alagoas a respeito de orçamentos e projetos, de receitas e despesas. Ele tratava esses relatórios como uma espécie de desafio formal.
Em uma narrativa dividida em subitens como “Trabalhos públicos” e “Funcionários Políticos e Judiciais”, ele esboçava retratos secamente hilários da vida na cidade pequena, das rivalidades, da corrupção, dos desperdícios burocráticos. Os relatórios viralizaram – para empregar um anacronismo –, circulando pelo país na imprensa e atraindo a pergunta de um editor: Teria ele, por acaso, escrito algo mais? Seu primeiro romance, Caetés, foi publicado logo em seguida, dando início a uma carreira literária luminosa.
Graciliano Ramos, ao final, escreveu mais três romances aclamados, as memórias de sua infância, um relato monumental de seu período de encarceramento durante a ditadura Vargas e numerosos contos, ensaios e livros infantis. Uma enquete literária nacional feita em 1941 classificou-o como um dos dez maiores romancistas brasileiros. Sua influência nos anos que se seguiram tem sido profunda e duradoura. A maioria dos brasileiros instruídos já leu ao menos um de seus livros. Seu último romance, Vidas secas, já teve mais de cem edições.
Recentemente, no entanto, eu descobri que uma narrativa viral de outro tipo está escondida em sua história. Após um ano trabalhando no Rio de Janeiro como tipógrafo e depois como revisor em diversos jornais, o jovem que lamentava sua timidez em cartas para a casa recebeu notícias de inflar o ego: algumas de suas peças de não-ficção seriam republicadas em breve na Gazeta de Notícias, um dos jornais mais prestigiosos da época.
As coisas pareciam animadoras, mas o destino logo interveio. Em Agosto de 1915, o pai de Graciliano Ramos enviou um telegrama para dizer que três de seus irmãos e um sobrinho haviam todos morrido em um único dia da peste bubônica que então assolava Palmeira dos Índios. Sua mãe e uma irmã estavam em condição crítica. “Não havia mais jeito dele permanecer no Rio”, escreve o biógrafo Dênis de Moraes em Velho Graça (Boitempo), seu relato da vida de Graciliano Ramos. Graciliano abandonou suas ambições de cidade grande, tomou um barco para casa, casou-se com sua namoradinha local e se assentou. Ele não voltaria a morar no Rio por vinte e três anos.
Eu traduzi os despachos municipais de Graciliano porque eles nunca haviam sido publicados em inglês e eu adoro a retidão indignada e o humor malicioso deles. Saber do papel da peste em sua biografia, entretanto, mudou minha visão sobre uma paixão prefeitoral que se destaca nesses relatórios: a higiene. “Eu me importo muito com a limpeza pública”, ele declarou no relatório de 1929. Ele mandou construir banheiros públicos e aprovou leis contra jogar lixo na rua. “As ruas estão varridas. Eu removi da cidade o lixo acumulado por gerações que por aqui passaram e queimei montes imensos de lixo para os quais a Prefeitura não pode pagar a remoção”.
Ele era sarcástico quando mencionava detratores: “Há resmungos e reclamações sobre o fato de eu ter mexido com a poeira guardada preciosamente nos quintais; resmungos, reclamações e ameaças porque eu ordenei o extermínio de algumas centenas de cães de rua; resmungos, reclamações, ameaças, guinchos, gritos e chutes dos fazendeiros que criam animais nas praças da cidade”. (Eu tinha esquecido da matança dos cachorros quando eu li parte da minha tradução dos relatórios de 1929 para meus filhos. Eles estavam rindo até então, mas aí decidiram que odiavam esse cara. Se ao menos eu tivesse conseguido explicar que cachorros podem carregar pulgas e pulgas podem carregar pestes e a peste havia dizimado a família do autor…ou talvez eu devesse ter pulado essa parte). Graciliano multou até seu próprio pai por violar a lei contra deixar que porcos e cabras pastassem nas ruas da cidade. Quando seu pai reclamou, ele retorquiu: “Prefeitos não têm pais. Eu vou pagar sua multa, mas você vai recolher seus animais”.
Mesmo ainda sendo admirado pelo trabalho que fez como prefeito, Graciliano saiu desse jogo depois de dois anos. Sua carreira literária decolou, ainda que durante sua vida ele tenha colhido mais aplausos da crítica do que dinheiro. Tenho certeza que o escritor nele desfrutou desse reconhecimento, mas como um pai de oito filhos, ele tinha contas para pagar. Em 1950, ele estava novamente vivendo no Rio e era bem conectado na comunidade literária e assim lhe foi oferecida a chance de traduzir para o português A Peste, de Albert Camus. Eu achava, anteriormente, que Graciliano havia assumido o projeto devido a um interesse em Camus. Ao ficar sabendo de suas perdas trágicas para a peste, eu imaginei que ele poderia ter sido atraído pelo romance por aquilo que o romance dizia sobre a doença, talvez até como um talismã contra algum medo por ter se mudado de novo para o sul, longe de sua região natal.
Na verdade, eu não encontrei muitas provas para nenhuma dessas suposições: o consenso crítico parece ser o de que, enquanto um dos romancistas mais respeitados em uma época na qual os editores queriam trazer mais literatura estrangeira contemporânea para o público leitor brasileiro, ele foi contratado para traduzir A Peste, ainda que seu nome não fosse aparecer no livro em si até a segunda edição. Graciliano estava relutante no início – ele na realidade não achava a escrita de Camus grande coisa, considerando-a muito ornamentada – mas precisava do dinheiro. Sua solução foi reorganizar o romance, frase por frase, à imagem de sua própria prosa cinzelada – sua solução foi, como o crítico Cláudio Veiga disse, tratar o romance de Camus como se ele fosse um rascunho inicial de um dos seus próprios romances.
A Peste inicia-se com a descrição de um lugar que soa familiar aos leitores dos livros de Graciliano: uma cidade provinciana isolada, onde as pessoas estão entediadas, onde elas trabalham muito, “interessadas acima de tudo no comércio – os negócios as ocupam, como gostam de dizer”. O narrador de Camus é um escritor amador relutante, não identificado até bem no final. (Também Graciliano centrou alguns de seus romances em escritores amadores, lidando indiretamente, assim como A Peste o faz, com os problemas da expressão de si e dos legados narrativos.) Sabemos que o narrador é um morador desse lugar – Oran, na costa Norte da Argélia – a quem cabe relatar a desordem gerada por um surto de peste bubônica. Ele desliza frequentemente para a primeira pessoa do plural, falando de “nossa cidade” e “nossos cidadãos”, mas refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Entre as várias modificações no estilo e na elocução de Camus feitas por Graciliano está a eliminação desses “nosso” e “nós”, obliterando o sentido de comunidade que esses pronomes contêm. E Graciliano reduz: ele condensa as frases ao seu essencial, não apenas tornando a narração mais distante, mas deixando o romance mais conciso e justo no geral.
Não era nada mais rigoroso do que o processo que ele utilizava para sua prosa original, a qual ele – sem surpresas – descrevia em termos de higiene. Como ele disse em uma conhecida entrevista de 1948: “Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar”.
Esfregar, bater, pôr num varal para secar: essa era, aparentemente, sua abordagem também na tradução. Eu não pude deixar de notar certa ironia, lendo tudo isso como sua tradutora: eu me motivei a traduzir Graciliano para o inglês em grande parte porque senti que ele havia sido distorcido por tradutores que não respeitavam suficientemente sua exatidão estilística. E agora aqui estava ele, modificando radicalmente um Nobel francês que era igualmente cuidadoso em suas escolhas estilísticas.
Mas nenhum dos tradutores de Graciliano, obviamente incluindo esta que vos escreve, esteve dentre os romancistas mais importantes de seus países. Então, quando nos perguntamos o que Graciliano estava fazendo ao encolher as frases de Camus como uma lavadeira zangada, remodelando-as a sua própria visão constringida, é preciso lembrar que é como se um Faulkner do final da carreira estivesse traduzindo-o. Nós provavelmente não nos surpreenderíamos com a arrogância e ficaríamos curiosos com o resultado.
Muitos cães são mortos em A Peste; gatos também. Mas é quando os ratos começam a reaparecer, correndo de um lado para o outro, ocupados com suas ocupações, que os citadinos de Oran percebem que a vida tal como conheciam está recomeçando de novo. Mais para o final de A Peste, os cidadãos de Oran “lançavam-se às ruas, nesse minuto excitante em que o tempo dos sofrimentos estava para acabar e o tempo do esquecimento ainda não havia começado. Havia dança por toda parte […] os velhos odores, de carne assada e licor anisado, elevaram-se na luz bela e suave que caía na cidade. Ao seu redor, rostos sorridentes voltavam-se para o céu”.
Desde que Susan Sontag cristalizou a ideia em Aids e suas metáforas”(Companhia das Letras), tornou-se lugar-comum dizer que pensamos nas pestes como invasões. “Uma característica do roteiro usual da peste: a doença invariavelmente vem de outro lugar”, ela escreveu, listando nomes do século quinze para a sífilis – os ingleses a chamavam de “mal francês”, enquanto para os parisienses ela era “morbus Germanicus; para os florentinos, o mal de Nápoles; para os japoneses, a doença chinesa”. Queremos acreditar que as pestes nos acometem ou são infligidas sobre nós de longe, que elas não são nossas e muito menos são nossa culpa.
A inovação radical de Camus foi mostrar a peste como algo que nasce espontaneamente dentro da população de Oran – o livro termina dizendo que as bactérias podem ficar adormecidas por anos antes de “acordarem seus ratos para trazer a morte a alguma cidade feliz” – embora, uma vez que o livro frequentemente é lido como uma alegoria da ocupação nazista da França, a metáfora da invasão estrangeira não fique tão distante. Mas o que você faz se, como Graciliano, você está tentando definir e valorizar a literatura nacional em um país ainda emergindo da colonização, quando você não consegue ganhar o suficiente para sobreviver da sua própria escrita (mesmo que ache que fará uma fortuna depois de morrer) e seu editor quer que você ajude a popularizar a literatura europeia traduzindo um romance francês pestilento e irritante? [1] Talvez você faça desse romance, um romance seu.
Apesar de seu tom final sombrio de advertência, A Peste está interessado em ser reconfortante de um modo que Graciliano raramente é. O narrador de Camus nos conta que ele escreveu esse relato como um testemunho da injustiça e da violência sofridas pelos cidadãos de Oran e “simplesmente para dizer o que uma pessoa aprende em meio a uma epidemia, que há mais o que admirar nos homens do que o que desprezar”.
Os romances de Graciliano tendem a ser circulares e não lineares. Eles não terminam com rostos voltados para o sol, nem com louvores sobre a bondade essencial do homem. Antes, seus livros testemunham as maneiras maravilhosas e despercebidas pelas quais as pessoas enfrentam seu destino e falham em modificá-lo, em grande medida por causa de sua própria cegueira. Seus personagens, apesar de suas ambições, nunca triunfam sobre a natureza humana, sobre suas próprias naturezas ou sobre a natureza em si; plus ça change, plus c’est la même chose.
Quando o narrador de Camus revela sua identidade, ficamos sabendo que ele, paradoxalmente, não é nenhum dos dois homens que vimos escrevendo de fato. Um destes, que passou anos revisando compulsivamente a primeira frase do que certamente será sua magnum opus, se ele conseguir passar da linha inicial, finalmente alcança uma pequena parcela de satisfação: “Eu cortei todos os adjetivos,” ele diz – um mote que poderia ser o de Graciliano.
*Padma Viswanathan, ensaísta e romancista, é professora na Johns Hopkins University e na University of Arizona. Traduziu para o inglês São Bernardo (New York Review of Books editor).
Tradução: Anouch Neves de Oliveira Kurkdjian.
Publicado originalmente na Paris Review, 15 de maio de 2020.
Notas
[1] A autora faz um jogo de palavras com o neologismo plague-y (passível de ser traduzido por pestilento) e plaguey (irritante).