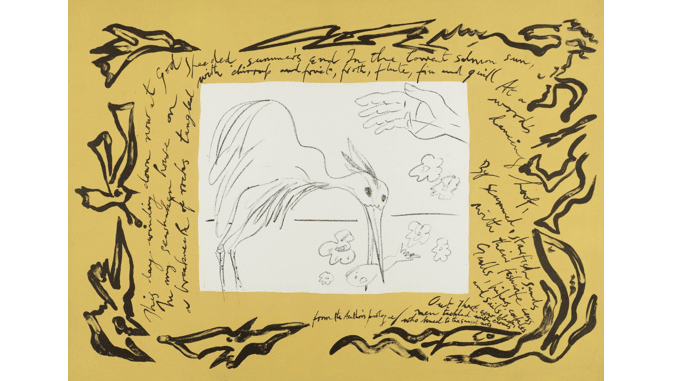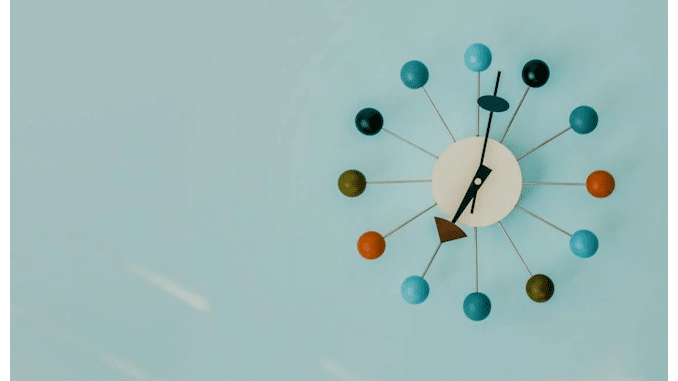Por DÊNIS DE MORAES*
O papel dos intelectuais na longa e árdua luta por outra hegemonia política e cultural, alicerçada na democracia e na construção do socialismo
Carlos Nelson Coutinho, um de nossos brilhantes intelectuais marxistas e principal discípulo no Brasil do filósofo italiano Antonio Gramsci, estaria completando 80 anos no dia 28 de junho de 2023 (deixou-nos em 20 de setembro de 2012).
A vitalidade de seu pensamento, sob o signo da permanência, motiva-me a reproduzir aqui a versão revisada de nossa conversação sobre o papel dos intelectuais na longa e árdua luta por outra hegemonia política e cultural, alicerçada na democracia e na construção do socialismo. A entrevista foi publicada em dois livros: Combates e utopias: os intelectuais num mundo em crise (Record, 2004), por mim organizado; e Intervenções: o marxismo na batalha das ideias (Cortez, 2006), que reúne ensaios e entrevistas dele.
Numa tarde do verão de 2004 no Rio de Janeiro, Carlos Nelson recebeu-me com sorriso largo, um café e os cabelos úmidos de quem acordara por volta de meio-dia, após trabalhar incansavelmente até quase o amanhecer. A cada pergunta, respondia sem economia de minutos, às vezes alternando o raciocínio certeiro com breves goles de outros cafés e desculpas por fumar. O seu olhar movia-se pendularmente: ora na minha direção, ora para o lugar insubordinado do horizonte em que buscava interseções entre as visões de mundo, o compromisso crítico, a humanização da vida e a convicção socialista.
Durante quatro horas, Carlos Nelson analisou as responsabilidades públicas dos intelectuais; os impasses dos processos socioculturais e políticos no Brasil; a resiliência do legado de Antonio Gramsci; o significado de ser marxista no século XXI; e os dilemas para a esquerda digna deste nome realizar-se como força política empenhada na conquista da emancipação social, numa época em que, como ele ressalta, “a barbárie é o que nos espera, ou o que já nos atinge, se cruzarmos passivamente os braços”.
Seguem os momentos principais das duas conversas.
Um remanescente dos anos 60 no século XXI
Enormes mutações ocorreram, mas ao mesmo tempo se pode perceber, por trás da descontinuidade entre os anos 1960 e o início do século XXI, algumas linhas de continuidade. A batalha pela hegemonia continuou a marcar todo esse período, com momentos que, sobretudo no início do período, foram mais favoráveis à esquerda.
Para resumir o que sinto, lembro que a Livraria Leonardo da Vinci, do Rio de Janeiro, organizou em 2002 uma série de debates sobre as décadas passadas. Coube a mim e a Leandro Konder falar sobre os anos 1960. Depois de preparar o texto da minha intervenção, pensei comigo mesmo: que saudades dos anos 1960! Foi uma época em que tivemos grandes esperanças. Por paradoxal que pareça, era mais esperançoso viver sob a ditadura do que agora. Você tinha a ideia de que iria sair daquilo e construir alguma coisa realmente nova.
Se Eric Hobsbawm referiu-se ao “breve século XX”, poderíamos falar de uma longa década de 1960. Na verdade, a década iniciou-se em 1956 com o XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, onde foram denunciados os crimes de Stalin; e, de certo modo, se encerrou com o colapso do eurocomunismo no início dos anos 1970. O eurocomunismo foi uma tentativa de retomada do núcleo democrático do comunismo e, ao mesmo tempo, de renovação do pensamento marxista.
E, no meio de tudo isso, ocorreu 1968, com o maio francês, a Primavera de Praga e tantos outros movimentos libertários por todo o mundo, no Norte e no Sul, no Leste e no Oeste. Não é casual que, no início dessa longa década – numa declaração feita, se não me engano, em 1958 – Jean-Paul Sartre tenha afirmado que o marxismo era a filosofia insuperável do nosso tempo. Naquele momento, seguramente, o marxismo disputava hegemonia com muita força.
De lá para cá, assistimos a sucessivos triunfos do capital no terreno da luta de classes. A correlação de forças mudou contra nós. O avanço do capitalismo se refletiu também, evidentemente, no campo da cultura. O pós-modernismo – que Fredric Jameson chamou adequadamente de “lógica cultural do capitalismo tardio” –, com sua tentativa de desconstrução de visões totalizantes do mundo, indica uma perda de força do marxismo. Sabemos que o marxismo coloca a totalidade como critério básico de sua metodologia. Embora acredite que ainda há forças que resistem a essa avalanche irracionalista, não posso deixar de reconhecer que este início do século XXI não parece muito favorável a um intelectual como eu, formado na década de 60 do século passado.
Quarenta anos depois, contemplo o mundo com mais ceticismo e mais pessimismo. Mas quero dizer, enfaticamente, que não perdi as esperanças. Adoto e cito sempre aquele dístico de Antonio Gramsci: “pessimismo da inteligência e otimismo da vontade”. Não se trata de um pessimismo irracional, mas daquele que se alimenta da razão crítica. Quanto ao otimismo da vontade, que é uma indicação para que mantenhamos unidas teoria e prática, ele se apoia no fato de que quase tudo o que Marx disse a respeito do capitalismo se confirmou. A crítica ao capitalismo formulada por Marx é cada vez mais atual. O capitalismo de hoje – cuja natureza “globalizada” Marx e Engels já haviam ressaltado há mais de 150 anos, no Manifesto Comunista – não eliminou, mas até aguçou, todas as suas contradições.
O que devemos repensar e discutir é a questão do sujeito revolucionário, o sujeito capaz de operar as transformações. A meu ver, esse sujeito situa-se ainda no mundo do trabalho, mas não é mais a classe operária fabril, como Marx pensava. Temos que estudar a nova morfologia do trabalho e também os vários movimentos sociais que, sem provirem do mundo do trabalho, colocam demandas que chamo de radicais, como são os casos dos movimentos feminista e ambientalista, para citar dois exemplos. São sintomas de que as coisas podem recomeçar para nós. Precisamos recomeçar de novo, com a modéstia de quem perdeu uma batalha, tanto no sentido político quanto no sentido cultural, mas com a convicção de que o resultado da guerra não está decidido.
Transformações pelo alto nos processos sociopolíticos
Se nós observarmos a história do Brasil, veremos que o país se modificou, sofreu importantes transformações ao longo do tempo, mas elas sempre foram feitas a partir de arranjos entre os setores das classes dominantes, com o claro objetivo de excluir uma participação popular mais intensa nesse processo de transformações. Podemos notar isso na Independência.
Ela é resultado de uma manobra das elites, que fez com que nosso primeiro imperador fosse o herdeiro do trono português. Também aconteceu na proclamação da República, quando, como escreveu o jornalista republicano Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado àquela passeata militar, sem saber do que estava se tratando. Isso ocorreu em 1930, que considero o mais importante ponto de inflexão da história brasileira moderna, e que é resultante de outro arranjo elitista.
Antonio Gramsci chamou este tipo de transformação pelo alto de “revolução passiva”. É interessante observar que as revoluções passivas são sempre respostas a demandas das classes subalternas, embora estas não se manifestem ainda de forma organizada, capaz de torná-las efetivos protagonistas do processo de transformação.
Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes criaram importantes categorias de análise dos processos elitistas e antipopulares que caracterizaram as transformações sociais no Brasil. Eles demonstraram que o Brasil conservou traços coloniais e não conseguiu se configurar efetivamente como nação. O nosso déficit de cidadania é por demais conhecido. O problema agrário, por exemplo, nunca foi satisfatoriamente resolvido. Com a política neoliberal da última década, o país perdeu instrumentos de fixação de uma política nacional, autônoma e soberana; regrediu, de certo modo, à situação colonial denunciada por Caio Prado e Florestan.
Intimismo à sombra do poder
Eu diria que o meio privilegiado da cultura, particularmente da cultura moderna, é o que Gramsci chamou de “sociedade civil”, ou seja, o conjunto de aparelhos privados de hegemonia que organizam interesses e valores, e aos quais em geral se ligam os intelectuais, pelo menos nos países onde os processos de transformação foram de tipo “jacobino”, ou seja, de baixo para cima. No Brasil, onde a sociedade civil foi sempre débil e, até recentemente, primitiva e gelatinosa, os intelectuais tiveram de enfrentar desafios importantes. Como eles não podiam se ligar organicamente às camadas populares, já que essas não tinham uma expressão política adequada, ocorreu uma tendência marcante em nossa história, ou seja, a da “cooptação” da intelectualidade pelos mecanismos de poder.
Chamo atenção para o fato de que essa cooptação não implica, necessariamente, que o intelectual cooptado defenda posições políticas e ideológicas explícitas da classe dominante, mas “apenas” que sejam levados a um certo ascetismo cultural, adotando posições culturais e ideológicos “neutras”. Algo que eu, utilizando uma expressão de Thomas Mann, chamei de “intimismo à sombra do poder”. O intelectual tem certa liberdade para buscar seus caminhos, contanto que não conteste o poder, que não ponha em questão as relações de poder e a própria estrutura da sociedade.
Creio que aumentou a presença da indústria cultural e da mídia na formação da cultura brasileira. Não percebo nenhum movimento expressivo, no sentido de uma literatura e de uma arte mais voltadas para os problemas do povo. Permanece uma relativa hegemonia da cultura intimista. Talvez alguma coisa nova esteja acontecendo no cinema.
Formas de cooptação de intelectuais
Eu diria que uma forma perigosa de cooptação dos intelectuais é exercida há algum tempo, entre nós, pela indústria cultural e pela mídia. Nós poderíamos dizer que a mídia, de certo modo, opera como um intelectual coletivo. Nos anos 1970, a mídia recrutou intelectuais já formados. Eram pessoas conhecidas e respeitadas, que provinham do campo da cultura de esquerda, como Dias Gomes, Oduvaldo Vianna Filho, Paulo Pontes, Armando Costa e outros. Claro que havia limites estéticos e políticos para a criação cultural nos meios de comunicação de massa. Porém, pressões da sociedade civil sobre a mídia abriram brechas que ajudaram esses intelectuais de esquerda a produzir coisas significativas na televisão.
Seria um equívoco imaginar que a mídia é um espaço homogêneo, sem contradições, no qual vigora tão-somente a manipulação sistemática da opinião pública. A diferença é que, agora, a mídia está criando seu próprio intelectual orgânico – alguém que ela projeta como intelectual, com menos autonomia e menos criatividade. Na medida em que é controlada e hegemonizada pela classe dominante, a mídia pode ser considerada como um intelectual orgânico coletivo da própria classe dominante, ainda que, em determinadas circunstâncias, essa situação possa sofrer abalos. As pessoas que agora estão escrevendo telenovelas, por exemplo, praticamente só fizeram isto na vida. Não me lembro de um grande escritor que, nos últimos tempos, tenha levado para a televisão o seu talento.
Os novos autores fazem seu aprendizado já dentro da mídia. São organicamente constituídos como intelectuais da mídia, como produtores culturais da mídia. Isso empobrece o processo de criação. O potencial crítico diminui na medida em que o intelectual já não é mais aquele que, mesmo limitado pelo universo estético e político da mídia, mantinha um certo distanciamento crítico. A qualidade técnica da TV é alta, os atores e diretores são muito bons. Mas ela se tornou menos criativa, com menor espaço para a contestação.
A cooptação dificulta, mas não impossibilita a elaboração de um pensamento crítico. Um bom exemplo de independência intelectual é o de Lima Barreto. Funcionário do Ministério da Guerra, escreveu dois devastadores romances antimilitaristas — Policarpo Quaresma e Numa e a ninfa. Temos o caso de Graciliano Ramos, que, como inspetor federal de ensino, esteve ligado à máquina do Estado, inclusive escrevendo artigos na revista Cultura política, editada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do Estado Novo. Não obstante, Graciliano Ramos tem uma obra de profundo caráter crítico, escrita neste mesmo período.
Carlos Drummond de Andrade costumava dizer que existe uma diferença entre servir a uma ditadura e servir sob uma ditadura. Na mesma época em que era chefe de gabinete do Ministério da Educação no Estado Novo, Drummond escreveu A rosa do povo, o seu livro de poesia mais comprometido politicamente, onde dizia – entre outras belas coisas – que “este é tempo de partido, tempo de homens partidos”.
Portanto, não existe uma relação mecânica e direta entre cooptação e ausência de pensamento crítico. Nos períodos democráticos, em que o espaço público é maior e os organismos da sociedade civil conquistam relativa autonomia, os intelectuais cooptados têm mais possibilidades de adotar posições políticas e estéticas de clara oposição. Na ditadura, isso é muito mais difícil, mas, mesmo assim, não é impossível, como vimos nos exemplos de Graciliano e de Drummond.
A questão da cultura nacional-popular
O sociólogo Renato Ortiz, que trabalhou e ainda trabalha com os textos de Antonio Gramsci, já decretou o fim da cultura nacional-popular. Segundo ele, estaríamos na fase internacional-popular. Mas é preciso reler Gramsci e ver o que ele entendeu por “nacional-popular”. Gramsci disse claramente que são nacional-populares os clássicos gregos e Shakespeare, que estão evidentemente entre os autores mais universais de todos os tempos. Ou seja, nacional-popular nada tem a ver com nacionalismo, muito menos com populismo. Para Gramsci, o autor vinculado à problemática do povo e da nação é capaz de oferecer uma representação mais ampla e concreta do real e, por isso mesmo, mais universal.
Faz parte da ideologia da globalização passiva e pelo alto a ideia de que o Estado nacional acabou, de que a nação deixou de ser um espaço de tomada de decisões. Ao contrário, penso que a nação ainda continua a ser uma referência obrigatória. Com as adequações ao período em que vivemos, a cultura nacional-popular segue expressando a ideia de que um escritor e um artista devem ter vínculos com o povo e responder aos problemas que aborda em sua obra de um ponto de vista que reflita os interesses da nação e do povo.
Exatamente por isso, o escritor nacional-popular não é um populista, alguém que apenas relata de modo naturalista o que povo está vivendo e aceita passivamente os seus preconceitos. Nacional-popular é Graciliano Ramos, não o Jorge Amado da última fase. O escritor nacional-popular se coloca do ângulo dos interesses populares para responder às grandes questões nacionais, as quais estão cada vez mais articuladas com as questões universais. Marx e Engels já diziam, no Manifesto de 1848, que o capitalismo estava criando uma “literatura universal”, o que evidentemente não anula o fato óbvio de que Balzac é francês, Tolstói é russo e Machado de Assis é brasileiro. Aliás, por falar em Machado, ele sabia que a “nacionalidade” de um escritor não se define pelo tema que aborda, mas pelo ponto de vista que adota.
Talvez seja difícil falar em movimento nacional-popular hoje. Não me parece haver, no Brasil de nossos dias, algo tão significativo neste sentido como o foi, no início dos anos 1960, o movimento que se organizou em torno das propostas dos Centros Populares de Cultura, os famosos CPCs. Este movimento teve repercussões, ainda que através de múltiplas mediações, em vários campos da arte, sobretudo no teatro, no cinema e na música popular. Mas também na literatura: diria que são nacional-populares as obras mais expressivas criadas no tempo da ditadura, como os romances Quarup de Antonio Callado e Incidente em Antares de Érico Veríssimo, mas também as poesias de Ferreira Gullar, de José Carlos Capinam, de Moacyr Félix.
Veja bem: não digo que tudo isso provém diretamente do CPC, que, aliás, em suas formulações teóricas, dizia muitas tolices, era bastante sectário. Digo que o movimento que está na origem do CPC criou um solo cultural do qual brotaram, num movimento de superação dialética, algumas das mais expressivas criações artísticas das décadas de 1960 e 1970.
Hoje vejo apenas manifestações tópicas, e não movimentos daquele tipo. Infelizmente, não tenho lido muitos romances brasileiros recentes, mas diria que a última grande produção artística nacional-popular que me recordo de ter lido foi Viva o povo brasileiro, o notável romance de João Ubaldo Ribeiro, publicado nos anos 1980. É um dos maiores romances da literatura brasileira, situado no mesmo nível de Dom Casmurro, de Policarpo Quaresma, de São Bernardo, de Grande Sertão: Veredas e de poucos outros. Em Viva o povo brasileiro, toda a formação histórica do Brasil é vista de um ponto de vista claramente nacional-popular, no sentido gramsciano do termo, ou seja, sem nenhuma concessão nem ao nacionalismo nem ao populismo.
Nos anos 1990, ocorreu um refluxo daquele processo de forte ativação da sociedade civil que se verificou entre o final dos anos 1970 e a eleição presidencial de 1989. Esse refluxo foi, em boa parte, motivado pela crescente hegemonia política e ideológico-cultural do neoliberalismo. O conjunto das propostas neoliberais operou no sentido de promover uma despolitização geral da sociedade e, consequentemente, também da cultura. Tivemos a tentativa, muitas vezes exitosa, de transformar a sociedade civil nessa coisa amorfa e despolitizada, hoje pomposamente chamada de “terceiro setor”. Gramsci entendia a sociedade civil, ao contrário, como arena da luta de classes, como um espaço político por excelência, não como algo – na expressão que hoje se tornou habitual – “para além do Estado e do mercado”.
A hegemonia neoliberal bloqueou a floração de uma arte nacional-popular, que se anunciou fortemente nos anos 1960, que se manteve surda mas latente durante a ditadura e reapareceu em fins dos anos 1970 e parte dos anos 1980. Volto a me perguntar: quem é o grande artista surgido na década de 1990? Temos bons autores em atividade — João Ubaldo, Moacyr Félix, Moacyr Scliar, Ferreira Gullar.[1] Apareceram nomes interessantes, como José Roberto Torero e Ana Miranda. Mas nenhuma grande figura surgiu nos últimos anos. Fora da “cultura” criada pela mídia, assistimos à permanência do predomínio de uma cultura ornamental e intimista, desligada dos problemas e aflições do povo brasileiro. Como disse antes, talvez o novíssimo cinema seja uma exceção. Vamos esperar para ver.
A possibilidade de democratização da cultura
Não só é possível, mas necessária. Porém, para que haja democratização da cultura, é preciso que haja simultaneamente uma democratização geral da sociedade brasileira. Quanto mais espaços democráticos forem conquistados no âmbito da sociedade civil, tanto mais rapidamente avançaremos – ainda que não se trate de uma relação mecânica – no terreno da democratização da cultura. E é preciso lembrar sempre: uma efetiva democratização da cultura no Brasil, que transcenda a alta cultura dos intelectuais e atinja as grandes massas, tem como ponto de partida uma democratização dos meios de comunicação, da mídia. Para isso, é preciso um maior controle da sociedade sobre esses poderosos instrumentos de criação, difusão e ação cultural. Precisamos fazer com que os meios de comunicação de massa sejam controlados pela sociedade, e não por grupos monopolistas privados. Estes grupos podem até levar em conta certas demandas da sociedade, mas operam sem um efetivo controle social.
Controle social da mídia
Não é factível imaginar que isso [o controle social sobre a mídia] ocorra se persistir um modelo de sociedade elitista, em que as massas não participem da política nem tenham um peso determinante na criação e no consumo de uma cultura de alto nível. Enquanto persistir este modelo de sociedade, continuará a existir um abismo entre alta cultura e cultura popular, com esta última condenada a só muito raramente superar os limites de uma subcultura de tipo folclórico. Esta “utopia” só é factível, como disse, no bojo de um amplo processo de democratização geral da sociedade, de ativação da sociedade civil, de pressão proveniente de uma opinião pública constituída de baixo para cima.
Acho que devemos lutar para que seja possível criar, até mesmo no plano legislativo, formas de controle social dos meios de comunicação, que impeçam aos proprietários privados destes meios – que, de resto, no caso dos canais de rádio e televisão, são concessionários do poder público – a completa liberdade, por exemplo, de veicular a informação que querem e de ocultar a informação que não lhes parece adequada a seus interesses.
Um dos desafios é chegarmos a uma legislação adequada. Mas veja bem: não estou pregando e sou contra a estatização dos meios de produção cultural. Não será desse modo que teremos uma efetiva democratização. O que defendo é uma gestão mais coletiva dos meios de produção cultural. Talvez isso possa se dar mediante a autogestão: os próprios produtores culturais definiriam as políticas de difusão.
Por exemplo: um comitê formado por jornalistas e personalidades de diferentes grupos e organismos da sociedade civil controlaria efetivamente a informação que se veicula, já que este é o terreno mais sensível à manipulação ideológica. Por que não imaginar grandes cooperativas de intelectuais para controlar os meios de comunicação?
Gostaria de insistir que a solução não consiste em estatizar os meios de comunicação, pois isso levaria também a uma perda de capacidade crítica. Sou no mínimo cético quanto à natureza democrática de uma política cultural implementada diretamente a partir do Estado. As políticas culturais se criam a partir da sociedade civil. A tarefa fundamental do Estado é assegurar as condições materiais para que as políticas culturais oriundas da sociedade civil possam ser realizadas.
O Estado deve financiar aquelas atividades que, por não terem uma lucratividade imediata, não são interessantes para o mercado, como muitas vezes é o caso no teatro, no cinema, até mesmo na produção editorial. Mas cabe ao Estado, sobretudo, colocar ao alcance das amplas massas a grande cultura (uma sinfonia de Beethoven, uma representação teatral de Shakespeare), o que pode ser feito, inclusive, através da televisão. Sem falar na tarefa fundamental do Estado, que é assegurar a todos uma educação de bom nível, permitindo assim que a massa da população tenha acesso a produtos culturais de cunho mais elevado.
Criação cultural e movimentos coletivos
A grande criação artística, cultural ou filosófica, ainda que seja ligada a movimentos coletivos, se realiza plenamente através de personalidades individuais. Poderia citar Balzac, Goethe, Shakespeare, Hegel, Kant e tantos outros. Claro que esta minha convicção não me impede de reconhecer que a grande personalidade intelectual e artística expressa um movimento, uma concepção do mundo coletiva. Se você examinar o CPC como produtor coletivo de cultura, verá que ele, a rigor, não criou nada que tivesse um valor cultural para além da agitação e da propaganda imediatas.
Mas um bom número das criações individuais de Vianinha, que foi um dos líderes do CPC, continua tendo um indiscutível valor estético e cultural. Sua peça Rasga coração, por exemplo, não existiria sem o movimento coletivo do CPC, mas não poderia ser criada a dez mãos. Aquelas peças que o CPC encenava aqui e acolá tiveram em si o valor de criar um movimento cultural que, por sua vez, gerou uma figura singular como a do nosso querido Vianinha.
Não é que essa individualização não aconteça na política, até porque há fortes lideranças políticas individuais, como, entre tantos outros exemplos possíveis, Lênin. Mas a presença do sujeito coletivo, na política, é muito mais forte do que na criação artística ou filosófica, é até mesmo decisiva. Lênin é Lênin somente porque foi dirigente do Partido Bolchevique. De repente, ao formular esta pergunta, você me pôs a seguinte questão: voltamos a uma época em que o político individual substitui o líder político de um partido? Acho que, frequentemente, sim.
A política hoje é em grande parte midiática. O primeiro-ministro Berlusconi, por exemplo, não é a expressão da Força Itália, o partido que ele criou; a Força Itália não passa de uma criação de Berlusconi para se legitimar ex post. O personalismo é uma coisa muito ruim em política, pois termina consagrando um tipo de liderança que só serve à consagração do existente, ao embrutecimento das massas, não à transformação social e à tomada de consciência.
Já na arte e na filosofia, dificilmente se cria coletivamente uma boa obra. A visão do mundo que o artista ou o filósofo expressam é coletiva, mas a transformação desta visão do mundo em forma artística ou em construção filosófica é quase sempre individual. A questão é particularmente complicada no mundo contemporâneo, porque, de um lado, temos o intelectual coletivo encarnado pela mídia, que termina esmagando o talento individual e tendo assim um papel antiartístico. Ao mesmo tempo, falta a quem produz solitariamente aquele respaldo social que permitiu o surgimento de um Balzac, de um Mozart, de um Cézanne. De qualquer modo, acho que a coletivização do sujeito cultural pode ser um problema sério para a criação artística. Na política, ocorre precisamente o inverso.
O estruturalismo e a miséria da razão
Continuo concordando com minha velha posição de 30 anos atrás: a de que, filosoficamente, o estruturalismo era reacionário, na medida em que esvaziava o pensamento social das grandes questões da dialética, do historicismo e do humanismo. Mas acho que fui injusto ao atacar duramente alguns estruturalistas que eram de esquerda e, no Brasil, se posicionavam contra a ditadura. György Lukács disse uma frase muito expressiva: “Existem intelectuais que têm uma epistemologia de direita e uma ética de esquerda”. A maioria dos estruturalistas talvez tivesse essa posição, mas eu ignorei o lado ético e bati forte no lado teórico.
Acho que os chamados “intelectuais do tucanato” merecem uma crítica mais dura. Eles têm uma epistemologia de direita e uma ética de direita. São casos de transformismo intelectual. Veja a produção teórica de Fernando Henrique Cardoso dos anos 1960 e 1970. Malgrado os vários pontos discutíveis de sua produção teórica – no meu livro A democracia como valor universal, de 1980, eu já criticava algumas posições de Fernando Henrique que me pareciam liberais –, ninguém poderia imaginar que aquele intelectual de esquerda, muito próximo do marxismo, que pregava uma alternativa socialista ao caráter necessariamente associado-dependente que ele lucidamente enxergava no capitalismo brasileiro, viesse a ser o presidente da República que aprofundou a associação da burguesia brasileira com o capital internacional.
Gostaria de chamar a atenção para o fato de que não se trata de um fenômeno de traição individual. Uma parte significativa da intelectualidade brasileira, que resistiu durante a ditadura, assumiu, depois, posições mais à direita, ainda que no espectro da democracia. Trata-se de um fenômeno coletivo, que resulta, ao que me parece, do caráter bem mais complexo e plural da nossa sociedade civil pós-ditadura.
Vínculos da terceira via com o neoliberalismo
No meu livro O estruturalismo e a miséria da razão, publicado em 1972, eu sustentava que a ideologia burguesa, a ideologia das classes dominantes, tinha duas vertentes: uma claramente irracionalista, segundo a qual a razão não capta o real, isso só pode ser feito pela intuição e pela sensibilidade; e outra que empobrecia a razão, até fazer dela uma razão instrumental, apenas formalista. Eu situava o estruturalismo como a versão up to date da miséria da razão.
Hoje, no pós-modernismo, temos uma combinação de irracionalismo e de miséria da razão. A recusa, por exemplo, de compreender a universalidade tem um claro caráter irracionalista, mas temos também a continuidade de elementos de racionalismo formal, que eu percebo no fetichismo da técnica hoje tão em moda. Ou seja, a razão posta a serviço só do particular, da instrumentalidade. O pós-modernismo tem tudo a ver com o neoliberalismo: ambos se voltam para a despolitização geral da sociedade e, consequentemente, da cultura.
Já a chamada “terceira via” me parece um sintoma de que o neoliberalismo começa a revelar seus limites. Os defensores da “terceira via” são pessoas que aplicam uma política neoliberal, como Massimo D’Alema, Tony Blair e Fernando Henrique Cardoso, mas que têm ou tiveram no passado um certo compromisso com valores de esquerda e tentam propor, como se isso fosse possível, um neoliberalismo com rosto humano. Isso, evidentemente, é ideologia no sentido ruim da palavra, ou seja, uma maneira de encobrir políticas que continuam a ser estritamente neoliberais.
Não vejo qualquer perspectiva diferente na “terceira via”, que, aliás, praticamente já nasceu morta: agora se fala em “governança progressiva”. Lamento que um intelectual importante e comprometido no passado com causas progressistas, como Anthony Giddens, tenha se tornado um dos teóricos desta bobagem que é a “terceira via”. A meu ver, trata-se de uma manifestação hipócrita do neoliberalismo. La Rochefoucauld, o grande moralista francês do século XVIII, dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude.
A “terceira via” é isso: uma manifestação hipócrita do neoliberalismo, que sabe muito bem que a virtude está com outro tipo de política. É um fenômeno indicativo de que aquela hegemonia pura e simples do neoliberalismo, aberta e escancarada, está sofrendo abalos.
Multiculturalismo e valores universais
Meu amigo Joseph A. Buttigieg, organizador da edição americana dos Cadernos do cárcere, tem uma posição muito crítica tanto em relação aos estudos culturais quanto ao multiculturalismo: “Não é o que Gramsci disse”, diz ele. Antonio Gramsci tinha uma visão claramente universalista. Ele certamente pensava o particular; era capaz de tomar como referência para suas reflexões tanto um artigo sobre os negros da Abissínia quanto as afirmações de uma revista católica italiana do século XIX.
Sempre se mostrou muito preocupado com a diversidade cultural, com o enorme pluralismo cultural do mundo moderno, que ele valorizava, buscando sempre um elemento positivo em todas essas manifestações particulares. Mas nele há sempre, ao mesmo tempo, uma clara orientação universalista, que nem sempre vejo nos chamados estudos culturais e no multiculturalismo, ainda que estes se intitulem “críticos do presente”.
Os estudos culturais e o multiculturalismo são importantes para chamar a atenção sobre as diferenças, sobre as identidades, para não deixar subsumir coisas diversas no mar de uma universalidade abstrata. Gramsci sabia, de resto, que a universalidade concreta se alimenta da diversidade e da pluralidade. Mas falta frequentemente nos chamados Estudos culturais, no multiculturalismo e também nos estudos feministas e ecológicos uma visão universal, uma busca da totalidade, que me parecem estar presentes no marxismo e, particularmente, no marxismo de Gramsci. É a ideia de que as lutas não devem ser travadas em favor de valores universais e, sim, da afirmação das identidades e das diferenças. Penso que o reconhecimento das diferenças não pode se opor à afirmação da totalidade, dos valores universais.
O papel público dos intelectuais críticos
Já me referi a uma figura intelectual que marcou fortemente a cultura dos anos 50 e 60, ou seja, Jean-Paul Sartre. Sartre é um clássico exemplo de intelectual tradicional no sentido gramsciano da palavra, isto é, daquele intelectual que não é ligado diretamente a nenhum aparelho de hegemonia, mas que exerce um papel fundamental na formação da opinião pública; quando de esquerda, este tipo de intelectual denuncia o que lhe parece errado, defende valores de solidariedade e de dignidade, mantém vivo o espírito de rebeldia. Sartre foi um digno continuador de Voltaire.
Ora, este tipo de intelectual ainda existe no mundo contemporâneo. Talvez o mais famoso deles seja hoje o norte-americano Noam Chomsky, mas há outros exemplos, como o recentemente falecido Pierre Bourdieu, na França. No Brasil, eu pensaria em figuras como Celso Furtado e Antonio Candido. O fato de existirem figuras assim demonstra que este tipo de intelectual continua a ter um papel relevante a desempenhar, de denúncia, de defesa de propostas transformadoras e, sobretudo, de mobilização da opinião pública. Talvez Chomsky influencie hoje menos do que Sartre influenciou em seu tempo, mas o importante é que esta função do intelectual tradicional continua posta na ordem do dia e vem sendo desempenhada satisfatoriamente por algumas grandes figuras do nosso tempo.
Muitos intelectuais continuam a ter, do ponto de vista moral e ético, a ideia de que a transformação social é justa e necessária. Mas, na medida em que a mediação entre eles e a realidade social se tornou nebulosa e até difícil, há uma tendência de vários destes intelectuais a refluírem para o espaço acadêmico, despreocupando-se com sua responsabilidade social. Não se trata de uma traição; não é que esses intelectuais tenham necessariamente se acanalhado. Trata-se de uma condição objetiva: tais intelectuais, com frequência, não encontram meios de atuar de outra maneira e acabam renunciando desempenhar um papel social mais direto.
Porém, malgrado tudo, ainda há um bom número de intelectuais que se colocam o problema da intervenção social e que tentam resolvê-lo, talvez um pouco caoticamente, cada um a seu modo, até mesmo porque se debilitaram os espaços comuns de outrora, ou seja, os partidos políticos, as organizações, etc.
Trata-se, às vezes, de um combate intelectual solitário, mas eu diria que os intelectuais que travam este combate têm tudo para se rearticular e voltar a desempenhar o papel muito bem definido por Gramsci: o intelectual deve se empenhar na organização da sociedade e lutar pela hegemonia política e ideológica do bloco de classes com o qual se identifica. Decerto, a forma na qual isso acontece hoje é bastante diversa daquela da época de Gramsci; o mundo intelectual mudou, assim como mudou o mundo do trabalho, e não apenas em relação ao tempo de Marx e de Gramsci, mas até mesmo em comparação com a época do Welfare State, iniciado após a Segunda Guerra Mundial.
Muitos dizem que Gramsci e Lukács estão superados porque ambos tinham muitas expectativas em relação ao papel dos intelectuais e estas expectativas não se cumpriram. Em grande parte, isso é verdade. Gramsci e Lukács, com efeito, apostaram pesadamente na função revolucionária dos intelectuais, uma função que está hoje bastante diluída. Creio, contudo, que é condição para a retomada de uma batalha pela hegemonia que os intelectuais – entendidos na ampla acepção que lhes atribuiu Gramsci – voltem a desempenhar suas funções públicas.
A comunicação com as classes subalternas
Gramsci tem uma teoria dos intelectuais muito rica precisamente nesse sentido. Segundo ele, há o grande intelectual, o produtor de ideologias, mas há também um sem-número de ramificações e mediações, através das quais os pequenos e médios intelectuais fazem com que as grandes ideologias e teorias cheguem ao que ele chama de “simples”, ou seja, ao povo. Para Gramsci, não há uma relação direta entre a grande filosofia, a grande cultura, e o que ele chama de “simples”; trata-se de uma relação que se dá através da mediação de uma grande massa de pequenos e médios intelectuais, aos quais devemos dedicar enorme atenção.
Na batalha das ideias, na luta pela hegemonia, devemos estar atentos não só à produção dos grandes intelectuais, mas também temos de levar em conta o modo pelo qual os pequenos e médios intelectuais estabelecem uma relação entre esta produção e o senso comum dos “simples”.
Outro ponto interessante em Gramsci é a afirmação de que, entre os intelectuais e os subalternos, ou os “simples”, há sempre um diálogo. Lênin afirmava que o Partido revolucionário tinha como missão trazer “de fora” a consciência política, socialista, para o movimento operário. Esta afirmação, entre outros problemas, atribui aos intelectuais um peso que eles não têm. A função dos intelectuais, enquanto criadores e propagadores de ideologias, é sobretudo dialogar com os “simples”.
Gramsci dizia que o povo sente, mas não sabe, enquanto o intelectual frequentemente sabe, mas não sente. Desse modo, embora saibamos em teoria que a integração entre os intelectuais e o povo é extremamente importante, muitas vezes esquecemos disso na prática. Ficamos satisfeitos quando nosso departamento universitário tem dois ou três marxistas, quando na revista do departamento, que circula para cem pessoas, são publicados três ou quatro artigos de inspiração marxista. Isso é importante, mas só terá um papel social quando as ideias do marxismo chegarem às grandes massas.
Para Gramsci, é mais importante difundir entre as massas uma ideia correta já conhecida pelos intelectuais do que um intelectual criar uma ideia nova que se torne monopólio de um grupo restrito. A socialização do conhecimento, sobretudo do conhecimento ligado ao pensamento social, é uma tarefa fundamental para os intelectuais – tarefa que, muitas vezes por vaidade, nem sempre fazemos bem.
Nessa tarefa de socialização do saber, há muitos exemplos positivos. Já falei em Noam Chomsky, que certamente tem um peso na opinião pública norte-americana e não só norte-americana. Nos Estados Unidos, boa parte da opinião pública contrária à direita e ao militarismo é inspirada por grandes intelectuais, como o próprio Chomsky, Edward Said, Susan Sontag, Gore Vidal, Michael Moore e outros. Isso acontece também no Brasil.
Então, ao contrário da opinião pós-moderna de que o grande intelectual universalista perdeu sua função, eu diria que ele continua tendo as mesmas funções que Gramsci lhe atribuía, só que em condições morfológicas diferentes. Ou seja: mudou a morfologia dos intelectuais, assim como mudou a morfologia do mundo do trabalho, mas – em ambos os casos – permanecem as funções sociais destes grupos. Os intelectuais continuam a ser tão importantes hoje na produção de hegemonia e de contra-hegemonia quanto o eram na época de Gramsci e nos gloriosos anos 1960.
A crise dos partidos como agentes de transformação
Os partidos deveriam ser isto, ou seja, intelectuais coletivos, agentes da vontade coletiva, expressões do ético-político ou da universalidade. Enquanto os movimentos sociais colocam em jogo questões frequentemente decisivas, mas sempre particulares, a grande tarefa do partido político deveria ser a de universalizar as demandas que provêm de diferentes setores sociais. Nesse sentido, um partido que se pretenda revolucionário tem de se colocar como criador de uma vontade coletiva transformadora, de uma vontade universal. Gramsci diria: de uma vontade coletiva nacional-popular.
Na prática, os partidos não têm cumprido essa função. Na Europa, por exemplo, os partidos de esquerda, que outrora tiveram uma posição revolucionária, tanto na vertente social-democrática quanto na comunista, assemelham-se cada vez mais ao Partido Democrata norte-americano, ou seja, tornam-se federações de lobbies agrupados em torno de figuras midiáticas. O mesmo ocorre com os partidos de direita, que perdem densidade ideológica e se convertem em meros administradores do existente.
A velha forma partido – enquanto agrupamento que tinha como base uma concepção do mundo universalista – está cada vez menos presente até mesmo na Europa, onde teve durante mais de um século um peso decisivo. O que resta da oposição que existia, no Reino Unido, entre conservadores e trabalhistas? Ou, na Itália, entre democratas-cristãos e comunistas? Podemos falar assim num “americanalhamento” da política europeia.
Temo que o mesmo processo esteja ocorrendo na política brasileira. Assisto, com ansiedade e temor, à conversão do PT – de um partido que se criou na ideia da transformação social, com uma clara bandeira socialista e ligado aos movimentos sociais – num partido de governo, diluído numa frente absolutamente amorfa, num partido que parece abandonar completamente sua vocação originária de organismo de luta pela transformação social. Uma coisa é constatar esse movimento da realidade atual; outra coisa, muito diferente, é fazer da necessidade uma virtude. Acho que devemos continuar lutando para construir partidos capazes de desempenhar a função de agregadores de vontades coletivas e, portanto, portadores de hegemonia e contra-hegemonia.
Infelizmente, no momento, essa não é a marca dos partidos que se intitulam de esquerda. Uma das tarefas do intelectual hoje é empenhar-se para construir partidos deste tipo, bem como movimentos sociais enraizados na sociedade civil. E, na medida em que haja partidos que possam ser instrumentos de mobilização popular, o intelectual deve dar sua contribuição para que tais partidos busquem efetivamente transformar a realidade. Se não houver uma opção partidária adequada, resta ao intelectual atuar de modo autônomo, como Jean-Paul Sartre e Noam Chomsky, mantendo assim sua capacidade crítica e seu papel na formação de novas relações de hegemonia.
Influência das ideias gramscianas no Brasil
Num artigo sobre a recepção de Antonio Gramsci no Brasil, publicado em final dos anos 1980, chamei a atenção para o fato de que Gramsci chegou no Brasil nos anos 1960 e foi utilizado por muitos de nós, então jovens intelectuais comunistas, como instrumento de uma batalha essencialmente cultural. Naquele momento, subestimamos a dimensão indiscutivelmente política do pensamento de Gramsci. Continuamos delegando à direção do Partido Comunista a tarefa de elaborar a linha política; criamos uma falsa divisão do trabalho, na qual nos cabia apenas definir as linhas gerais da política cultural.
Gramsci aparecia para nós, então, apenas como o defensor da filosofia da práxis, da literatura nacional-popular, mas ainda não como o teórico da revolução socialista no que ele chamou de “Ocidente”. Isso se revelou, no final dos anos 1970, uma divisão do trabalho impossível. Nós, gramscianos, começamos então a nos meter também na política, a questionar, com base em Gramsci, o que a direção do Partido continuava a defender. Terminamos todos saindo do Partido.
Hoje, a influência de Gramsci no Brasil continua muito forte. Em meio à chamada “crise do marxismo” – não falo de “crise” no sentido de que o marxismo não tenha respostas para o que está acontecendo, mas no sentido de que ele é hoje uma posição cultural bem menos influente do que anos atrás –, Gramsci é um dos pensadores que mais resistiram e mantiveram sua influência. Resistiu aqui e no exterior.
Tenho sido convidado para vários congressos gramscianos em diferentes países. Pude constatar, por exemplo, que é fortíssima a presença de Gramsci em Cuba, onde ele é hoje a bandeira dos intelectuais que querem democratizar o socialismo cubano, introduzindo a problemática da sociedade civil. Disseram-me que Gramsci desapareceu no período em que Cuba se aliou à União Soviética e reapareceu com força após o colapso da própria União Soviética.
É um fenômeno mais ou menos generalizado na América Latina. Gramsci está muito presente na Argentina e no México, e voltou a estar presente na Itália, depois de uma fase em que praticamente sumiu. Mas eu não diria que ele está voltando só como teórico da cultura, como aconteceu no Brasil dos anos 1960: ele é agora cada vez mais, em Cuba e no Brasil, na Itália e nos Estados Unidos, um ponto de referência importante para se pensar uma nova política socialista e comunista.
A sobrevivência de Gramsci às crises do marxismo
Gramsci percebeu que era preciso renovar o marxismo, criando uma nova teoria do Estado e uma nova teoria da revolução. Foi assim capaz de tornar o marxismo contemporâneo do século XX e, acredito, do século XXI. Certamente, há outros pensadores marxistas que também contribuíram para isso, reconhecendo que muitas afirmações de Marx são datadas e que a atualidade do marxismo deriva não de suas afirmações tópicas, mas da justeza do seu método. Penso, por exemplo, em György Lukács, que nos ofereceu – com sua Ontologia do ser social – a mais lúcida leitura filosófica do legado de Marx e Engels. Algumas contribuições da chamada Escola de Frankfurt, sobretudo as de Herbert Marcuse e Walter Benjamin, também são importantes para essa necessária renovação do marxismo.
O desafio de ser um marxista assumido
Talvez seja mais difícil ser um marxista assumido agora do que nos anos 1960. Naquela época, ser marxista era uma coisa quase natural. Pelo menos metade dos intelectuais brasileiros (e não só brasileiros) ou era marxista, ou simpatizava com o marxismo. De qualquer modo, em contraste com outros países, o marxismo brasileiro resistiu melhor nas últimas décadas.
E resistiu por um fenômeno peculiar: o crescimento de um partido de esquerda, o PT, nesse período da história brasileira. Enquanto na Europa observa-se um refluxo dos partidos comunistas e socialdemocratas nos anos 80 e 90, no Brasil, ao contrário, tivemos o surgimento e a expansão de um partido de esquerda que, embora não se declare marxista, é certamente influenciado pelo marxismo e contém em seu interior vários marxistas. Pelo menos, foi assim até muito recentemente. Se nos anos 1960 a predominância do marxismo em nossa intelectualidade era bem mais forte, hoje as posições marxistas ocupam um espaço razoável na cultura brasileira.
De qualquer modo, é importante notar que ser marxista não é repetir o que Marx diz. Ele disse muita coisa que, evidentemente, está superada e outras que eram erradas já no tempo dele. Ser marxista é ser fiel ao método de Marx, ou seja, à capacidade que tal método revelou de entender a dinâmica contraditória do real e as linhas de tendência da sociedade moderna. Portanto, para ser marxista é preciso ser um animal em mutação.
Tenho insistido – chocando inclusive alguns marxistas mais ortodoxos – que a essência do método de Marx é o revisionismo. Durante anos, o revisionismo foi considerado um dos inimigos principais do verdadeiro marxismo. O exemplo era Eduard Bernstein, que, realmente, propôs uma revisão que significava o abandono do marxismo. Por isso, todo revisionista tornou-se um traidor. Apesar disso, penso que faz parte da essência do marxismo se renovar e se revisar sempre. Não há verdadeiro marxista que não seja revisionista. É o caso, por exemplo, de Lênin, que revisou várias teses marxianas, como, entre outras, a de que a revolução socialista começaria nos países mais avançados.
Uma das características do método marxista consiste precisamente em afirmar que a realidade é histórica, que ela está sempre em mutação – e, por isso, quem é verdadeiramente marxista está sempre revisando os seus conceitos para dar conta deste real sempre mutável.
Como escapar à barbárie capitalista
Certamente ainda é possível. O quadro atual, como tenho dito, nos é bastante desfavorável. Desde que comecei a pensar a política, já lá se vão mais de 40 anos, nunca a conjuntura foi tão desfavorável à esquerda quanto nesse último período. Mas já houve outras épocas históricas, antes destes meus 40 anos de militância e reflexão, em que as coisas foram ainda piores. Imagine o que sentia uma pessoa de esquerda quando quase toda a Europa estava ocupada pelas tropas nazistas, as quais, entre outros avanços, chegaram a até 40 quilômetros de Moscou. Houve então momentos profundamente negativos, em que a barbárie (em sua forma cruamente nazista) parecia ter triunfado. Mas o fato é que o nazismo foi derrotado em pouco mais de cinco anos.
Há esperanças, portanto, de superarmos mais uma vez a barbárie. Mas, para isso, é preciso que lutemos contra ela, tal como os povos lutaram contra o nazismo. A vitória contra a barbárie não será resultado de uma fatalidade histórica. Ao contrário: a barbárie é o que nos espera, ou o que já nos atinge, se cruzarmos passivamente os braços. A alternativa com que nos defrontamos continua a ser o dilema formulado por Rosa Luxemburgo: socialismo ou barbárie. Cabe-nos reinventar aquele socialismo que, adequado ao século XXI, nos livrará da barbárie em que estamos cada vez mais envolvidos.
* Dênis de Moraes, jornalista e escritor, é professor aposentado do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Autor, entre outros livros, de Sartre e a imprensa (Mauad).
Nota
[1] Moacyr Félix morreu em 2005; Moacyr Scliar, em 2011; João Ubaldo Ribeiro, em 2014; e Ferreira Gullar, em 2016.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA