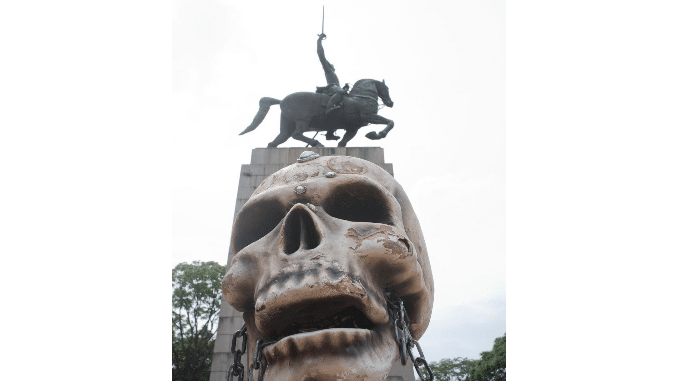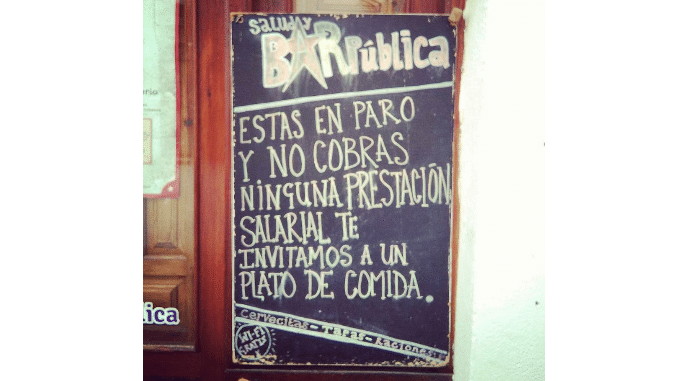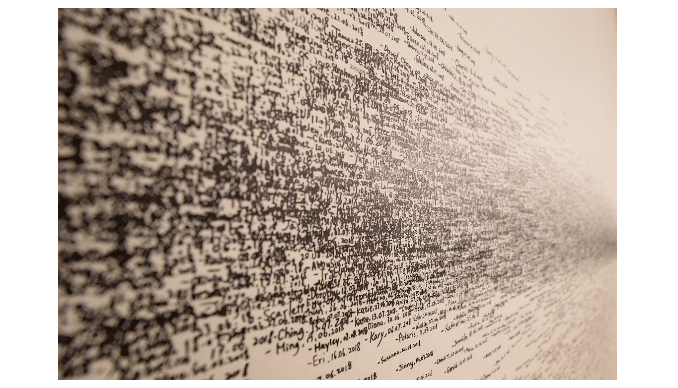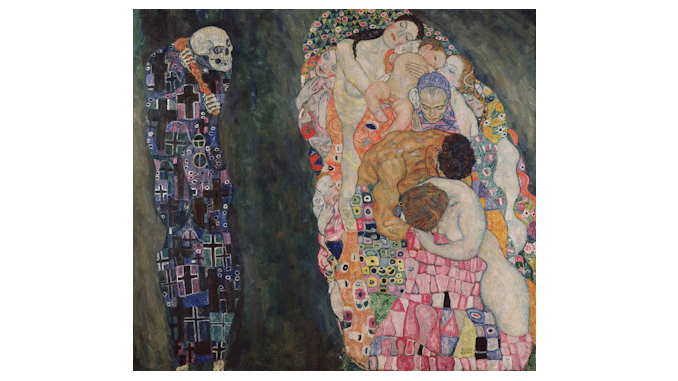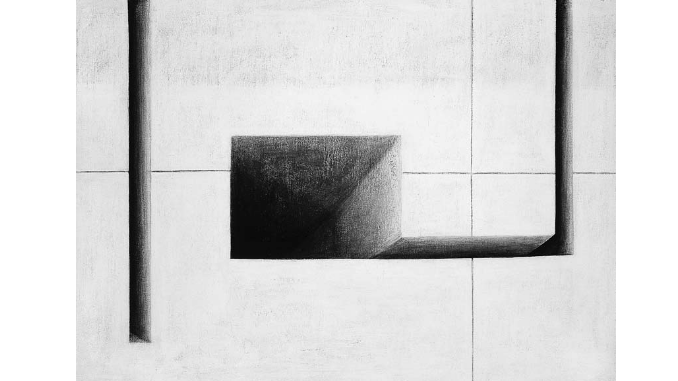Por MARCOS DE SOUZA MENDES*
Considerações sobre a obra do cineasta, um mestre do documentário
“Para o documentarista, nada é adquirido para sempre. A realidade é sempre mais forte, ela impõe sua ordem e é com ela que é necessário se medir. Posso dizer que não existiu um filme durante o qual eu não tivesse aprendido alguma coisa, de uma maneira ou de outra. Até hoje, após cinqüenta anos de prática, ainda não cheguei a definir, de uma vez por todas, um método de se aproximar dos homens e de filmá-los. É porque esse método não existe: a cada vez é diferente.” (Joris Ivens).
São poucos os documentaristas que – como Joris Ivens – através de seu trabalho emanam a essência do social e o sentido do coletivo; mantendo a coerência, o caráter e a honestidade, mesmo nos momentos mais adversos e difíceis de suas vidas e de suas profissões; poucos os que fazem de seu cinema não só um testemunho do mundo, mas instrumento de compreensão de vida e de relação com a realidade e os homens, pelo oprimido de qualquer pátria ou cultura.
Joris Ivens documentou vários universos: holandês (Wij Bouwen / Nós construímos, 1930), russo (Pesn o Gerojach – Komsomol, 1931), chileno (Le train de la victoire, 1964), espanhol (Spanish Earth / Terra de Espanha, 1937), chinês (Before Spring ou Lettre de Chine / Antes da primavera ou Carta da China, 1957; 600 millions avec nous / 600 milhões conosco, 1958), indonesiano (Indonesia Calling, 1946), polonês (Pokoj Zwyciezy Swiat / A paz vencerá a guerra, 1950), italiano (L’Italia non é paese povero / A Itália não é um país pobre, 1959), cubano (Pueblo en armas, 1961), laosiano (Le peuple et ses fusils / O povo e seus fuzis, 1969). São filmes que tornam a imagem do real referência e ponto de discussão das gerações atuais e futuras. São resultados de processos de convivência com lutas de povos diversos contra os imperialistas na tentativa de manter viva sua identidade cultural, sua liberdade e sua dignidade.
A sua obra, felizmente reconhecida em vida, é patrimônio da humanidade por ter registrado importantes aspectos da história mundial do século XX. Insuficiente enaltecer a importância de sua filmografia; redundância repetir o que os jornais, revistas e livros evidenciaram, e bem, de sua biografia, o holandês voador presente onde quer que os homens estivessem lutando contra injustiças e a miséria, e de seu cinema militante – poético e revolucionário.
Joris Ivens documentou as sociedades em suas lutas de libertação cotidianas, desde greves e mobilizações, até batalhas sangrentas como a Guerra Civil Espanhola (Spanish Earth), a Guerra Sino-Japonesa (The Four Hundred Millions, 1939) e a Guerra do Vietnã (Le ciel, la terre, 1965; Le dix-septième parallèle, 1967; Rencontre avec le Président Ho-Chi-Min, 1969). Filmou os homens em seu dia a dia – na construção de suas cidadanias, como, por exemplo, nos curtas, médias e longas-metragens que compõem o maravilhoso painel cinematográfico Comment Yo-Kong dèplaça les montagnes / Como Yu Kong deslocou as montanhas (1972/1977), sobre os prós e os contras da Revolução Cultural Chinesa. Sempre mantendo sua perspectiva de transformação das sociedades, como nos mostra esta entrevista da revista Écran 72, número 3: “Não basta a socialização dos meios de produção para que a classe operária detenha o poder. Se a infra-estrutura é socialista, mas a superestrutura não é transformada de modo revolucionário, é recriada a divisão social do trabalho, segundo os princípios do capitalismo (…). Operários e camponeses chineses disseram-nos: a partir destes últimos anos, tínhamos nas mãos a enxada, mas não a pena. Ora, sem o poder cultural nosso poder não se manteria, pois a luta de classes continua mesmo após a derrubada da burguesia.”
Sempre mantendo sua preocupação com a criação artística: “Existe uma falsa ideia que é preciso combater, esta velha ideia que filme documentário é reportagem que nada tem a ver com a arte, que o filme de ficção é a única maneira artística de se fazer cinema. Eu acreditava que esta concepção estivesse ultrapassada e desvalorizada, mas volta-se a ela, e isto, paradoxalmente, em um momento onde as formas do cinema se diversificam, e que existe uma grande criatividade nos gêneros não ficcionais. Em alguns casos, o documentário e a ficção se entrecortam se enriquecem mutuamente. Eu acredito que o documentário é uma boa base para uma evolução autenticamente cinematográfica do filme. No documentário, a influência do teatro e da literatura é menor, é a imagem fílmica que comanda bem mais que em uma narrativa dialogada. Eu pensava que esta diferença estivesse bem estabelecida, ora, o amálgama e a negação do valor do cinema documentário tem hoje partidários ferozes. Lutei durante cinqüenta anos para que se reconhecesse ao filme documentário a mesma importância e a mesma necessidade para a arte cinematográfica, que o filme de ficção… Para mim, não existe contradição nem oposição entre o cinema documentário e o cinema de ficção. Nos documentários onde se utiliza menos o diálogo, a liberdade e os recursos de montagem são bem mais consideráveis. Em um segundo, pode-se passar do microcosmo ao macrocosmo. Podem-se fazer malabarismos com o tempo e o espaço. Este gênero de filme é o mais próximo da poesia, enquanto que o filme de ficção se aparenta à prosa. (Avant-scène du cinéma, número 259/260, janeiro de 1981 “Special Ivens”).
São muitos os artigos, teses e estudos sobre sua vida e obra, mas o trabalho que vai mais fundo na interpretação de sua existência é o livro Joris Ivens ou la mémorie d’un regard [Joris Ivens ou a memória de um olhar] de Robert Destanque e Joris Ivens, Edições BFB, 1982. A leitura deste livro nos permite entrar numa compreensão mais profunda de sua trajetória de homem e artista.
O livro também pode ser visto como um romance: “Um romance para a juventude (…) a aventura do jovem Ivens que se deixa levar pelo entusiasmo e o engajamento de um cineasta que se coloca a serviço de uma causa; o primeiro, com suas amizades, seus amores, suas ilusões e desilusões, e o segundo, com seus filmes, suas convicções, suas certezas e suas dúvidas, formam um todo inseparável. Está bem ai, creio eu, a verdadeira dimensão de minha vida, aquela que desejo escrever hoje e proporcionar a leitura a todos àqueles que se interrogam sobre o mundo, sobre o sentido ou não sentido dos empreendimentos humanos, e que se inquietaram em saber se é necessário calar ou gritar, se plantar, se engajar ou aceitar.”
Realmente, saímos do livro como se saíssemos de uma cinemateca mágica onde vemos e vivemos todos os documentários memoráveis como Terra da Espanha, com todos seus problemas de produção e metralhadoras franquistas: “Uma manhã nós paramos sobre um elevado do terreno para observar o campo de batalha. Poderíamos ter ficado no carro, mas, para melhor observar, nós descemos. Pegamos nosso material e contornamos algumas ruínas que se achavam por perto. Uma explosão ensurdecedora nos fez voltar atrás. Uma granada acabara de atingir nosso veículo. Nada mais restara dele. Na hora, só pensamos em salvar o que poderia ser salvo e somente mais tarde é que começamos a tremer ao pensar que acabávamos de escapar da morte. A Espanha era aquilo, esta fragilidade do futuro, sem exaltação, sem heroísmo, um tipo de incerteza renovada sem cessar que dava às nossas relações, ao menor gesto esboçado, ao menor olhar trocado, a riqueza de um gesto ou de um olhar únicos.”
Ou como Le dix-septième parallèle: “… mas durante a noite, logo que começávamos a avançar, os ataques se sucediam uns após os outros. Geralmente os primeiros aviões (F-105) passavam sobre nós deixando atrás de si uma série de foguetes brilhantes. Através da espessa vegetação tropical a luz ganhava tons verdes e rosas que davam à floresta o aspecto de uma feérica paisagem. Era a calma que antecedia à tempestade. Os pilotos efetuavam suas aproximações e faziam fotografias e nos dispúnhamos de alguns minutos de espera antes da vinda dos bombardeiros e suas cargas de bombas de fósforo e napalm. Nós os escutávamos vir de longe, do sul, e eles se aproximavam regularmente como uma onda sonora que tomava amplidão, até se tornar um imenso barulho de trovão bem acima de nossas cabeças (…) existiam buracos de bombas em toda parte. Sem lanterna, sem ver onde colocávamos nossos pés, nos deixávamos escorregar em uma dessas fendas, e nos alongávamos na terra com a água que nos cercava até a cintura. Era uma água morna e gordurosa e sentíamos um formigamento de pequenas coisas vivas que se agitavam. Estes buracos estavam infestados de sanguessugas e de cobras, mas nós não pensávamos nisto, ou se pensávamos, era para esquecer as bombas.”
Ou como Comment Yu-Kong déplaça les montagnes: “Na minha ideia, eu desejava que esse filme sobre a China transmitisse uma informação direta de um país para outro (…). Chu-En-Iai nos tinha dito: ‘não vale a pena esconder, a China é um país pobre, um país do Terceiro Mundo. Nosso gigantismo não muda nada a essa realidade e nós não devemos imitar as superpotências, isto seria uma mentira, e ela se voltaria contra nós. Não se trata de fazer um filme cor-de-rosa, você deve mostrar a China tal qual ela é hoje’. Ao nos dirigir estes propósitos, Chu-En-Iai fazia alusão aos responsáveis locais com os quais nós estaríamos em contato e que não deixariam de querer embelezar a realidade. Para nos convencer e nos levar onde queriam chegar, os responsáveis locais nos arrastavam em negociações inacreditáveis onde a polidez, as pacientes repetições dos argumentos e as dificuldades de tradução acabavam por nos esgotar (…). O que nos havia predito Chu-En-Lai começava a acontecer e nós não tínhamos os meios de nos defender, de contra-atacar. Logo que nos deslocávamos para seguir com a equipe para uma das locações de filmagem havia, pelo menos, de cinco a seis viaturas oficiais que nos precediam e nos seguiam com todos nossos acompanhantes (…). Com Marceline nós não havíamos abandonado completamente a ideia de fazer um filme sobre a Revolução Cultural, mas nós estávamos transbordados pela imensidão do assunto, pelas suas obscuridades e pela profusão de nosso material. Faltava-nos dominar todos esses elementos. Mas o que nos preocupava antes de tudo eram as contradições da realidade chinesa e as dificuldades do regime (…). Durante a montagem, a grande dificuldade, mais que política ou ideológica, foi essencialmente de ordem artística. Como reduzir as cento e vinte horas que dispúnhamos à dimensão de um filme sem cair no esquematismo? Um filme que se mantivesse que fosse compreensivo sem aborrecer as pessoas, e que se possível, as apaixonasse. A primeira montagem durava trinta horas. Era um filme maravilhoso, de uma riqueza incrível, mas era impossível o distribuir sob esta forma. Foi então que começou a verdadeira montagem. Nos era preciso encurtar, sem destruir o conteúdo de nossas seqüências e sem cair na simplificação. A grande dificuldade era justamente o problema das entrevistas e das conversações e suas justas traduções, ai também nos era necessário encurtar, por várias razões. O tempo, é claro, mas também os limites do nosso material. Às vezes, a imagem era sem interesse, ou então nós tínhamos belas imagens, mas o som estava medíocre. Era um verdadeiro puzzle que tínhamos de reconstituir: escutar os diálogos visionar as imagens, escolher, montar, visionar novamente, recomeçar sob outra forma, e isto tentando nunca deformar o sentido do que se expressava. Finalmente chegamos ao fim da montagem. Dezoito meses de trabalho e, ao fim, doze horas de filme que pareciam se sustentar e possibilitavam ver a China tal como nós a havíamos atravessado e filmado.”
O livro é também uma boa conversa com Joris: escutamos sua voz meio rouca, com o sotaque holandês se misturando com o francês, voz rouca de tantas guerras e viagens. Vemos suas mãos enrugadas, cujos dedos nodosos pela idade, vibram no ar em gestos largos e simpáticos, como os daqueles avós que sempre tivemos e sonhamos, que nos abraçam e nos olham com carinho e identificação. Não como espelho, mas como fragmento de imagem para se refletir no futuro.
Em 1981, durante o festival internacional de filmes etnográficos e sociológicos Cinéma du Reel, realizado no Centro Georges Pompidou – Biblioteca Pública de Informação –, em Paris, de 04 a 12 de abril, o então curador de filmes da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Cosme Alves Neto, nos apresenta ao mestre documentarista. Ele nos cumprimenta com profunda simpatia, como se nos conhecesse há muito tempo. Logo em seguida, uma foto ao lado do documentarista francês Jean Rouch e um debate com Henri Storck, grande documentarista belga, co-realizador do célebre Borinage (1933), e o crítico Louis Marcorelles. Neste debate, seria apresentado o filme Cinemáfia de Jean Rouch (1980): uma entrevista com Ivens e Storck em Katwijk Aan Zee, Holanda, local de filmagem de um dos primeiros filmes de Joris, Branding (1929, primeiro e único filme de ficção de Ivens), e seria discutido também o cinema documentário dos pioneiros Dziga Vertov e Robert Flaherty. Ainda naquele ano, a Cinemateca Francesa faria uma homenagem a Flaherty – o pai do filme documentário – com o lançamento de uma versão sonora de Moana (1926), empreendida por sua filha, Monica Flaherty. Monica, quase quarenta anos depois do pai, retornou às ilhas Samoa (Oceania, Pacífico Sul) com o filme original e procurou resgatar cantos e rituais já então esquecidos pelos habitantes da região.
Na saída da sala, Joris Ivens: discreto, simples e lúcido, indagado sobre a sonorização de Moana, respondeu que o filme fora criado para ser mudo e em função de um ritmo visual. Ritmo visual… Esta frase ficaria pairando na cabeça dos estudantes de cinema que estavam ali durante muito tempo.
Ainda em 1981, e novamente na Cinemateca Francesa, a realização do “Segundo debate de 81 do Colégio Internacional do Cinema”, dirigido por Jean Rouch. Este encontro contaria com a presença de Joris, sua companheira e cineasta, Marceline Loridan; Hélène Kaufman, viúva do fotógrafo Boris Kaufman, irmão mais novo de Vertov; e Luce Vigo, filha do inesquecível Jean Vigo. Na sala escura, a apresentação de À propos de Nice (1929) de Vigo e Kaufman; Entuziasm – Sinfoniia Donbassa / Entusiasmo – Sinfonia do Donbass (1930) de Dziga Vertov; De Brug / A ponte (1928) de Joris Ivens.
Do debate após a projeção, a lembrança de algumas frases de Joris: “(…) já se conhece tão bem os filmes de Vertov, sempre uma força da natureza, toda uma força visual. Visual. E quando ele tem o som, bem, ele começa corajosamente, com grande audácia (…) é realmente genial como captou as coisas, a montagem do trabalho e, ao mesmo tempo, o trabalhador está sempre presente (…) é preciso então extrair do cinema este desenvolvimento que nos tomamos de Flaherty – e também de Vertov – e o desenvolver na corrente de nosso tempo! E no ritmo do nosso tempo! (…) pode-se muito bem trabalhar com a câmera (cinegrafista) e um diretor. Como uma unidade. É quase como um casamento: com todas suas dificuldades. A alegria e a dificuldade (…) é preciso ser um homem alerta. Vigilante! Enormemente vigilante. (…) A ponte é um filme modesto também, de um homem que começa em um país onde não se tem escola de cinema, não se tem revista de cinema, não se tem nada! Então a gente começa: estuda-se o movimento. O que um movimento pode dar com um movimento de esquerda bem lento? Isso dá uma impressão de música menor ou maior? É realmente aprender no ABC do movimento. Porque nós estamos dois mil anos atrás das outras artes, e é preciso, pelo menos, saber um pouco.”
Joris Ivens residia em Paris, num modesto apartamento da Rive Gauche, n° 61, rue des Saints Pères. Em 1982, trabalhava com Robert Destanque no livro Mémoires d’un régard e ainda arrumava tempo para participar de um encontro de filmes revolucionários promovido pelo Iskra, uma distribuidora independente de filmes documentários, fundada por Chris Marker. Na fria e cinza cidade, Ivens abre uma exceção em seus afazeres e nos recebe para uma conversa. Marceline fritava ovos na cozinha e nos cumprimenta. Joris lê uma matéria no jornal Liberation, não concordando com a opinião do jornalista. Com atenção, olhou alguns slides da Amazônia contra a luz da janela (seu grande sonho era fazer um filme no rio Amazonas). Depois nos mostrou uma estante cheia de livros sobre a cidade de Florença e falou sobre seu projeto na época: um documentário sobre a famosa cidade italiana (Joris e Marceline Loridan não filmavam desde Les Ouigours – minorité nationale – Sinkiang / Os Ouigours – minoria nacional – Sinkiang realizado de 1973 a 1977, na China).
Segundo Ivens, a prefeitura de Florença lhe daria todas as condições para a produção de trabalho: “Já li quase todos estes livros, e nem sei se aproveitarei alguma coisa para o filme”, disse, nos dando uma aula sobre a função da pesquisa – e da humildade – na criação de um filme documentário. Com resignação e certa dose de humor, ainda comentou sobre a situação física aos 84 anos de idade: “… hoje caminho cem metros e minhas pernas logo se cansam”. Novamente, com seu calor humano e simpatia – escoltado pelo sorriso amável de Marceline – nos autografa sei livro: “… permaneças fiel à poesia na nossa arte! E meu bom desejo para teu trabalho no teu país imenso. Toda minha amizade…”.
Com meu retorno ao Brasil, no ano seguinte, em 1982, o contato com Joris se manteria por meio de cartas, as quais, a partir de 1985, seriam raras devido à partida do cineasta para a China onde realizaria seu grande sonho cinematográfico sobre a civilização daquele país, Une histoire du vent / Uma história do vento (1984/1988). O filme de Florença não chegou a ser feito devido a problema dos produtores. No ano de 1986, Joris Ivens estaria indiretamente presente no Brasil, através de uma homenagem realizada pela XV Jornada de Cinema da Bahia, de 08 a 15 de setembro, representado pelo casal holandês, Jan e Tineke de Vaal, então diretores do Filmuseum de Amsterdam, onde se encontra o acervo de Ivens. Foi realizada uma grande retrospectiva de sua obra, onde foram projetados, por exemplo: Regen / Chuva (1929); Komsomol (1931); Nieuwen Gronden / Nova terra (1934); Indonesia Calling (1946); The Four Hundred Millions (1938); Before Spring (1958); e A Valparaizo (1963). Muitos cineastas e pessoas ligadas ao cinema cultural assinariam então um cartão para Ivens, entre as fotos tiradas pela sorridente Tineke.
Tineke e Jan nos contariam o sério problema de saúde sofrido por Joris na China. O Ministro da Cultura da França, Jacques Lang, chegara a mandar um avião ambulância buscá-lo. Ivens chegaria mal a Paris, tendo, inclusive, feito uma traqueotomia. Segundo Tineke, três meses depois, refeito, Ivens disse sorrindo que estava bem e que voltaria à China para terminar seu filme Une histoire du vent / Uma história do vento projeto já esboçado em Memoires d’un Régard: “É um poema cinematográfico e eu o vejo assim. Como pano de fundo, as nuvens. Acima, o espaço infinito, a pureza da luz e uma estranha vertigem que me leva sempre para o alto. Abaixo, é o homem. E na espessura sedosa das nuvens se desenham formas sobre as quais minha imaginação projeta imagens de lenda, das batalhas, dos personagens da mitologia. É a memória da China, sua história. Assim, como minha câmera, eu desço do teto do mundo e sobrevôo as nuvens. De repente, através de um buraco, percebo a Terra; as linhas de cultivo seguem o movimento do relevo e eu mergulho. Num segundo estou ao nível do homem no arrozal, ao nível do seu olhar e de sua mão. Duas crianças brincam sob uma árvore, um inseto atravessa um raio de sol, estou no microcosmo. Permaneço aí um instante e em seguida retorno, volto para o céu, e minha visão se alonga novamente da escola do cosmo. Estou liberado das leis do peso e do espaço. Quando novamente mergulho, penetro no oceano. Toco as profundezas do mar da China. É o silêncio, estranhos peixes que passam…”
1988: Ivens numa foto da revista Cahiers du Cinéma: sentado, uma bengala na mão, os olhos amendoados ainda mais fechados, como um velho sábio oriental, durante as filmagens de uma produção de jovem cineasta francês. A impossibilidade de se reter o tempo, de se transpor o espaço entre Paris e Brasília. 18 de novembro de 1988: Ivens completa 91 anos. As tentativas de telefonar-lhe, os números que mudam, o tempo que voa, uma foto e um cartão postal que não foram enviados.
Os jornais noticiam que Uma história de vento fora apresentada no Festival de Veneza. A admiração, estampada em nossos silêncios, pelo homem que transpôs a doença, realizou seu grande sonho poético-revolucionário, caminhou sempre para frente, no limite da vida. Sempre tomando o cosmo como referência.
Maio de 1989: uma edição especial do jornal francês Le Monde, “Cinéma et Libertés”, coordenação de Danièlle Heymann – sobre a jornada internacional dos direitos do homem e do cineasta, ocorrida no Festival de Cannes. Entre vários depoimentos e imagem de Joris, cabelos brancos e paletó solto ao vento, cachecol longo, uma bandeira de paz em torno do pescoço, uma bengala na mão esquerda como se fosse um martelo (uma estranha vertigem que o leva sempre para o alto…).
De suas palavras, uma rápida declaração abaixo transcrita, a esperança: “O cinema… Esta grande descoberta do Século Vinte, boas e também más fadas se debruçaram sobre seu berço. Ditaduras de todos os tipos. Poderes políticos, poderes do dinheiro… Nada lhe faltou. Ninguém se engana sobre a força da imagem. Contar a história do cinema é descrever o mundo maravilhoso que ele inventou, é escrever também as páginas mais sombrias deste século. Artistas, criadores, não pararam de lutar e conquistar sua tela, seu espaço. Tantos filmes que devemos aos seus talentos, à sua coragem, à sua resistência, à sua obstinação. Existe algum cineasta que nunca tenha tido que se bater contra os golpes das tesouras… Na película… Na sua cabeça? Eu não o creio. E, até aqui, apesar do caminho percorrido, não ronda o perigo da obra se transformar em noção de “produto vendável”? Quantos cineastas do mundo inteiro sentem a necessidade de se encontrar na França, na ocasião do bicentenário da Revolução Francesa? Não é isto o sinal mais simbólico para reafirmar juntos, no momento do crescimento das intolerâncias, a vontade de defender o cinema e a liberdade, o cinema e sua liberdade?”.
Ivens morreria no final do mês seguinte. Mais lúcido e mais jovem do que nunca, poeta do vento e dos rios. Quando Joris filmava no Vietnã e os soldados e membros do Partido não queriam que ele partisse para a linha de frente, pois poderia morrer, Ho-Chi-Minh dizia: “Deixem-no ir. Ivens é um homem que sempre retorna”.
*Marcos de Souza Mendes é professor da Faculdade de Comunicação da UnB. Dirigiu, entre outros filmes o média-metragem Heinz Forthmann.
Publicado originalmente na revista Cinemais no. 27, jan-fev 2001.