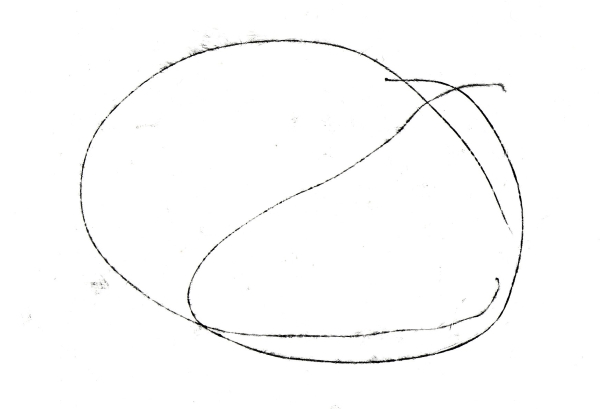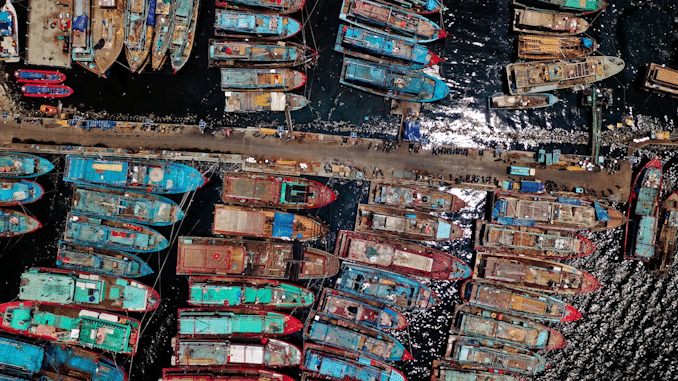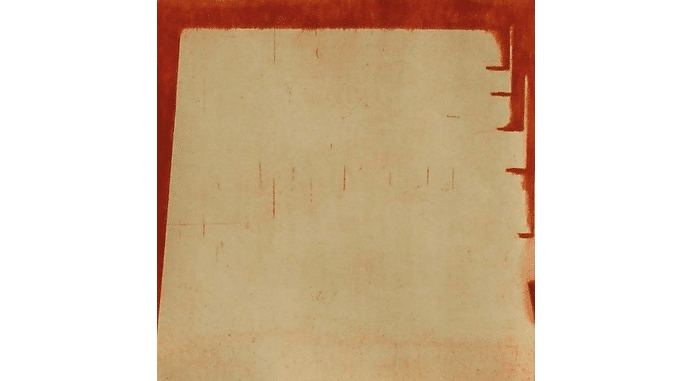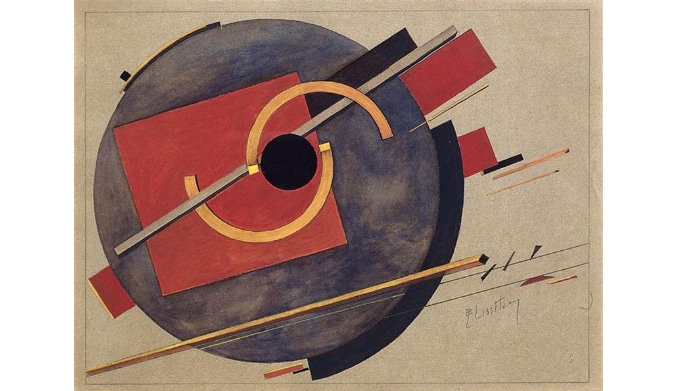Por Alexandre de Freitas Barbosa*
A peste de Camus e a peste nossa de cada dia: quando a realidade supera a alegoria
“Cada um carrega consigo a peste, porque ninguém no mundo está a salvo. É preciso prestar atenção a todo momento para não ser levado, em um minuto de distração, a contrair a infecção de alguém que respira ao seu lado. apenas o micróbio é natural. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se você quiser, é efeito da vontade e de uma vontade que não deve jamais ceder. O homem honesto, que não contamina quase ninguém, é aquele que praticamente não se distrai. E como é preciso de vontade para não se distrair! Sim, é bem extenuante estar infectado, mas mais extenuante ainda é lutar para não sê-lo” (Albert Camus, A peste).
Eis que Oran – a cidade do Mediterrâneo – se expandiu e tomou o planeta terra. Albert Camus, ao final do seu livro de 1947, já desconfiava que “o bacilo da peste não morre e nem desaparece jamais”, cogitando que talvez viesse o dia em que “para a desgraça e aprendizado dos homens, a peste despertaria novamente com seus ratos, enviando-os para morrer numa cidade feliz” [1].
O dia chegou e o livro, uma alegoria em forma de panfleto [2], tem muito a nos ensinar. Tal como o seu anti-herói, o médico Bernard Rieux – que revela nas últimas páginas ser o autor do relato –, serei objetivo, poupando o leitor e a leitora de novos spoilers. O que segue é uma espécie de relato do relato. Como não sou crítico literário, reservo-me o direito de entremear frases e termos de Camus, ao longo do texto, fazendo uso das aspas apenas quando for estritamente necessário.
As fases da peste
A peste sempre chega de surpresa. Seus acontecimentos curiosos e extraordinários não poupam sequer uma cidade feia, virada de costas para o mar, sem pombas, árvores e jardins. Uma cidade moderna e ordinária.
De repente, os ratos aparecem mortos aos milhares. O primeiro que os vê, o zelador, crê tratar-se de uma farsa. Estamos no dia 16 de abril. No dia 30, ele está morto. Começa então o desfile de cifras, narrado pela agência de notícias. São seis mil duzentos e trinta e um ratos incinerados apenas no dia 25. Depois a peste se aloja nos humanos. Na terceira semana da peste, já são trezentos mortos por semana.
As autoridades se reúnem com os médicos. A “peste” é pronunciada pela primeira vez de forma quase sorrateira. Há que se tomar cuidado com a opinião pública. Agir como se fosse a peste, mas sem mencionar a terrível palavra. Para o médico, a fórmula é indiferente. O problema é impedir que se mate metade da cidade. Quando a peste se alastra, o prefeito entra em pânico. É preciso pedir orientação ao governo central. O médico se impacienta: o inimigo não espera as ordens. Ele exige imaginação.
São todos humanistas e estúpidos. Os cidadãos de Oran não acreditam nas pragas. O micróbio não está à sua altura, é irreal, um sonho ruim que passa. Mas o pesadelo toma conta e leva os humanistas junto consigo. Eles, que ainda se acreditam livres, continuam os negócios, os planos de viagens, as discussões comezinhas. Na primeira fase da peste, a reação das pessoas oscila entre a inquietação, associada aos cenários mais tenebrosos, logo descartados; e a confiança, acompanhada de uma data precisa, apesar de ilusória, para a rendição da praga.
Na segunda fase, a peste se instala em definitivo. A separação individual se transforma em exílio coletivo. Todos estão prisioneiros e sitiados. Condenados a viver dia após dia a serviço do sol e da chuva. Impacientes em face do presente eterno, inimigos do passado e privados de futuro. Há, contudo, os “privilegiados”. A eles resta a distração saudável de pensar no ente amado que habita longe dos muros da cidade confinada: ao menos enquanto a memória resistir e o outro ou a outra não perderem a sua consistência de carne.
A peste é indiferente e monótona sobretudo para os médicos e enfermeiros. A piedade cansa quando se revela inútil. Para lutar contra a abstração, é preciso parecer-se um pouco com o inimigo. Os habitantes da cidade ordinária procuram manter a sua objetividade diante dos fatos: “afinal de contas, isto não é comigo”. As válvulas de escape são muitas, como no primeiro sermão do padre: a praga, enviada por Deus, cuidará de separar os maus dos justos, o joio do trigo. O mal são os outros.
A cidade aos poucos se rende ao invasor. O assovio da peste, levado pelo vento, ecoa sobre o mundo de portas fechadas, enquanto os gemidos e os gritos são sufocados pela noite. As estatísticas dos mortos disparam com a chegada do verão, que remete ao sono e ao descanso. Mas não há banhos de mar ou prazeres da carne. As ruas empalidecem de poeira e de cansaço, e o sol impiedoso abre passagem à peste.
Na terceira fase, a peste torna-se um modo de vida. Não há mais retórica, apenas o silêncio. A religião cede espaço à superstição ou ao prazer desbragado. A moral se curva ao luxo, como se ânsia de viver chegasse ao ápice na cidade dos mortos. A peste possui a sua própria logística. O contrabando traz novas fortunas. E há sempre um consolo enquanto uns forem mais prisioneiros do que os outros. Mas o vento nivela a cidade, esparramando a praga dos quarteirões periféricos aos centrais.
O narrador pede licença para falar dos enterros, pois se trata de uma atividade essencial em uma sociedade de mortos, toda ela se adaptando a um novo padrão de eficácia. Os cidadãos infectados são isolados nos hospitais e escolas, enquanto seus familiares se mantêm em quarentena nos hotéis, nas casas tomadas pelo poder público e depois no estádio municipal. Ao primeiro sinal da peste, organiza-se um sistema imediato de evacuação com as ambulâncias percorrendo a noite com suas sirenes. O médico já não é aquele que cura. Ele vem escoltado por soldados.
Os mortos são enviados aos cemitérios em caixões. Depois as valas comuns recebem os corpos misturados, umas para as mulheres, outras para os homens. Até que, enfim, é abolida qualquer decência em prol da rapidez na execução das tarefas. No dia seguinte, os familiares assinam o atesto de óbito, pois a administração tem seus controles. Algo deve diferenciar os humanos dos cachorros. No extremo da epidemia, o forno crematório é integrado ao circuito dos bondes, que levam balouçantes os mortos no sentido do mar. Há quem acredite que a peste se espalha junto com o vapor espesso e nauseabundo lançado ao céu e espalhado pelo vento.
As grandes desgraças não trazem consigo imagens espetaculares, mas apenas um cortejo monótono, assegurado pela engenhosidade dos quadros administrativos que passam a reger de forma impecável a sociedade dos mortos. Resta aos vivos manter a contabilidade. Eles aprendem com a peste, com a sua precisão e regularidade. Com o aumento do desemprego, encontra-se uma solução para os trabalhadores menos qualificados. Como a miséria supera o medo, o trabalho passa a ser remunerado em proporção inversa aos riscos. Quando a vida não tem valor a morte é precificada.
Mas a especulação em torno dos gêneros de primeira necessidade trata de colocar a desigualdade no seu devido lugar. Por sua vez, a igualdade natural proporcionada pelo ministério da peste não encontra defensores. Em outubro e novembro, a peste reina. Nada de grandes sentimentos. O consentimento provisório é substituído pela mediocridade cotidiana. A convivência com o desespero o naturaliza e atenua. Os cidadãos da sociedade infectada perdem qualquer vestígio de personalidade: como sonâmbulos eles não têm ar de nada e todos se parecem entre si. A peste opera pela massificação.
Na quarta fase, a peste perde a sua eficácia matemática e soberana. As cifras oscilam, assim como os sentimentos de depressão e excitação. O ceticismo havia trancafiado qualquer esperança. Lentamente, a sensação de vitória predomina. O mal abandona as suas posições. No dia 25 de janeiro, depois de uma avaliação das estatísticas, junto com a comissão médica, a prefeitura decreta o fim da epidemia. A liberação se aproxima.
As portas da cidade são abertas numa bela manhã de fevereiro. Sentimentos desencontrados acometem aqueles (os vivos) que recebem os parentes e amantes que vêm de longe. Como se a felicidade não pudesse vir tão rapidamente, em total desacordo com a longa espera. A peste, tal como veio, se vai. Parece não ter deixado sua marca nos corações dos sobreviventes. Danças, risos e gritos compõem o quadro de uma bela celebração coletiva.
Os personagens diante da peste
Os personagens em Camus representam posições diante do mundo. Cada ato indica uma opção concreta. Não existe verdade, teoria ou culpados. Há os condenados por ignorância e fraqueza, aqueles que fazem o que é preciso ser feito e os que relutam. A vida não é feita de sentimentos nobres, mas de atitudes.
Apresento ao leitor quatro personagens essenciais para a trama – sem mencionar os seus nomes – deixando os dois personagens centrais para adiante, o médico e o padre, pois eles protagonizam o diálogo que encerra o destino da peste.
O funcionário de baixo escalão da prefeitura representa a ternura no meio da peste. Depois do expediente, ele se junta às brigadas sanitárias, fornecendo apoio logístico à gestão da luta contra a peste. Ele se explica: “é simples, em face da peste, é preciso se defender”.
Avançada a noite, dedica-se ao seu manuscrito. Retoca infinitas vezes o primeiro parágrafo da sua obra literária, trocando adjetivos, em busca da perfeição na imagem construída e no som das palavras que marcam o seu compasso. O mundo dos literatos lhe estenderia os chapéus em sinal de reverência. Nosso narrador despreza o sentimento de heroísmo. Mas se herói houver, que seja este: insignificante, beirando ao ridículo e repleto de bondade no coração.
Já o jornalista simboliza a busca pela felicidade pessoal no amor. Decide fugir a qualquer custo da cidade sitiada para encontrar sua amada. Trava conhecimento com o mundo das atividades ilícitas e bem remuneradas que compõem os negócios da peste. A sua felicidade encontra uma barreira na abstração (burocrática) da peste, que não reconhece a sua situação de estrangeiro. Ele acompanha as brigadas sanitárias. Vive entre dois mundos paralelos, o da fuga e o da luta cotidiana. Não lhe apetece morrer por uma ideia. É quando o médico lhe responde: “o ser humano não é uma ideia”.Depois de idas e vindas, ele recua: “essa história nos pertence a todos”. Ele se “nacionaliza” pela peste. Tem vergonha de ser feliz apartado do mundo. Lutar contra a peste, eis a única decisão aceitável.
O terceiro personagem surge do nada. O narrador se utiliza do seu diário para descrever algumas cenas (secundárias) da peste. É ele quem sugere ao médico abandonar a via oficial e organizar as brigadas. Encarrega-se do recrutamento de novos voluntários. Uma noite o médico e o líder das brigadas sobem ao terraço de um edifício. Avistam as colinas, o porto e a linha do horizonte onde o céu e o mar se misturam. É então que este confessa: “eu já sofria da peste antes”. Quando criança, vira o seu pai, um juiz, decretar a pena de morte, executada por outros. O espetáculo lhe parece abjeto. Entra para a política, com sede de justiça, pois lhe ensinam que a condenação é fruto da ordem social. Ao lutar contra o sistema, ele passa a matar. Por isso, a epidemia não lhe ensina mais nada. Busca tão-somente a paz.
Por fim, há o pequeno rentista. Depois de cometer um crime e sentir a angústia do isolamento, ele se delicia com a peste. Agora não há mais culpados, estão todos na mesma situação. Eis a sua síntese engenhosa: “a única maneira de reunir as pessoas é enviando-lhes a peste”. A peste, ao retirá-lo da solidão, o transforma em seu cúmplice.
Além de fazer fortuna com a peste, despreza as brigadas sanitárias. Elas não podem com a peste, magnífica, imbatível. O recuo da peste deixa sua personalidade transtornada. Aferra-se ao imprevisto, a uma possível falha matemática. Quando a peste se retira de cena, contenta-se com a marca que ela deixará impressa nas almas. O pequeno rentista não aparece na obra como o vilão da história. Ele interage a todo o momento com os brigadistas. A alma do assassino é cega e seu coração, ignorante porque solitário.
O narrador, além de objetivo, é pedagógico. Não cultua nenhuma moral superior. Se exaltasse as belas ações estaria sugerindo a sua excepcionalidade. Seria uma forma de homenagear a peste, pagando tributo à indiferença e ao egoísmo.
O médico e o padre
No primeiro sermão do padre, a peste aparece como uma forma de punição pelo pecado, exigindo a resignação dos cristãos. Lutar contra o curso natural das coisas é um ato de heresia. Os padres falam assim porque não veem a cara da morte. Eles falam em nome da “verdade”. Questionado sobre a sua crença, o médico responde que se acreditasse em um Deus todo-poderoso não se empenharia em curar. Talvez seja melhor lutar com todas as suas forças, sem elevar os olhos ao céu, enquanto ele se cala.
A peste avança e o padre se alista nas brigadas. O padre e o médico acompanham a criança, o filho do juiz, tomado pela dor lancinante, numa pose grotesca de crucificado. O padre roga ao médico: “meu Deus, salve esta criança”. O médico, no limite de suas forças, depois do suspiro final, explode: “ao menos, este era inocente”. O padre responde: “talvez tenhamos que aprender a amar o que não compreendemos”. E o médico: “padre, eu tenho outra ideia do amor”.
O padre agora vive nos hospitais e nos lugares onde a peste faz a sua morada. Revela ao seu novo colega de trincheira que escreve um pequeno tratado com o título “pode um padre se consultar com um médico?”. É então que o convida para um segundo sermão. Dirigindo-se aos fiéis, o padre confessa: não pode mais se comprazer imaginando uma eternidade de delícias em compensação ao terror. Como aceitar o sofrimento de uma criança? – a sua voz ecoa nas naves da igreja. Já não sabe de nada. A religião não pode ser a mesma em tempos de peste. É preciso acreditar em tudo ou tudo negar. Quem ousará negá-la? É preciso querer a peste, pois Deus a envia, para então mostrar que ela é inaceitável. “Meus irmãos”, precisamos ser aqueles que restam, lutando até o fim.
O médico vive o cansaço cotidiano sob o signo do silêncio da derrota. Este é o seu trabalho. A única maneira de lutar conta a peste é manter a honestidade. Por um único e breve momento, ele se livra da peste, durante um inusitado banho de mar com seu parceiro de brigada. A doença os esquece, mas os espera, infatigável. A peste não deixa nenhum legado, não há redenção na vida depois da peste. Ela oferece apenas conhecimento e memória. Não parece muito. Mas é o suficiente. A história é feita dos que restam e dos que ficam pelo caminho. O médico e o padre.
Quando a indecisão mata
O médico conhece a dor e possui imaginação suficiente, fornecida por sua profissão, para saber o que é a morte. As cifras históricas, com seu féretro de cem milhões de mortos, não fazem cócegas na imaginação. Falta-lhes concretude. Não possuem o peso de um homem morto para quem o viu morrer, estrebuchando em lágrimas e súplicas.
Pensemos, por exemplo, nos dez mil mortos em um só dia de peste em Constantinopla. Imaginemos, por um momento, que essa população é capaz de encher cinco cinemas. Esperemos que as pessoas saiam aos poucos e sejam conduzidas à praça para morrer em bando à nossa frente. Imaginemos agora que elas assumem os rostos de pessoas conhecidas. Mas quem conhece dez mil rostos? Haja imaginação para quem não viu morrer um humano diante de si, vítima da peste. As cifras iludem. Não é conosco.
Por que se formam as brigadas? Porque quando a peste é um modo de vida, há apenas uma decisão aceitável. Lutar contra a peste. Os brigadistas são movidos pela satisfação objetiva de impedir o maior número de pessoas de morrer. A indecisão torna-se inaceitável. Significa tomar o partido da peste, em sua obstinação cega e assassina.
O professor do primário ensina que dois mais dois são quatro. Há momentos na história em que sustentar que dois mais dois são quatro significa assinar a sentença de morte. Contra a peste, mais vale a tabuada. Não há recompensa e nem punição à frente. Mas o que importa, acima de tudo, é que dois mais dois são quatro.
Quando se está na peste, há primeiro que se aceitar este fato e, depois, decidir se é o caso de lutar contra ela. O professor do primário ficaria indignado ao saber que os novos moralistas, ao se colocarem de joelhos, pregam que dois mais dois são cinco.
É preciso modéstia em face da peste. Uma vez que a praga tomou conta, há que se postar ao lado das vítimas. Como não há heróis e santos, resta agir como humano. Nem mais, nem menos.
Uma literatura e uma filosofia libertárias
Albert Camus se utiliza do romance para pensar. A sua literatura é filosófica, assim como a sua filosofia é literária, estruturada não em torno de conceitos, mas de situações existenciais. Conforme suas palavras, “eu não sou filósofo, o que importa é saber como se portar diante do mundo, quando não se acredita em Deus e tampouco na razão” [3].
O escritor recusa a filosofia como sistema de pensamento. Empenha-se na arte de viver à beira do precipício. Apesar de classificado como existencialista, sempre negou filiação ao movimento de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.
Por sofrer de tuberculose, depois de se formar em filosofia na Argélia, Camus é impedido de prestar o exame de agrégation para ensinar no sistema secundário e continuar seus estudos. Proveniente de uma família pobre de pieds-noirs – como são chamados os habitantes da Argélia de ascendência francesa –, sua vida se parece a uma peregrinação em que os obstáculos antepostos lhe permitem sugar o máximo de conhecimento.
Assim se explica a sua ojeriza com a retórica pomposa dos filósofos convencionais. Concebe uma prosa simples e sem excessos. Quer comunicar apenas o essencial, o que lhe parece justo e verdadeiro. É o pensador da imanência radical, fiel às suas origens. Conta, mostra e descreve, trazendo consigo o leitor, a quem quer despertar do seu sono tranquilo. Sub-repticiamente, há um coração que pulsa e sangra, mas sem sentimentalismos.
Nietzsche é o grande mestre de Camus. Como ele, o escritor quer se misturar ao mundo, dizendo sim à vida. Para isso, precisa conviver com o absurdo do mundo. Ele busca o avesso da vida na sua experiência mediterrânea, feita de sol e de mar. Em vez da filosofia dogmática, “uma filosofia do perigoso ‘talvez’ a todo custo” [4], repleta de experimentos, atalhos e desvios. Uma filosofia libertária e independente, sem jargões.
Essa positividade não tem nada de conformista. Camus é movido pela ação e pela luta e a sua utopia feita do aqui e agora. Engaja-se com pouco mais vinte anos no Partido Comunista Argelino, participa do “Teatro do Trabalho” e escreve artigos para jornais sobre a miséria dos “cabilas”, que ele associa à exploração colonial. É longa a trajetória desse jovem da periferia de Alger até a celebração do prêmio Nobel na Suécia em 1957.
Em 1944, depois de já ter publicado duas obras pela prestigiosa editora francesa Gallimard, Camus entra em cena como editorialista e redator do Combat, o jornal da Resistência francesa [5]. Neste momento, ele se dedica, com dificuldade, ao manuscrito de A Peste, redigido e lapidado entre 1941 e 1946. O contexto é a Segunda Guerra Mundial. A expansão do fascismo age como um bacilo na sociedade dos vivos. Mas o livro também remete à ocupação, colaboração, resistência e liberação na França. E ao avanço do stalinismo, concebido como “crime da lógica”, de assassinato em nome da história. A alegoria – seja qual for o real ao qual ela faz alusão – convida o leitor a lutar contra a condenação coletiva. Mas é também um panfleto, pois “o homem revoltado” – título de sua obra filosófica escrita em 1952 – diz “não”.
O objetivo é buscar a humanidade de quem se alia na revolta. De nada valem a indignação seletiva ou o apoio distanciado. Tampouco há utopia para além do combate à peste. Ou se está a favor da peste ou contra ela. Se a política ingressa na cena histórica com toda a sua pulsão de morte, urge impedi-la. Simples assim.
O Brasil e a peste
Qualquer semelhança do romance de Camus com os fatos que correm no Brasil e no mundo é mera casualidade. O nosso país é uma ficção à parte. Foi infectado desde que o grotesco capitão pronunciou o nome do torturador no dia 17 de abril de 2016. Passamos então a viver sob o signo da peste.
O coronavírus não é uma alegoria. Ele é real e mata. Tampouco há alegoria nos seres fracos e ignorantes, os milicianos que praticam a pulsão de morte no poder. Eles são isso que está aí: suas vísceras estão abertas e a sua alma, se eles a têm, fede. O seu desprezo à ciência, aos trabalhadores e à vida representa uma afronta ao professor do primário que nos ensinou que dois mais dois são quatro.
O batalhão da peste é composto por infectados de todas as patentes e credos. Rezam em bando e de mãos dadas, atravancam as entradas dos hospitais com seus carrões e buzinas e disparam o vírus certeiro nas suas mensagens de WhatsApp. O golpe já foi dado, está aí para quem quiser ver. Em face dos fatos, há apenas uma decisão aceitável: lutar contra a peste nossa de cada dia.
Enquanto tosse o pestilento endemoniado, sua gosma é disputada pela multidão ensandecida, como num filme neorrealista italiano. O palanque é armado em frente aos quartéis repletos de soldadinhos de chumbo ou ao palácio de linhas curvas desenhadas pelo poeta-comunista Niemeyer. Os carrascos verde-amarelos – todos em selfies, eles bombados, elas bundudas – transmitem seu ódio aos quatro-cantos da pátria-amada chamada Brasil. “Voltem ao trabalho”, “O Brasil precisa trabalhar”.
Percebe-se inclusive o avanço nos métodos. É o progresso da história. Em vez de campos de concentração, os trabalhadores de aplicativos, os autônomos precários e as empregadas domésticas são enviados à morte nas ruas, no comércio e no transporte público. Os patrões ficam em casa aguardando o féretro passar como num desfile de carnaval. Dão gargalhadas sonoras refestelados nos seus condomínios fechados com sua multidão de serviçais. Eles não usam máscaras, são os portadores da peste.
Bem ao contrário da peste de Camus, silenciosa e monótona, trazendo no seu encalço o terror, que os cidadãos de Oran ocultam o máximo que podem, para conviver, sem alarde, com o domínio do invasor. O narrador é sóbrio ao narrar a carnificina. Aqui a carnificina é celebrada à base de cloroquina. O presidente do Banco Central, em vez de cumprir o seu papel e emitir moeda, desenvolve a sua filosofia mórbida: “essa troca, entre salvar vidas ou combater a recessão, está sendo considerada”. A ficção em forma de patriotada, e dá-lhe hino nacional, faz a peste de Camus, tão seca na narrativa dos fatos extraordinários, parecer um conto de fadas em preto e branco. O seu pequeno rentista era apenas um homem medroso e ignaro.
O nosso espetáculo macabro põe em cena um político medíocre sem votos, que chega a envergar o jaleco do SUS e posar de herói; e um ex-juiz, ministro da Justiça, falso moralista de novela policial, fiel servidor da peste. Ambos são substituídos quando a praga avança. O primeiro, por um espantalho que se diz médico. Vê as cifras subirem e analisa, cadavérico, a curvatura do gráfico. Não tem convicção ou imaginação, pois trabalha em nome da peste. O novo ministro da Justiça saúda o profeta da peste. É a Santa Inquisição.
Como responde o infectado-mor? “E daí? “Quer que eu faça o quê?” “Todo mundo vai morrer um dia”. As mortes devem ser imputadas aos governadores e prefeitos que seguiram as recomendações da OMS e decretaram o isolamento social. O ser – que veio do esgoto da nossa sociedade – continua: “não vão colocar as mortes no meu colo”. O professor do primário entra em pânico. Jamais ensinou que dois mais dois são dez.
No dia 1º. de maio, um grupo de enfermeiros e enfermeiras fazem um ato na Praça dos Três Poderes. Um ato silencioso. Carregam cruzes e estão vestidos de branco, seu uniforme de trabalho, as máscaras protegendo seus rostos. Seus companheiros de brigada morreram na luta contra a peste. Um casal infectado invade o ato ejaculando impropérios. O homem, um brutamontes careca, afirma que possui três graduações. Vale mais do que os “analfabetos funcionais” que dão a sua vida lutando contra a peste. A perua com botox diz que as enfermeiras não tomam banho, não cheiram a perfume francês. Seu partido é o Brasil.
Quem será o narrador desta obra de mau gosto, sem sutileza ou alegoria?
Nunca antes na história deste país apareceu com tanta nitidez, ao vivo e a cores, e com o espalhafato de programa de auditório, a crueldade das classes dominantes. Já não há mais desfaçatez. É como se o país tivesse se transformado no avesso da utopia de Darcy.
Nosso maior pensador utópico morreu acreditando numa civilização original, neolatina e mestiça, a florescer no nosso território. Havia “apenas” um empecilho: a nossa classe dominante, mesquinha e medíocre [6]. Pois o homem brasileiro da classe dominante é o resultado de um profundo processo de degradação do caráter. “Ele está enfermo de desigualdade” [7]. Darcy, que bom que você não está mais aqui!
No livro de Camus, a peste vai embora sem motivo aparente. Não sabemos se por conta das brigadas, da vacina ou ainda porque a peste tem suas leis, insondáveis aos humanos. Na obra de ficção em que vivemos, encenada por infectados, de cujo autor não sabemos o paradeiro, será diferente. Ou lutamos contra a peste ou ela nos infectará a todos. A ciência política, a economia e a psicanálise não podem mais do que a lição ensinada pelo professor do primário: dois e dois são sempre quatro. Não buscamos um final feliz. É hora de lutar contra a peste. Simples assim. Quando organizaremos nossas brigadas?
Por trás do palco em que contracenam o descalabro do poder assassino e a megalomania da grande imprensa, os brigadistas lutam nos bastidores contra a peste, não por heroísmo, mas porque é importante estar do lado certo, porque não há nada mais a fazer. Cabe aos que restam, lutando até o fim, mostrar o avesso deste enredo absurdo e pestilento.
*Alexandre de Freitas Barbosa é professor e pesquisador do IEB-USP e autor do livro Formação do Mercado de Trabalho (Alameda).
Publicado originalmente no site Opera Mundi.
Notas
[1] Albert Camus. La peste. Paris, Gallimard, p. 279 (https://amzn.to/3E0mDxK).
[2] ONFRAY, Michel. L’ordre libertaire: la vie philosophique de Albert Camus. Paris: Flammarion, p. 243-246 (https://amzn.to/3KMbJzE).
[3] ONFRAY, 2012, p. 207. Essa parte do artigo foi escrita tomando por base a obra deste autor. [4] [4] NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, 10-11, 32-33, 97. Nietzsche combatia o “martírio” do filósofo em nome da “moral” e da “verdade”, uma forma velada de se impor por meio de “avaliações-de-fachada” e de “máximas-de-rebanho”. O filósofo alemão recupera o poder dos impulsos (desejos e paixões) e do “mundo aparente” como base da vontade. Onfray (2012, p. 67-70) descreve Camus como o “Nietzsche do século XX” (https://amzn.to/3KHTlYj).
[5] ARONSON, Ronald. Camus e Sartre: o polêmico fim de uma amizade no pós-guerra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007, 66,67, 79- 80, 83 (https://amzn.to/3QEtbd0).
[6] RIBEIRO, Darcy. “Brasil – Brasis”, in: Utopia Brasil. São Paulo: Hedra, 2008, p. 36 (https://amzn.to/3QLfOrE).
[7] RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 216-217 (https://amzn.to/3KM8nMM).